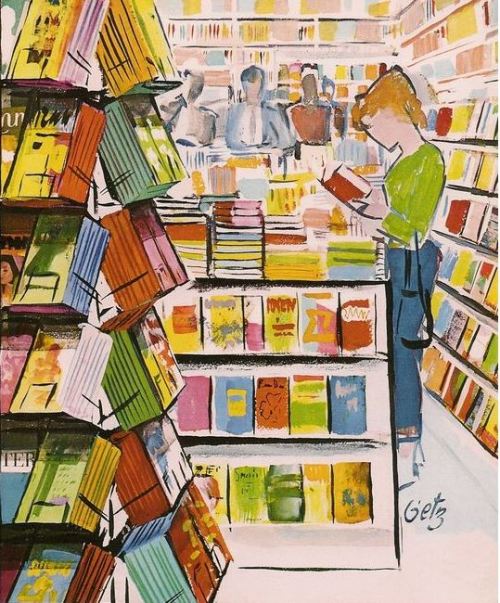Sempre houve livros mais fáceis do que outros. Mesmo dentro de uma mesma coleção como a Bíblia, é mais fácil explicar a metáfora do salmo “O senhor é meu pastor” do que o prólogo joanino: “No princípio era o Verbo”. A leitura de Alexandre Herculano emperra mais do que a de Machado de Assis. Tamanho das frases e vocabulário explicam a diferença. Por vezes, é a erudição do autor; em outras, a complexidade da narrativa.
Guimarães Rosa usa um vocabulário único e reinventa a língua, dificultando a leitura para alguns. James Joyce dificulta para todos. Finnegans Wake foi um dos raros textos que abandonei pela metade. Ainda não tenho maturidade para entender a mente do irlandês. Não decifrei essa obra de Joyce e, confesso, tenho um pouco de medo de quem consiga fazê-lo. Joyce parece cumprir aquela velha piada: quando Hegel começou a escrever sua obra, só ele e Deus sabiam o que ele queria dizer; ao final, só ele...
O elenco das peças de Shakespeare é um desafio para o leitor. Há muitos nomes, especialmente nos dramas históricos. Apesar da clareza exemplar de linguagem, Tomás de Aquino assusta pelo volume.
 |
| Quint Buchholz |
Outro exemplo de muro íngreme a escalar? O texto de Lacan apresenta palavras em letra maiúscula que são inteiramente diferentes do que podem parecer: Outro, Mesmo... Você precisa ser íntimo das bisbilhotices dos partidos guelfos/gibelinos/negros/brancos em Florença para atravessar o mata-burro da entrada do latifúndio de Dante Alighieri na Divina Comédia. A genealogia pouco criativa de Macondo é um dique para o fluxo do leitor de Cem Anos de Solidão: todos os nomes se repetem em todas as gerações. Não sabe se é o ditador Francia ou seu secretário que está falando? Perca-se em meio à sintaxe quase guarani da obra de Roa Bastos: Eu, o Supremo.
Tamanho, vocabulário, ideias, erudição, metáforas herméticas: tudo pode ser um obstáculo no enfrentamento de um clássico. Em oposição, um best-seller asfalta nosso caminho e o povoa de árvores e bancos para que o leitor não se canse na jornada. Palavras simples, enredo rápido e cheio de mudanças vibrantes, mistérios que se resolvem ao longo da obra e um doce canto da sereia da facilidade que deseja atrair nossa atenção. O livro comum quer nosso interesse e anela cativar. O clássico diz que esteve bem nos últimos 300 anos sem você e passará bem os próximos mil após sua morte. O best-seller grita: preciso do seu ibope! O clássico sussurra num muxoxo blasé: não tenho a menor necessidade da sua consideração.
Há dúvidas plausíveis na escolha. Por que pegar a estrada menos asfaltada e ser fustigado por um sol inclemente? Por que escolher a dificuldade em detrimento da facilidade? Quem escalaria a íngreme palmeira atrás do coco duro se dispusesse do mesmo coco já perfurado, gelado e com canudinho e servido à mesa? Que patologia move o leitor de obras difíceis? A resposta é complexa.
Se você se inscrever numa academia de musculação, verá que há pesos de poucos gramas. Fazer exercícios com eles pode provocar, em última instância, apenas tédio. O peso leve não oferece resistência. Sem obstáculo, o músculo não cresce. Sem trauma, a fibra não se transforma. Não suamos, não crescemos, não saímos da nossa zona de conforto. O mesmo ocorrerá se você decidir andar na esteira a um quilômetro por hora. O benefício será menor do que um passo mais decidido. Crescimento deriva do desafio.
A dificuldade da grande obra é seu mérito. Meu vocabulário cresce, minha mente se expande, minha musculatura intelectual se fortalece diante do esforço. O custo? Todo o cérebro range ao peso das ideias, como uma carroça sobrecarregada. As rodas afundam no solo, os bois resistem, o arcabouço estala e o avanço é lento. Ao final, as uvas da obra foram esmagadas por nossos pés cansados e do lagar flui um novo vinho complexo e capitoso.
Um best-seller pode ser muito bom. Já li dezenas. São obras bem construídas. Distraem e servem bem para momentos nos quais seria difícil a concentração extrema. Há dias de vinhos complexos e há dias de refrigerantes. Ao final da leitura da obra fácil, você está algumas horas mais próximo da morte. Best-seller tem função de opiáceo: relaxa, induz à tranquilidade, adormece.
A obra clássica é multifacetada. Muda nosso lugar no mundo. Ela desafia nossos limites e revira as ideias. O que você realmente sabia sobre desejo e fome até ler Um Artista da Fome de Kafka? Não há nenhuma palavra nova no conto. A narrativa é linear e até fácil. Mas, as ideias... o final surpreendente. Ir além seria spoiler...
A obra clássica bem lida tem de ser digerida. Pessoas com certezas absolutas nunca parecem ter se aprofundado em Dostoievski. Quando alguém me afirma que o mundo anda meio perdido, eu me indago se ele varou noites na Comédia Humana de Balzac. Se me dizem que estamos perdendo nossa identidade ocidental, eu suponho que não tenha entendido Coração das Trevas, de J. Conrad. Confundindo afetos, gênero e moral? Já leu a Ilíada de Homero ou Bom-Crioulo de Adolfo Caminha? Terá captado as sutilezas entre Davi e Jônatas? A boa leitura impede que você suponha que nossos dias são extraordinariamente novos. Você ousaria saber?