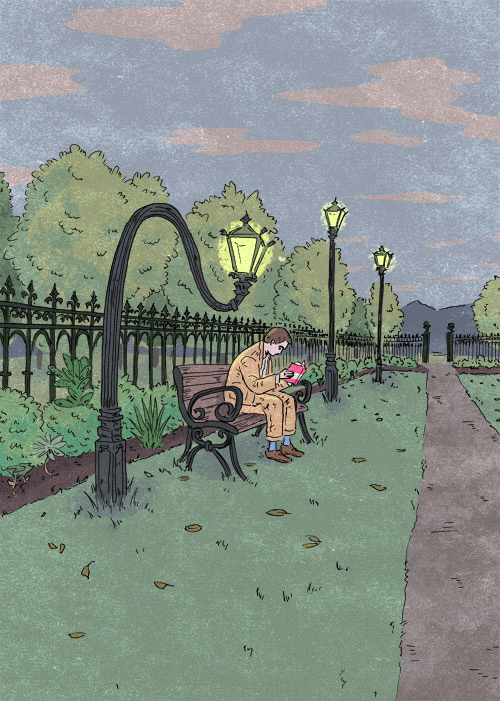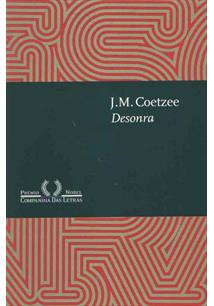|
| Erin Taylor |
domingo, julho 31
110 anos de um cronista da Eternidade
Era como Mario Quintana nomeava a poesia: crônica da Eternidade, loucura lúcida, pedra no abismo, água de beber da concha da mão, pomo da árvore da sabedoria. Ele sabia. Ele, que era leitor de entrelinhas, aprendiz de feiticeiro, corujo colorido com alma de vira-lua, pinta-mundos, operário da escrita trabalhando a café e fumo, farejando a vocação fantasmal da letra h, a personalidade de palavras como cântaro, bem-vinda num poema, abscôndito, palavra de espantar quem lê, quincúncio, palavra de não se saber para quê.
Poeta de quintanares e filosofanças, chamava ao crítico literário piolho de andorinha. Combatendo cabotinismos, era a favor dos soldados desconhecidos da poesia. Tinha horror a declamadoras e escolas poéticas. Tirava bons motivos de riso dos concretistas. Instado a explicar um poema, respondia perguntando o que será que Deus quis dizer com este mundo. Não gostava de adaptações de romances em histórias em quadrinhos, não gostava de rock. Gostava era de grilos na madrugada, de cigarras, de um realejo de outono, da flauta de um anjo no telhado, e dos sons que vêm de longe, sinos, passos, uma chaleira chiando, risadas de criança depois da aula, escada abaixo.
Íntimo de histórias bíblicas, da Torre de Babel, da vida de Caim, da Arca da Aliança, do Apocalipse, Quintana fez desfilar por seus poemas uma multidão de anjos: anjos da guarda, gloriosos, molhados, depenados, boêmios, dentuços, rechonchudos, anjos de pedra, anjos sonâmbulos galgando degraus, atravessando espelhos, o Anjo Rebelado, o Anjo das Tempestades, o Anjo da Encarnação, o Anjo das Últimas Queixas.
Ele sabia que o que não estava na Bíblia estava em Shakespeare. Que aos olhos de Deus cada ser tem o tamanho de um universo. Que não existem poetas pequenos ou grandes, que cada poeta é o único rei do país de si mesmo. Que o refinamento da simplicidade só vem com o tempo e numa poesia feita de relógios sem ponteiros. Que todos nós temos todas as nossas idades ao mesmo tempo.
A flor da memória se abrindo, lá ia o poeta soletrando seus afetos femininos, as mulheres e os bichos dos bosques de Marie Laurencin, o sorriso de Greta Garbo, meninas andando com ar de antílopes, Gabriela, Lili. O poeta e seus prazeres diletos, o de misturar o acontecido e o imaginado, lembranças de tia Tula, tia Élida, tio Libório, e o prazer de fazer barcos de vento para navegar entre nuvens, o prazer de inventar epígrafes, diálogos, epitáfios, trovas, haicais, versos avulsos, trechos de cartas e diários, versículos bíblicos inéditos, sonetos à maneira de Dirceu ou Antônio Nobre. Sempre cantando, cantando os extramundos, as asas de Nice de Samotrácia, gostando do que roda e faz rodar: cantiga, catavento, chope, carruagem, ciranda, pião.
Devoto de São Jorge, do cavalo e do dragão, o caçula espionado da família, adolescente de internato que nas noites de sábado lia os russos e os simbolistas franceses, Quintana nunca esqueceu a impressão que Camões lhe causou, ainda na infância, com o episódio do Gigante Adamastor, do qual levou depois para sua poesia aquele verso temível tantas vezes repetido: “que o menor mal de todos seja a morte”. Tradutor de Proust, Balzac, Voltaire, Simenon, Maupassant, Verlaine, protestava contra a retirada da língua francesa do currículo escolar. Em matéria de humor, tinha a elegância de um La Rochefoucauld. De quando em quando nostálgico, lamentava o fim dos bondes amarelos, dos carrosséis, das tias solteironas, das cadeiras na calçada e dos milagres arcanos tão mais simples que os mil e um recursos da técnica. Camarada dos ventos e do poema como translúcida ponte entre mundos, antevia o dia em que, pifando todas as tralhas do mundo cibernético, os que sobrevivessem só entenderiam os poetas que falassem de amor.
E ele pintava. Sobretudo azuis e verdes: o azul das torres para suicidas, o verde da ramaria, o azul de um bandolim de abril, o verde de um veneno, o azul de uma anêmona, o verde de um sapo de origami, o azul de uma flor de miosótis, o verde das venezianas. Luzes, Quintana pintava luzes: corredores enluarados, lampiões de esquina, vagalumes e o brilho do olhar da primeira namorada. E vultos, pintava vultos nos antigos retratos pendurados nas paredes, nas assombrações de si mesmo em cada casa habitada, em sótãos e porões.

Cores frias, luzes noctâmbulas, espectros e também pequenas tristezas e solidões ele pintava: a tristeza de uns charcos, a solidão de um coreto deserto, a tristeza de um trenzinho de faz-de-conta emborcado no chão, interrompido em sua fantasia de criança, a solidão de uma pedra solta numa rua de Calcutá, a tristeza do poeta que compõe um soneto para um menininho doente que nem sabe que esse poeta existe, a solidão do velho Tolstoi sentado para morrer num banco da gare de Astapovo.
No mundo dos mistérios naturais, que é este mesmo mundo de aqui e agora, a eternidade se faz num presente sem fim de momentos-tigres incapturáveis. É aí que Mario Quintana vive com Erico Verissimo, Cecília Meireles, Augusto Meyer, esses amigos de sempre, no mais que real – ainda que vago – País de Trebizonda, todos a conversar no esperanto da poesia, entre os Loucos, os Mortos e as Crianças.
Mariana Ianelli
Poeta de quintanares e filosofanças, chamava ao crítico literário piolho de andorinha. Combatendo cabotinismos, era a favor dos soldados desconhecidos da poesia. Tinha horror a declamadoras e escolas poéticas. Tirava bons motivos de riso dos concretistas. Instado a explicar um poema, respondia perguntando o que será que Deus quis dizer com este mundo. Não gostava de adaptações de romances em histórias em quadrinhos, não gostava de rock. Gostava era de grilos na madrugada, de cigarras, de um realejo de outono, da flauta de um anjo no telhado, e dos sons que vêm de longe, sinos, passos, uma chaleira chiando, risadas de criança depois da aula, escada abaixo.
Íntimo de histórias bíblicas, da Torre de Babel, da vida de Caim, da Arca da Aliança, do Apocalipse, Quintana fez desfilar por seus poemas uma multidão de anjos: anjos da guarda, gloriosos, molhados, depenados, boêmios, dentuços, rechonchudos, anjos de pedra, anjos sonâmbulos galgando degraus, atravessando espelhos, o Anjo Rebelado, o Anjo das Tempestades, o Anjo da Encarnação, o Anjo das Últimas Queixas.
Ele sabia que o que não estava na Bíblia estava em Shakespeare. Que aos olhos de Deus cada ser tem o tamanho de um universo. Que não existem poetas pequenos ou grandes, que cada poeta é o único rei do país de si mesmo. Que o refinamento da simplicidade só vem com o tempo e numa poesia feita de relógios sem ponteiros. Que todos nós temos todas as nossas idades ao mesmo tempo.
A flor da memória se abrindo, lá ia o poeta soletrando seus afetos femininos, as mulheres e os bichos dos bosques de Marie Laurencin, o sorriso de Greta Garbo, meninas andando com ar de antílopes, Gabriela, Lili. O poeta e seus prazeres diletos, o de misturar o acontecido e o imaginado, lembranças de tia Tula, tia Élida, tio Libório, e o prazer de fazer barcos de vento para navegar entre nuvens, o prazer de inventar epígrafes, diálogos, epitáfios, trovas, haicais, versos avulsos, trechos de cartas e diários, versículos bíblicos inéditos, sonetos à maneira de Dirceu ou Antônio Nobre. Sempre cantando, cantando os extramundos, as asas de Nice de Samotrácia, gostando do que roda e faz rodar: cantiga, catavento, chope, carruagem, ciranda, pião.
Devoto de São Jorge, do cavalo e do dragão, o caçula espionado da família, adolescente de internato que nas noites de sábado lia os russos e os simbolistas franceses, Quintana nunca esqueceu a impressão que Camões lhe causou, ainda na infância, com o episódio do Gigante Adamastor, do qual levou depois para sua poesia aquele verso temível tantas vezes repetido: “que o menor mal de todos seja a morte”. Tradutor de Proust, Balzac, Voltaire, Simenon, Maupassant, Verlaine, protestava contra a retirada da língua francesa do currículo escolar. Em matéria de humor, tinha a elegância de um La Rochefoucauld. De quando em quando nostálgico, lamentava o fim dos bondes amarelos, dos carrosséis, das tias solteironas, das cadeiras na calçada e dos milagres arcanos tão mais simples que os mil e um recursos da técnica. Camarada dos ventos e do poema como translúcida ponte entre mundos, antevia o dia em que, pifando todas as tralhas do mundo cibernético, os que sobrevivessem só entenderiam os poetas que falassem de amor.
E ele pintava. Sobretudo azuis e verdes: o azul das torres para suicidas, o verde da ramaria, o azul de um bandolim de abril, o verde de um veneno, o azul de uma anêmona, o verde de um sapo de origami, o azul de uma flor de miosótis, o verde das venezianas. Luzes, Quintana pintava luzes: corredores enluarados, lampiões de esquina, vagalumes e o brilho do olhar da primeira namorada. E vultos, pintava vultos nos antigos retratos pendurados nas paredes, nas assombrações de si mesmo em cada casa habitada, em sótãos e porões.

No mundo dos mistérios naturais, que é este mesmo mundo de aqui e agora, a eternidade se faz num presente sem fim de momentos-tigres incapturáveis. É aí que Mario Quintana vive com Erico Verissimo, Cecília Meireles, Augusto Meyer, esses amigos de sempre, no mais que real – ainda que vago – País de Trebizonda, todos a conversar no esperanto da poesia, entre os Loucos, os Mortos e as Crianças.
Mariana Ianelli
Trova
Na biblioteca há mil sábios
a nosso inteiro dispor.
- Sem sequer mover os lábios,
cada livro é um professor.A. A. de Assis
A literatura brasileira muito além do futebol e do samba
Em meados de julho, todo ano, a linda cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, abriga o festival literário mais importante do Brasil. Os casarões de mais de 300 anos da época do comércio do ouro e as ruas de traçado colonial, calçadas de pedras quase assassinas para os tornozelos dos transeuntes, se transformam em uma espécie de radiografia não de todo infiel do panorama do livro brasileiro. É o melhor lugar para tentar descobrir para onde vai a literatura brasileira —se é que vai para algum lugar. Também para saber se os romances e ensaios de hoje ou de depois de amanhã refletem ou refletirão o convulso e depressivo estado que atravessa o país: às portas dos Jogos Olímpicos, com uma presidenta, Dilma Rousseff, afastada de seu cargo por um processo ainda em andamento de impeachment e semi-exilada em seu próprio palácio residencial, e outro presidente em exercício, Michel Temer, à espera de tomar as rédeas do poder de forma definitiva em um mês. Quando a história entra pela porta, a literatura se joga pela janela?
Rodrigo Lacerda (Rio de Janeiro, 1969), editor, historiador e escritor, é um dos romancistas que passeiam por Paraty. É autor, entre outros, de um romance celebrado, Outra vida, no qual relata o desmoronamento de um casamento enquanto espera um ônibus que vai levá-los para fora de São Paulo. Lacerda afirma que o chacoalhada político e social do Brasil “é muito recente para que já apareça nos romances”. Mas acrescenta: “Apesar disso, hoje há um interesse pelos tempos da ditadura, e isso sim se pode aproximar do tema da crise que estamos vivendo, como se se sobrepusessem”. E acrescenta: “Nesta nova queda de autoestima que agora estamos sofrendo, os dois temas se unem na sensação de que estivemos perto de chegar lá, mas que o chão voltou a se abrir e caímos de novo no inferno. O trem passou. Temos que esperar outro. Não tem jeito”.
O escritor acrescenta então outra característica da atual literatura brasileira: “Há alguns anos, uma especialista elaborou um censo dos personagens de ficção e 90% eram homens, universitários, que moravam em grandes cidades (Rio de Janeiro e mais ainda São Paulo) e que tinham problemas típicos dessa classe social. Ou seja: escrevemos sobre nós mesmos”.
Isso é especialmente cruel em um país tão diverso social, racial, geográfica e até climaticamente como o Brasil: uma geografia cruzada de mundos e até de épocas diferentes que se justapõe e se retroalimenta em um território mágico. A vida de um professor da Universidade de São Paulo não tem absolutamente nada a ver com a de um trabalhador sem terra do estado do Maranhão, nem a deste com a de um índio de um dos mil rios amazônicos ou com a de um boiadeiro do Sul ou do Oeste do país.
Luiz Ruffato, de 55 anos, escritor e articulista na imprensa, autor, entre outros, de Eles eram muito cavalos, um romance experimental que descreve, em capítulos curtos e eletrizantes, a vida na interminável São Paulo, tem uma explicação triste: “A ficção atual brasileira reflete os problemas, a vida e as preocupações da classe social que teve acesso aos estudos no Brasil. Cada um escreve sobre sua aldeia, sua cidade, seu entorno, e com isso tenta ser universal. Mas no Brasil, no entanto, não há escritores vindos de outro mundo além do nosso e isso diz muito sobre a desigualdade que impera do país”.
LIVROS, LEITORES E ANALFABETOS
-Habitantes do Brasil: 205 milhões.
-Índice de analfabetismo: o Brasil é o oitavo país do mundo com mais analfabetos (cerca de 14 milhões, segundo dados da Unesco de 2014). 38% dos analfabetos latino-americanos são brasileiros.
-Número de títulos editados: 60.829 em 2014 e 52.427 em 2015 (uma redução de 13,81%).
-Tiragem média: 4.500 cópias para uma tiragem média inicial a nível nacional.
-Porcentagem de traduções de línguas estrangeiras: 4.781 títulos traduzidos; 47.646 nacionais (9,11% do total em 2015).
-Número de editoras: Mais de 750 segundo o último estudo da Câmara Brasileira do Livro.
-Número de livrarias: 3.095, uma por cada 64.954 habitantes em 2014 (a Unesco recomenda 1 pela cada 10.000). 55% estão no Sudeste, 19% no Sul, 16% no Nordeste, 6% no Centro-Oeste e 4% no Norte.
-Número de bibliotecas públicas: 6.949 espalhadas nos 26 Estados e no Distrito Federal.
-Títulos mais vendidos em 2015: Ficção: Cinquenta Tons de Cinza , de E. L. James (174.796 cópias). Não ficção: Jardim secreto, de Johanna Basford (719.626 cópias).
-Índice de analfabetismo: o Brasil é o oitavo país do mundo com mais analfabetos (cerca de 14 milhões, segundo dados da Unesco de 2014). 38% dos analfabetos latino-americanos são brasileiros.
-Número de títulos editados: 60.829 em 2014 e 52.427 em 2015 (uma redução de 13,81%).
-Tiragem média: 4.500 cópias para uma tiragem média inicial a nível nacional.
-Porcentagem de traduções de línguas estrangeiras: 4.781 títulos traduzidos; 47.646 nacionais (9,11% do total em 2015).
-Número de editoras: Mais de 750 segundo o último estudo da Câmara Brasileira do Livro.
-Número de livrarias: 3.095, uma por cada 64.954 habitantes em 2014 (a Unesco recomenda 1 pela cada 10.000). 55% estão no Sudeste, 19% no Sul, 16% no Nordeste, 6% no Centro-Oeste e 4% no Norte.
-Número de bibliotecas públicas: 6.949 espalhadas nos 26 Estados e no Distrito Federal.
-Títulos mais vendidos em 2015: Ficção: Cinquenta Tons de Cinza , de E. L. James (174.796 cópias). Não ficção: Jardim secreto, de Johanna Basford (719.626 cópias).
sábado, julho 30
Há viagens e viagens
 | |
Susan Brabeau
|
"Quase ninguém é indiferente ao apelo à viagem. E quase toda a gente inveja Ulisses, que, se não fez, exactamente, uma boa viagem, como canta Du Bellay, perpetrou, pelo menos, uma longuíssima e acidentada odisseia de retorno.Heureux qui comme Ulysse, a fait un bom voyage.Du Bellay
Há gostos para tudo. Du Bellay invejava Ulisses. Gide torcia o nariz à odisseia do grego, porque, no fim da viagem, esperava-o Penépole, que, para sempre, o iria amarrar ao lar. Exaltava, em contrapartida, Sindbad, o das Mil e Uma Noites, por ser livre como um passarinho: no fim da viagem, esperava-o, não uma amarra, mas uma nova viagem. Para Gide, também, uma viagem era apenas o prefácio à viagem seguinte, em contraste com a de Ulisses, que não passou de uma obrigatória navegação de regresso. Gide tinha igualmente um lar à espera, em Cuverville, mas fazia de conta que não dava por isso, e traiu, tanto quanto pôde – e sem complacências – a sua fiel Penélope que, para o caso, se chamava Madeleine. O que ele queria, está-se a ver, era copiar, com “gusto” e mesmo frenesi, o fluir libérrimo do marinheiro Sindbad.
Viajar tem boa e tem má imprensa. Há quem elogie, há quem diga mal e há quem, simplesmente, se aborreça. O actor e escritor Al Boliska propôs uma definição célebre que hoje anda citada por todo o lado: “Viajar de avião”, disse ele, “são horas de tédio interrompidas por puro terror.” Ainda assim, Boliska só critica o viajar de avião, não todo o viajar. Mas há quem demita qualquer espécie de viagem. O conhecido romancista Paul Theroux, com obra assinalável transposta para o cinema, observava que “viajar só é glamoroso em retrospecto”, isto é, só funciona depois de terminada a viagem, ao contá-la, ao serão, aos amigos. William Trevor dizia o mesmo, de outra maneira: “Ele só viajava para poder voltar para casa”, isto é, o melhor da viagem era o regresso. Nem Ulisses foi tão longe: suspeito que gostou mais da ida do que da volta…
De entre os demolidores do mito da viagem, citarei o talvez mais antigo (será?): Sócrates, que disse, imaginem, esta barbaridade: “Vê um promontório, uma montanha, um mar, um rio e viste tudo.” Como se não houvesse rios e rios, promontórios e promontórios, cidades e cidades! Quem pode ser de opinião que o Amazonas é o mesmo que qualquer pífio afluente de um rio de trazer por casa… Quem pode afirmar que ver Leiria é o mesmo que ver Paris ou Veneza! Ou como se Florença fosse o mesmo que Alguidares de Baixo! Ou como se o Iguaçu não diferisse grande coisa das pindéricas “cascatas” da Namaacha, da minha saudosa infância africana!
Claro que é preciso saber viajar, saber ver e, sobretudo, gostar de ver. Viajar por viajar é inútil e fica caro. Como dizia o outro, não vale a pena dar a volta ao mundo só para contar o número de gatos que há em Zanzibar.(…)
Viajar – o convite à viagem! Há quem proteste em termos paradoxais: “É pena”, dizia Chesterton, “as pessoas viajarem por países estrangeiros; estreita-lhes de tal maneira o espírito.” Sterne, no seu imenso Tristram Shandy, não vai tão longe, mas faz uma recomendação: “Um homem deve também conhecer alguma coisa do seu próprio país, antes de ir para o estrangeiro.”(...)
“Viajar é quase como falar com homens de outros séculos”, dizia Descartes. (...)”
Eugénio Lisboa
Biblioteca que nunca dorme
Story Pod, projetado pelo estúdio de arquitetura AKB, é uma biblioteca urbana pensada para diminuir o ritmo frenético de trabalho e relaxar. Situada na cidade canadense de Toronto, à noite é uma construção em forma de “caixa”, mas de dia esta “caixa” abre-se para usufruto das pessoas que queiram desfrutar do prazer de ler. É um lugar vivo, até porque quem quiser pode levar ou deixar livros.

sexta-feira, julho 29
Assim começa o livro...
Na cozinha, ele serviu mais um drinque e olhou para a mobília do quarto, no jardim da frente. O colchão estava nu e os lençóis, com listras coloridas, arrumados ao lado de dois travesseiros sobre a cômoda. A não ser por isso, as coisas tinham a mesma cara de quando estavam dentro do quarto - a mesinha e a luminária de leitura do seu lado da cama, a mesinha e a luminária de leitura do lado dela da cama. O lado dele, o lado dela. Ele ficou pensando nisso, enquanto bebia devagar o seu uísque. A cômoda estava a pouca distância do pé da cama. Ele havia esvaziado as gavetas e guardado tudo em caixas de papelão naquela manhã, e as caixas estavam na sala. Um aquecedor portátil se encontrava do lado da cômoda. Uma cadeira de vime, com uma almofada decorativa, estava junto ao pé da cama. O material de cozinha, de alumínio amarelado, ocupava uma parte da entrada para a garagem. Uma toalha de musselina amarela, grande demais, um presente, cobria a mesa e pendia dos lados até embaixo. Um vaso com uma samambaia estava sobre a mesa, junto com uma caixa de talheres, também um presente. Um televisor de modelo grande estava em cima de uma mesinha de café e, a alguns metros disso, um sofá, uma cadeira e uma luminária de chão. Ele tinha puxado uma extensão da casa e tudo estava ligado, as coisas funcionavam. A escrivaninha foi arrastada até a porta da garagem. Alguns utensílios estavam sobre a escrivaninha, junto com um relógio de parede e duas gravuras emolduradas. Na entrada para a garagem havia também uma caixa com xícaras, copos e pratos, todos embrulhados um a um em jornal. Naquela manhã, ele tinha esvaziado os armários e, a não ser pelas três caixas na sala, tudo estava do lado de fora. De vez em quando, um carro diminuía a velocidade e as pessoas observavam. Mas ninguém parava. E ele pensou que também não pararia.
"Deve ser uma venda feita no jardim, puxa vida", disse a garota para o rapaz.
Aquela garota e o rapaz estavam mobiliando um apartamento pequeno.
"Vamos ver quanto querem pela cama", disse a garota.
"Eu queria saber quanto estão cobrando pela tevê", disse o rapaz.
Entraram com o carro no jardim e pararam na frente da mesa de cozinha.
Saíram do carro e começaram a examinar os objetos. A garota tocou na toalha de musselina. O rapaz ligou a tomada da batedeira e girou o botão para a posição moer. Ela pegou um braseiro. Ele ligou o botão do televisor e fez uns ajustes cuidadosos. Sentou-se no sofá para ver. Acendeu um cigarro, olhou em redor e jogou o fósforo na grama. A garota sentou-se na cama. Tirou os sapatos e se deitou. Podia ver Vênus no céu.
"Deve ser uma venda feita no jardim, puxa vida", disse a garota para o rapaz.
Aquela garota e o rapaz estavam mobiliando um apartamento pequeno.
"Vamos ver quanto querem pela cama", disse a garota.
"Eu queria saber quanto estão cobrando pela tevê", disse o rapaz.
Entraram com o carro no jardim e pararam na frente da mesa de cozinha.
Saíram do carro e começaram a examinar os objetos. A garota tocou na toalha de musselina. O rapaz ligou a tomada da batedeira e girou o botão para a posição moer. Ela pegou um braseiro. Ele ligou o botão do televisor e fez uns ajustes cuidadosos. Sentou-se no sofá para ver. Acendeu um cigarro, olhou em redor e jogou o fósforo na grama. A garota sentou-se na cama. Tirou os sapatos e se deitou. Podia ver Vênus no céu.
No início do ano...
 |
| Josef Loukota |
No início do ano, uma donzela do Oriente diz ao seu amado esposo:
– Não caminhes em direcção ao Leste. Se o fizeres encontrarás a morte.
Mas o amado nada ouviu, pois, nesse momento, pensava numa outra mulher, numa mulher mais jovem, mais bela, mais inteligente.
Seguiu assim o homem em direcção a leste – e não morreu. Pelo contrário, foi recebido em casa pela tal amante mais jovem, mais bela, mais inteligente.
Na manhã seguinte, ao levantar-se, a amante disse-lhe:
– Não caminhes em direcção ao Oeste. Se o fizeres encontrarás a morte.
Mas o homem nada ouviu, pois, nesse momento, pensava na sua esposa legítima que o esperava.
Seguiu assim o homem em direcção a oeste – e não morreu. Pelo contrário, foi recebido em casa, com alegria e calor, pela sua esposa.
Na manhã seguinte, ao levantar-se, ouviu da sua amada esposa, uma donzela do Oriente:
– Não caminhes em direcção ao Leste. Se o fizeres encontrarás a morte.
Mas o amado nada ouviu, pois, nesse momento, pensava numa outra mulher, numa mulher mais jovem, mais bela, mais inteligente.
Seguiu assim o homem em direcção a leste e depois a oeste e depois a leste e assim sucessivamente, dias e dias, meses e meses, anos e anos – e não morreu.
A morte surgiu apenas quando o homem já velho e sem forças ficou incapaz de se mover – quer para leste quer para oeste.
Gonçalo M. Tavares
quinta-feira, julho 28
Nunca mais os livros fizeram tantos quilômetros
“O mundo não seria maravilhoso se as bibliotecas fossem mais importantes do que os bancos?” é a frase de uma das personagens da série de banda desenhada “Mafalda”. Felipe, apaixonado e esperançoso, o garoto que por vezes acredita que os sonhos são realidade. Mais ou menos o que passava pela ideia de quem criou um dos mais acarinhados projetos da história da Fundação Calouste Gulbenkian, as bibliotecas itinerantes. O programa foi extinto em 2002 mas agora que a Fundação cumpre 60 anos, tentámos saber mais: o que aconteceu às bibliotecas e porque não regressam?
Começaram como qualquer outra iniciativa, com a ambição de mudar algo — neste caso, a vontade maior era a de promover a leitura pública e a cultura em Portugal. Num país onde a taxa de analfabetismo era alta e o Estado Novo reprimia o que era escutado e lido, 1958 tornou-se o ano em que as bibliotecas iam começar a percorrer o país. Sem que as “fronteiras” ou as más condições do alcatrão fossem um entrave.
A ideia surgiu com o escritor Branquinho da Fonseca, que depois de adaptar uma carrinha para a distribuição de livros em Cascais, decidiu formalizar a iniciativa com a Fundação Calouste Gulbenkian. A proposta foi feita a José de Azeredo Perdigão, primeiro presidente da instituição, que aceitou de bom de grado e moveu esforços para que as bibliotecas itinerantes correspondessem às expectativas.
“Em maio de 1958, trabalhavam 15 bibliotecas itinerantes por todo o país. Mais tarde, em dezembro de 1959, havia 81 340 leitores espalhados por 118 concelhos”, esclarece Maria Helena Borges, diretora-adjunta do Programa Gulbenkian Língua e Cultura Portuguesas.
Desde Trás-os-Montes até ao arquipélago dos Açores, o projeto pretendia colocar os livros em pé de igualdade com as pessoas: aproximar uns dos outros, sem medos ou ideias preconcebidas. No fundo, demonstrar que tanto o agricultor, o aluno de uma escola primária ou o empresário podiam percorrer livremente os livros de uma carrinha Citroen HY. “O princípio era o de as pessoas terem livre acesso às estantes”, afirma a diretora-adjunta. “Nas bibliotecas itinerantes, os leitores encontravam não só os livros mas também a ajuda de um encarregado”, tudo para poderem tomar as melhores decisões na hora de requisitar os livros e descobrir pequenas curiosidades literárias.
Maria Helena Borges teve um percurso curto no projeto: substituiu Vasco Graça Moura, quando o escritor foi eleito para deputado no Parlamento Europeu e teve de abandonar o cargo de responsável pela biblioteca. No entanto, o tempo foi suficiente para ainda hoje lhe dizerem o quanto as bibliotecas deixaram saudade. “Onde quer que se vá, há sempre alguém que já foi leitor das bibliotecas itinerantes e que começou a ler com o projeto”, diz-nos.
“Em maio de 1958, trabalhavam 15 bibliotecas itinerantes por todo o país. Mais tarde, em dezembro de 1959, havia 81 340 leitores espalhados por 118 concelhos”, esclarece Maria Helena Borges, diretora-adjunta do Programa Gulbenkian Língua e Cultura Portuguesas.
Além dos leitores e dos funcionários, vários nomes da cultura portuguesa foram elementos importantes no programa especial da Calouste Gulbenkian. Os então jovens poetas, Herberto Hélder e Alexandre O’Neill, trabalharam com as bibliotecas itinerantes, como encarregados, orientando as leituras e as escolhas quando as dúvidas dos leitores eram mais que muitas. Hoje “fazem parte da História de um dos projetos mais icónicos da Fundação”, diz Maria Helena Borges. São nomes que não passam pelos pingos da chuva dos arquivos da Gulbenkian e que reforçavam a importância de ter pessoas especializadas a trabalhar.
A ideia surgiu com o escritor Branquinho da Fonseca, que depois de adaptar uma carrinha para a distribuição de livros em Cascais, decidiu formalizar a iniciativa com a Fundação Calouste Gulbenkian. A proposta foi feita a José de Azeredo Perdigão, primeiro presidente da instituição, que aceitou de bom de grado e moveu esforços para que as bibliotecas itinerantes correspondessem às expectativas.
“Em maio de 1958, trabalhavam 15 bibliotecas itinerantes por todo o país. Mais tarde, em dezembro de 1959, havia 81 340 leitores espalhados por 118 concelhos”, esclarece Maria Helena Borges, diretora-adjunta do Programa Gulbenkian Língua e Cultura Portuguesas.
Desde Trás-os-Montes até ao arquipélago dos Açores, o projeto pretendia colocar os livros em pé de igualdade com as pessoas: aproximar uns dos outros, sem medos ou ideias preconcebidas. No fundo, demonstrar que tanto o agricultor, o aluno de uma escola primária ou o empresário podiam percorrer livremente os livros de uma carrinha Citroen HY. “O princípio era o de as pessoas terem livre acesso às estantes”, afirma a diretora-adjunta. “Nas bibliotecas itinerantes, os leitores encontravam não só os livros mas também a ajuda de um encarregado”, tudo para poderem tomar as melhores decisões na hora de requisitar os livros e descobrir pequenas curiosidades literárias.
Maria Helena Borges teve um percurso curto no projeto: substituiu Vasco Graça Moura, quando o escritor foi eleito para deputado no Parlamento Europeu e teve de abandonar o cargo de responsável pela biblioteca. No entanto, o tempo foi suficiente para ainda hoje lhe dizerem o quanto as bibliotecas deixaram saudade. “Onde quer que se vá, há sempre alguém que já foi leitor das bibliotecas itinerantes e que começou a ler com o projeto”, diz-nos.
“Em maio de 1958, trabalhavam 15 bibliotecas itinerantes por todo o país. Mais tarde, em dezembro de 1959, havia 81 340 leitores espalhados por 118 concelhos”, esclarece Maria Helena Borges, diretora-adjunta do Programa Gulbenkian Língua e Cultura Portuguesas.
Além dos leitores e dos funcionários, vários nomes da cultura portuguesa foram elementos importantes no programa especial da Calouste Gulbenkian. Os então jovens poetas, Herberto Hélder e Alexandre O’Neill, trabalharam com as bibliotecas itinerantes, como encarregados, orientando as leituras e as escolhas quando as dúvidas dos leitores eram mais que muitas. Hoje “fazem parte da História de um dos projetos mais icónicos da Fundação”, diz Maria Helena Borges. São nomes que não passam pelos pingos da chuva dos arquivos da Gulbenkian e que reforçavam a importância de ter pessoas especializadas a trabalhar.
quarta-feira, julho 27
O bisbilhoteiro de bibliotecas

O primeiro livro que comprei na vida, nunca me esqueci. Era menino ainda quando entrei na Livraria Amadeu, na rua Tamoios, no centro de Belo Horizonte e sai de lá com aquele livrinho de 148 páginas, embrulhado num papel que parecia papel de pão. Voo Noturno, de Antoine de Saint-Exupéry, publicado pela Difusão Europeia do Livro, tinha uma capa azul e branca, meio modernista. Uma joia que despertou a minha atenção porque sonhava em ser aviador, antes de sonhar em ser piloto de Fórmula 1, logo eu que, tantos anos depois, sequer sei ligar um automóvel.
Com muito capricho, escrevi o meu nome na página 7, a do prefácio assinado por André Gide, e registrei: Livro número 001. Tinha certeza que, na minha vida, compraria muitos e muitos livros, uns cem. Era o meu sonho ter uma casa forrada de livros por todos os lados.
A minha, naquela época, não tinha muitos. No escritório do meu pai, ele guardava na estante, muitos compêndios técnicos sobre meteorologia, sua profissão, e algumas enciclopédias: O Tesouro da Juventude, o Mundo da Criança, a Delta Larousse e uma, com apenas dois volumes: Como Criar Meninos e Como Criar Meninas.
Um dia perguntei ao meu pai porque ele não comprava a Enciclopédia Britânica, aquela com a lombada gravada em ouro, meu sonho de consumo de menino. Ele disse que era muito cara e eu entendi perfeitamente que criar cinco filhos e ainda comprar uma Enciclopédia Britânica em 30 volumes, não dava mesmo.
Depois de me apaixonar com as aventuras do piloto Fabien do Voo Noturno, parti pro segundo livro, A Filha do Diretor do Circo, que o meu pai tinha, escondido, na sua pequena biblioteca. O livro era meio esquisito porque veio com as páginas coladas e minha mãe teve de abrir, uma a uma com a faca. Nunca mais parei de ler livros.
Jornalista formado, toda casa que ia – e ainda vou – entrevistar pessoas, adoro quando vejo uma estante cheia de livros. Outro dia mesmo fui na casa do Marcelo Dantas e fiquei encantado com a biblioteca que ele tem na cozinha, transbordando de livros de culinária: Nobu, the cookbook, Peru, uma aventura culinária, À mesa com Burle Marx, O livro essencial da cozinha vegetariana, Salted, Wok e muitas outras preciosidades.
Curioso que sou, hoje sempre fotografo com o meu smartphone as bibliotecas dos outros. Adoro ver fotos nos jornais e revistas, em que as pessoas posam na frente de uma estante. Foi assim que descobri um livro meu – O Mundo Acabou – na casa do escritor Moacyr Scliar.
Outro dia, fui ver o filme Que horas elas volta? pela segunda vez, só pra descobrir que livro era aquele que a Jessica se interessou, quando viu a estante do patrão da sua mãe, a Val. Foi prestando muita atenção que tive certeza se tratar de Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro.
O filme Chico, um Artista Brasileiro, também já vi duas vezes, só pra bisbilhotar a biblioteca do compositor de Vai Passar. O lance é muito rápido mas deu pra ver que Chico tem na casa dele, além do volumoso Dicionário Houaiss, os dois volumes da Mitologia do Kaos, um total de 1.304 páginas que reúne a obra do compositor Jorge Mautner, aquele do Maracatu Atômico, do Samba Japonês e do Me segura que eu vou dar um troço.
Bisbilhotar bibliotecas é bom por isso. Eu nunca poderia imaginar que o filho do Sergio Buarque de Hollanda guardava em casa, escritos de Mautner, como esse:
“Minha missão é a de acordar as pessoas. Pouco a pouco vou virando cada vez mais pregador do que escritor. Na conversa confessional, tudo é diferente e propício! O momento existencial inescapável, as mudanças da face com quem se fala, a respiração, a noite ou o dia que nos envolve”.
Viagem de bonde

Era o bonde Engenho de Dentro, ali na Praça Quinze. Vinha cheio, mas como diz, empurrando sempre encaixa. O que provou ser otimismo, porque talvez encaixasse metade ou um quarto de pessoa magra, e a alentada senhora que se guindou ao alto estribo e enfrentou a plataforma traseira junto com um bombeiro e outros amáveis soldados, dela talvez coubesse um oitavo. Assim mesmo, e isso prova bem a favor da elasticidade dos corpos gordos, ela conseguiu se insinuar, ou antes, encaixar. E tratava de acomodar-se gingando os ombros e os quadris à direita e à esquerda, quando o bonde parou em outro poste, o soldado repetiu o tal slogan do encaixe, e foi subindo – logo quem! – uma baiana dos seus noventa quilos, e mais uma bolsa que continha o fogareiro, a lata dos doces, o banquinho e o tabuleiro. E aquela baiana pesava os seus noventa quilos mas era nua, com licença da palavra, pois com tanta saia engomada e mais os balangandãs, chegava mesmo era aos cem. E esqueci de dizer que junto com ela ainda vinha uma cunhãzinha esperta que era um saci, que se insinuou pelas pernas do pessoal e acabou cavando um lugarzinho sentada, na beirinha do banco, ao lado de uma moça carregada de embrulhos e que assim mesmo teve o coração de arrumar a garota. Também o diabo da pequena conquistava qualquer um, com aquele olho preto enviesado, o riso largo de dente na muda.
Esqueci de falar que tudo isso se passava no carro-motor. No reboque, atrás, a confusão parecia maior. Muita gente pendurada entre um carro e outro, e havia um crioulo de bigode à Stalin, muito distinto, tinha cara de dirigente no Ministério do Trabalho, que muito sub-repticiamente viajava sobre o pino de ligação entre os dois carros ou, para dizer melhor, com um pé na sapata do carro-motor e o outro na sapata do reboque. E quando o condutor aparecia para cobrar a passagem, se era o condutor da frente ele punha os dois pés no reboque, e se era o condutor do reboque que vinha com o “faz favor” ele então executava o vice-versa. Sei que não pagou passagem a nenhum dos dois e devia fazer aquilo por esporte; não tinha cara de quem precisa se sujar por cinqüenta centavos; esporte, aliás, que todo o mundo aprova e aprecia, pois quem é que não gosta de ver se tirar um pouco de sangue à Light? E aí o bonde andou um bom pedaço sem que ninguém mais atacasse a plataforma. A turma que chegava, ocupava-se agora em guarnecer os balaústres, formando com os pingentes uma superestrutura decorativa. Mas, alcançando-se o abrigo defronte à Central, quase chegou a haver pânico. Porque no momento em que a multidão da calçada assaltava o veículo, a baiana quis descer, e não era façanha somenos desalojar aquela massa da pressão onde se encastoara, sem falar na pressão de baixo para cima feita pelos que tentavam subir, contra quem pretendia descer. Mas afinal já a baiana aterrissara na calçada e o vácuo por ela deixado era instantaneamente ocupado com uma violência de sorvedouro, o condutor tocara o seu tintim de partida, quando ressoaram uns gritos agudos cortando o ar abafado. Era o pequeno saci de olhos pretos a clamar que o povo subindo não a deixara descer. E a tensão geral explodiu em cólera e ternura, e todo o mundo tocava a campainha, alguns confundiam, puxavam a corda do marcador de passagens, o condutor vendo isso pôs-se a imprecar em puro linguajar da Mouraria, uma voz berrava: – já se viu que brutalidade, impedir a criança de descer; a baiana, em terra, chamava a filha com voz macia, o motorneiro, para ajudar e mostrar que não tinha nada com aquilo, desandou a tocar aquela espécie de sino que fica embaixo do pé dele. E enquanto os passageiros compassivos desembarcavam a garota, um senhor, que vinha em pé no meio dos bancos, pôs-se a declamar que era assim mesmo, que motorneiro, condutor e fiscal, em vez de se aliarem com o povo, não passavam de uns lacaios da Light, mas quando chegasse na hora de pedir aumento de ordenado haviam de querer que a população ajudasse com aumento nas passagens. O povo é que é sempre o sacrificado. E o condutor aí se enraiveceu também, e começou a convidar o homem para a beira da calçada, e o senhor disse que não ia porque não se metia com estrangeiros, e um engraçadinho deu sinal de partida e o motorneiro (que já estava por demais chateado) partiu mesmo, deixando o condutor em terra, vociferando; só foi dar pela falta quando chegou com o carro bem defronte do sinal; parou então, e enquanto o condutor corria o guarda começou a apitar, que o bonde tinha parado no meio da luz verde aberta para os carros em direção contrária; parecia o dia de juízo, o bonde parado, os automóveis buzinando, o guarda apitando e sacudindo os braços, o pessoal do bonde rindo que era ver uns demônios. Afinal o bonde partiu, tudo pareceu acalmar um pouco, mas aquele senhor em pé que xingara os pobres empregados da Light de lacaios do polvo canadense mostrou que era homem afeito a comícios, não se dava de uma interrupção tumultuosa. Estava acostumado a falar até em meio da fuzilaria, assim que ele disse. E que isso tudo acontecia porque o Governo promete mas não cumpre o dispositivo constitucional – sim, meus senhores, constitucional! – da mudança da capital da República. Imagine que delícia o Rio ficar livre de toda a laia dos burocratas, dos automóveis dos políticos e dos políticos propriamente ditos. Imagine, o Getúlio em Goiás e com ele a alcatéia dos lobos, os cardumes de tubarões, os rebanhos de carneiros! Isso aqui ficava mesmo um céu aberto. Pelo menos um milhão de pessoas iria embora, e que maravilha o Rio com um milhão de vagas nos transportes, um milhão de vagas nas residências, um milhão de bocas a menos, para comer o nosso mísero abastecimento! As favelas se acabam automaticamente, o arroz baixa a quatro cruzeiros! Saem a Câmara e o Senado, e os Ministérios com todas as suas marias candelárias. Pensando nos ministérios – será apenas um milhão de gente que nos deixa? Calculando por baixo, talvez saia mais de um milhão! O que virá em muito boa hora, pois no Rio sobram uns dois milhões!
E aí o bonde inteiro aplaudiu, cada qual só pensava na vaga a seu lado. E, se aquele bonde fosse maior, talvez nesse dia, no Rio de Janeiro, houvesse uma revolução. Talvez o povo do Rio de Janeiro desse ordem de despejo para o seu Governo, lhe apanhasse os trastes, lhe apontasse a estrada, que é larga e vai longe. Mas, feliz ou infelizmente, o bonde era pequeno e, apesar de conter tanta gente, não dava nem para um bochincho. E o Governo, pensando bem, também é de carne como nós – e só um coração de ferro tem coragem de deixar este Rio, assim mesmo apertado, superlotado, sem comida, sem transporte, sem luz e sem água. Como disse um paraíba que vinha junto com o soldado:
– Qual, se no céu faltasse água ou luz, por isso os anjos haveriam de se largar de lá? Céu é céu, de qualquer jeito…
Rachel de Queiroz
terça-feira, julho 26
Escada de sucesso
Pippa decidiu fazer as pinturas após se mudar para a casa de dois pavimentos com seu marido e a filha do casal, a pequena Abigail, segundo a imprensa local.
Inspirada por uma foto que viu no Pinterest, ela decidiu inovar e prestar uma homenagem aos seus 13 livros favoritos.
Entre os títulos homenageados estão “O senhor dos anéis” e “O Hobbit”, de J.R.R. Tolkien, e “O Talismã”, de Stephen King, “Game of Thrones”, de George R.R. Martin, “O velho e o mar”, de Ernest Hemingway, e “Alice através do espelho”, de Lewis Carroll.
Pippa disse à imprensa local que levou 35 horas para fazer a pintura, ao longo de seis semanas, e que gastou 180 libras, o equivalente a quase R$ 800.
Assim começa o livro...
Para um homem de sua idade, cinqüenta e dois, divorciado, ele tinha, em sua opinião, resolvido muito bem o problema de sexo. Nas tardes de quinta-feira, vai de carro até Green Point. Pontualmente às duas da tarde, toca a campainha da portaria do edifício Windsor Mansions, diz seu nome e entra. Soraya está esperando na porta do 113. Ele vai direto até o quarto, que cheira bem e tem luz suave, e tira a roupa. Soraya surge do banheiro, despe o roupão, escorrega para a cama ao lado dele. "Sentiu saudade de mim?", ela pergunta. "Sinto saudade o tempo todo", ele responde. Acaricia seu corpo marrom cor-de-mel, sem marcas de sol, deita-a, beija-lhe os seios, fazem amor.
Soraya é alta e magra, de cabelo preto comprido e olhos escuros, brilhantes. Tecnicamente, ele tem idade para ser seu pai; só que, tecnicamente, dá para ser pai aos doze. Ele está na agenda dela faz mais de um ano; ele acha que ela é perfeitamente satisfatória. No deserto da semana, a quinta-feira passou a ser um oásis de luxe et volupté.
Soraya é alta e magra, de cabelo preto comprido e olhos escuros, brilhantes. Tecnicamente, ele tem idade para ser seu pai; só que, tecnicamente, dá para ser pai aos doze. Ele está na agenda dela faz mais de um ano; ele acha que ela é perfeitamente satisfatória. No deserto da semana, a quinta-feira passou a ser um oásis de luxe et volupté.
Na cama, Soraya não é efusiva. Seu temperamento, na verdade, é bastante sossegado, sossegado e dócil. Suas opiniões são surpreendentemente moralistas. Fica ofendida com as turistas que despem os seios ("tetas", ela diz) nas praias públicas; acha que os vagabundos deviam ser recolhidos e postos para trabalhar, varrendo as ruas. Ele não pergunta como ela consegue coadunar essas opiniões com o tipo de trabalho que faz.
Como tem prazer com ela, um prazer invariável, começa a nascer nele uma afeição por ela. Até certo ponto, ele acredita, essa afeição é correspondida. Afeição pode não ser amor, mas é ao menos prima-irmã do amor. Diante do começo pouco promissor que tiveram, até que têm sorte, os dois: ele porque a encontrou, ela porque o encontrou.
Ele tem consciência de que seus sentimentos são complacentes, até matrimoniais. Mesmo assim não renuncia a eles.
Por uma sessão de uma hora e meia paga-lhe quatrocentos rands, dos quais metade vai para a Discreet Escorts. É uma pena a Discreet Escorts cobrar tanto. Mas são donos do 113 e de outros apartamentos no Windsor Mansions; de certa forma são donos de Soraya também, dessa parte dela, dessa função.
Ele anda brincando com a ideia que pedissem para se encontrar no tempo livre dela. Gostaria que passassem uma noite juntos, talvez até a noite toda. Mas não a manhã seguinte. Ele se conhece bem demais para sujeitá-la à manhã seguinte, quando estará frio, ranzinza, impaciente para ficar sozinho.
É assim seu temperamento. Seu temperamento não vai mudar, está velho demais para isso. Está fixo, estabelecido. O crânio, depois o temperamento: as duas partes mais duras do corpo.
Obedeça seu temperamento. Não é uma filosofia, ele não atribuiria tal dignidade a esse sentimento. É uma regra, como a regra de são Benedito.
Ele está com boa saúde, com a cabeça clara. Por profissão ele é, ou foi, um acadêmico, e a vida acadêmica ainda ocupa, intermitentemente, o seu íntimo. Gosta de viver dentro de seus rendimentos, dentro de seu temperamento, dentro de seus meios emocionais. É feliz? Em termos gerais, é, acha que sim. Porém, não se esquece da última fala do coro de Édipo: Nenhum homem é feliz até morrer.
Como tem prazer com ela, um prazer invariável, começa a nascer nele uma afeição por ela. Até certo ponto, ele acredita, essa afeição é correspondida. Afeição pode não ser amor, mas é ao menos prima-irmã do amor. Diante do começo pouco promissor que tiveram, até que têm sorte, os dois: ele porque a encontrou, ela porque o encontrou.
Ele tem consciência de que seus sentimentos são complacentes, até matrimoniais. Mesmo assim não renuncia a eles.
Por uma sessão de uma hora e meia paga-lhe quatrocentos rands, dos quais metade vai para a Discreet Escorts. É uma pena a Discreet Escorts cobrar tanto. Mas são donos do 113 e de outros apartamentos no Windsor Mansions; de certa forma são donos de Soraya também, dessa parte dela, dessa função.
Ele anda brincando com a ideia que pedissem para se encontrar no tempo livre dela. Gostaria que passassem uma noite juntos, talvez até a noite toda. Mas não a manhã seguinte. Ele se conhece bem demais para sujeitá-la à manhã seguinte, quando estará frio, ranzinza, impaciente para ficar sozinho.
É assim seu temperamento. Seu temperamento não vai mudar, está velho demais para isso. Está fixo, estabelecido. O crânio, depois o temperamento: as duas partes mais duras do corpo.
Obedeça seu temperamento. Não é uma filosofia, ele não atribuiria tal dignidade a esse sentimento. É uma regra, como a regra de são Benedito.
Ele está com boa saúde, com a cabeça clara. Por profissão ele é, ou foi, um acadêmico, e a vida acadêmica ainda ocupa, intermitentemente, o seu íntimo. Gosta de viver dentro de seus rendimentos, dentro de seu temperamento, dentro de seus meios emocionais. É feliz? Em termos gerais, é, acha que sim. Porém, não se esquece da última fala do coro de Édipo: Nenhum homem é feliz até morrer.
segunda-feira, julho 25
Carregando seu Cervantes
1. Em seu consultório médico, meu pai tinha um pesa-papéis de vidro piramidal com a figura do Quixote e o nome de um remédio gravados na base. Franzino. Barbadão. Montado num cavalo ainda mais magrela. O cara devia mesmo precisar do remédio. Numa das paredes da casa de um dos meus tios estava pendurado um quadrinho do Quixote, desta vez acompanhado de Sancho e sem o nome do remédio. Daí a tia Maria Cristina foi de férias às cidades coloniais e voltou com uma lembrancinha de Guanajuato para mim: uma estatuazinha do Quixote feita de arame. O calhamaço, lógico, adornava as prateleiras da casa dos meus pais e de todos os meus tios, respeitando um costume inquebrantável da classe média de todo o mundo hispânico. Para falar a verdade, eu nunca vi ninguém ler o Quixote, mas a lombada do livraço era um adorno muito lindo mesmo.
2. Depois eu fiz seis anos e fui atropelado por uma caminhonete enquanto ia comprar chiclete (a rima é involuntária — aliás, em espanhol não rima). Aquele foi o momento em que eu saí pela primeira vez do mundo de fantasia em que morava e entrei na realidade. Tudo para fazer uma grande descoberta: a realidade, certamente, machucava e doía. Igualzinho a Dom Quixote com os moinhos de vento, mas eu ainda não tinha lido o Quixote. Que pena ter perdido a ocasião de utilizar essa metáfora tão perfeita.
3. Logo chegou a adolescência, e na minha cidadezinha todo mundo queria ir pro Festival Cervantino em Guanajuato. Não, a gente não era muito culto: o tal Festival era, todo mundo sabia, a festa mais legal para se embebedar na rua e paquerar. Eu fui com minha turma e ficamos tomando cerveja e tequila nas escadas do Teatro Juárez. Segundo eu, meu olhar cativante estava fazendo o maior sucesso, mas logo acabei descobrindo que as meninas não tinham nem percebido minha presença. Igualzinho a Dom Quixote com Dulcineia, só que eu continuava sem ter lido o Quixote.
4. A primeira vez que eu viajei para Espanha, fiz questão de comprar a “melhor edição do Quixote”, a do Instituto Cervantes, anotada pelo Francisco Rico, papa e pope dos cervantistas. Eu estava na faculdade de letras espanholas e, no seguinte semestre, ia ter um curso dedicado ao Quixote. A edição constava de dois calhamaços com capa dura enfiados numa caixa rígida. Quatro, talvez cinco quilos. Comprei em Madri e carreguei na mochila durante dez dias por Toledo, Segóvia, Sevilha, Córdoba e Lisboa. O peso da tradição literária! (Mas essa piada eu já fiz no meu último romance, Te vendo um cachorro, justamente inspirada nesse episódio autobiográfico.)
5. Finalmente, eu li o Quixote. In-tei-ri-nho. Foram os quatro meses mais felizes de minha vida como leitor.
6. No ensaio que escrevi para passar no curso (uma dissertação sobre o sentido trágico e cômico no Quixote), coloquei o seguinte: “Dom Quixote é, antes de mais nada, antes de um cavaleiro, um escritor que está em processo de redigir seu próprio livro de aventuras. Dom Quixote é um estranho rei Midas que transforma em literatura tudo aquilo que ele toca (…) O que significa a irrupção de Alonso Quijano no final da história? A morte do personagem literário. Em suas últimas palavras, não é Dom Quixote quem fala, é Alonso Quijano, outro personagem literário, mas um personagem que não quer fazer literatura, que tem se deixado vencer pela realidade. A atroz condenação de Cervantes: morremos na realidade, na vida, abdicando da literatura.”
7. Sim, eu acredito que o Quixote é, sem a menor dúvida, o melhor livro de todos os tempos. Perdoem-me: eu sou mexicano, escritor, minha língua é o espanhol, minha pátria é minha língua, blá-blá-blá. Ou seja, a única oportunidade que eu tenho de me sentir de primeiro mundo, potência mundial, é falando de Cervantes. Eu sei que estou sendo vaidoso e pretensioso ao dizer que pertenço à tradição literária mais rica do mundo, mas porra, vamos fazer o que se é verdade?
8. Daí eu fui morar em Barcelona, a cidade onde Dom Quixote sofreu a derrota final, na praia da Barceloneta. Escrevi um conto: “Depois de almoçar fui para a praia, fiquei uns quarenta minutos porque ainda está bem frio. Eu estava deitado e a areia se enfiou em meus ouvidos e outra vez pensei em Cervantes, na crueldade de Cervantes. Na condenação de Cervantes. Na tristeza de caminhar pela praia da Barceloneta sabendo que é o lugar que Cervantes escolheu para que Dom Quixote fosse derrotado. Como poderia saber Cervantes que ele ia estragar meus passeios pela praia?”.
9. Depois eu fui morar no Brasil e um dia fui convidado para dar uma palestra sobre literatura mexicana no Colégio Cervantes de São Paulo. Os alunos me entregaram um presentinho: um pesa-papéis de vidro piramidal com a figura do Quixote.
10. Os cinco quilos da edição do Instituto Cervantes do Quixote já foram nas minhas mochilas e malas de Madri pro México, do México para Barcelona, de Barcelona para o Brasil e do Brasil de volta para Barcelona.
É o peso da tradição literária, sim.
Mas eu quero carregar.
Juan Pablo Villalobos
2. Depois eu fiz seis anos e fui atropelado por uma caminhonete enquanto ia comprar chiclete (a rima é involuntária — aliás, em espanhol não rima). Aquele foi o momento em que eu saí pela primeira vez do mundo de fantasia em que morava e entrei na realidade. Tudo para fazer uma grande descoberta: a realidade, certamente, machucava e doía. Igualzinho a Dom Quixote com os moinhos de vento, mas eu ainda não tinha lido o Quixote. Que pena ter perdido a ocasião de utilizar essa metáfora tão perfeita.
 |
| Cândido Portinari |
4. A primeira vez que eu viajei para Espanha, fiz questão de comprar a “melhor edição do Quixote”, a do Instituto Cervantes, anotada pelo Francisco Rico, papa e pope dos cervantistas. Eu estava na faculdade de letras espanholas e, no seguinte semestre, ia ter um curso dedicado ao Quixote. A edição constava de dois calhamaços com capa dura enfiados numa caixa rígida. Quatro, talvez cinco quilos. Comprei em Madri e carreguei na mochila durante dez dias por Toledo, Segóvia, Sevilha, Córdoba e Lisboa. O peso da tradição literária! (Mas essa piada eu já fiz no meu último romance, Te vendo um cachorro, justamente inspirada nesse episódio autobiográfico.)
5. Finalmente, eu li o Quixote. In-tei-ri-nho. Foram os quatro meses mais felizes de minha vida como leitor.
6. No ensaio que escrevi para passar no curso (uma dissertação sobre o sentido trágico e cômico no Quixote), coloquei o seguinte: “Dom Quixote é, antes de mais nada, antes de um cavaleiro, um escritor que está em processo de redigir seu próprio livro de aventuras. Dom Quixote é um estranho rei Midas que transforma em literatura tudo aquilo que ele toca (…) O que significa a irrupção de Alonso Quijano no final da história? A morte do personagem literário. Em suas últimas palavras, não é Dom Quixote quem fala, é Alonso Quijano, outro personagem literário, mas um personagem que não quer fazer literatura, que tem se deixado vencer pela realidade. A atroz condenação de Cervantes: morremos na realidade, na vida, abdicando da literatura.”
7. Sim, eu acredito que o Quixote é, sem a menor dúvida, o melhor livro de todos os tempos. Perdoem-me: eu sou mexicano, escritor, minha língua é o espanhol, minha pátria é minha língua, blá-blá-blá. Ou seja, a única oportunidade que eu tenho de me sentir de primeiro mundo, potência mundial, é falando de Cervantes. Eu sei que estou sendo vaidoso e pretensioso ao dizer que pertenço à tradição literária mais rica do mundo, mas porra, vamos fazer o que se é verdade?
8. Daí eu fui morar em Barcelona, a cidade onde Dom Quixote sofreu a derrota final, na praia da Barceloneta. Escrevi um conto: “Depois de almoçar fui para a praia, fiquei uns quarenta minutos porque ainda está bem frio. Eu estava deitado e a areia se enfiou em meus ouvidos e outra vez pensei em Cervantes, na crueldade de Cervantes. Na condenação de Cervantes. Na tristeza de caminhar pela praia da Barceloneta sabendo que é o lugar que Cervantes escolheu para que Dom Quixote fosse derrotado. Como poderia saber Cervantes que ele ia estragar meus passeios pela praia?”.
9. Depois eu fui morar no Brasil e um dia fui convidado para dar uma palestra sobre literatura mexicana no Colégio Cervantes de São Paulo. Os alunos me entregaram um presentinho: um pesa-papéis de vidro piramidal com a figura do Quixote.
10. Os cinco quilos da edição do Instituto Cervantes do Quixote já foram nas minhas mochilas e malas de Madri pro México, do México para Barcelona, de Barcelona para o Brasil e do Brasil de volta para Barcelona.
É o peso da tradição literária, sim.
Mas eu quero carregar.
Juan Pablo Villalobos
Quanto custa um cadáver?
Em 2016, o mundo gastará quase um trilhão e oitocentos bilhões de dólares com exércitos e armamentos. Por coincidência, é aproximadamente o valor do PIB brasileiro de 2015. Posto de outra maneira, o que cada brasileiro produziu no ano passado será usado até dezembro para matar seres humanos em algum canto do planeta. Ou para exibir força e poder. O exibicionismo de um indivíduo é proibido, porém o de países é tolerado. Os bem dotados são os mais explícitos. Ou letais.
Dois terços desses gastos acontecem em nações com população majoritariamente cristã, que constituem um terço da população mundial. É um paradoxo, se considerarmos o ensinamento dos Evangelhos. O paradoxo cresce se levarmos em conta que com apenas um décimo do dinheiro investido nas guerras seria eliminada a fome no mundo, segundo especialistas da ONU. Um décimo apenas.
Sofremos muito – com razão – pelos 84 seres humanos barbaramente eliminados em Nice, porém nem tomamos conhecimento dos milhares que sucumbem à subnutrição e às balas todos os dias na África, no Oriente Médio e na Ásia. Viraram meras estatísticas. E já perdemos a conta dos corpos encontrados no Mediterrâneo que pertenciam a pessoas como nós em busca de esperança, fugindo de países devastados pelas lutas ou pela miséria. Se pesquisarmos a fundo, em cada nação falida há o dedinho cruel de uma potência ocidental ou emergente. Ou sua ganância brigando pelas riquezas ou pela posição estratégica desses infelizes.
Num cálculo conservador, os gastos militares chegaram a mais de sessenta trilhões de dólares durante o século 20. No mesmo período, segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, os cadáveres produzidos pelas guerras alcançaram a estratosférica cifra de 200 milhões. Dividindo-se esses números, obtém-se algo aterrador: cada cadáver custou mais de 300.000 dólares. Quantas pessoas na Terra amealham durante a vida um patrimônio de 300.000 dólares, o que as tornaria milionárias no Brasil? É muito mais caro matar que sustentar a vida. No entanto, optamos por matar.
Por falar em milionários, a tendência global conduz a uma projeção nefasta. Mantido o atual nível de gastos militares e supondo que eliminaremos no século 21 o mesmo número de pessoas do século 20, atingiremos a incrível marca de um milhão de dólares por cadáver. Isso mesmo. Os seres humanos gastarão um milhão de dólares para se exterminarem, caso repitam a performance assassina do século 20. Se matarmos menos, o preço macabro será ainda maior.
Criamos coisas belas na arte e na ciência, melhoramos a qualidade de vida para muitos, aprovamos uma carta dos Direitos Humanos. Com cinismo, alguns belicosos afirmam que muito do progresso resulta da guerra. Mentira. A paz rende muito mais. Somos uma espécie com instinto predador tão elevado quanto solidário, com uma ressalva: o primeiro prevalece em casos de disputa ou surtos de cobiça. Com tristeza, muita tristeza, desconfio de que o homem seja mesmo o lobo do homem. Duvida? Confira os noticiários.
Luís Giffoni
Dois terços desses gastos acontecem em nações com população majoritariamente cristã, que constituem um terço da população mundial. É um paradoxo, se considerarmos o ensinamento dos Evangelhos. O paradoxo cresce se levarmos em conta que com apenas um décimo do dinheiro investido nas guerras seria eliminada a fome no mundo, segundo especialistas da ONU. Um décimo apenas.
Sofremos muito – com razão – pelos 84 seres humanos barbaramente eliminados em Nice, porém nem tomamos conhecimento dos milhares que sucumbem à subnutrição e às balas todos os dias na África, no Oriente Médio e na Ásia. Viraram meras estatísticas. E já perdemos a conta dos corpos encontrados no Mediterrâneo que pertenciam a pessoas como nós em busca de esperança, fugindo de países devastados pelas lutas ou pela miséria. Se pesquisarmos a fundo, em cada nação falida há o dedinho cruel de uma potência ocidental ou emergente. Ou sua ganância brigando pelas riquezas ou pela posição estratégica desses infelizes.
Num cálculo conservador, os gastos militares chegaram a mais de sessenta trilhões de dólares durante o século 20. No mesmo período, segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, os cadáveres produzidos pelas guerras alcançaram a estratosférica cifra de 200 milhões. Dividindo-se esses números, obtém-se algo aterrador: cada cadáver custou mais de 300.000 dólares. Quantas pessoas na Terra amealham durante a vida um patrimônio de 300.000 dólares, o que as tornaria milionárias no Brasil? É muito mais caro matar que sustentar a vida. No entanto, optamos por matar.
Por falar em milionários, a tendência global conduz a uma projeção nefasta. Mantido o atual nível de gastos militares e supondo que eliminaremos no século 21 o mesmo número de pessoas do século 20, atingiremos a incrível marca de um milhão de dólares por cadáver. Isso mesmo. Os seres humanos gastarão um milhão de dólares para se exterminarem, caso repitam a performance assassina do século 20. Se matarmos menos, o preço macabro será ainda maior.
Criamos coisas belas na arte e na ciência, melhoramos a qualidade de vida para muitos, aprovamos uma carta dos Direitos Humanos. Com cinismo, alguns belicosos afirmam que muito do progresso resulta da guerra. Mentira. A paz rende muito mais. Somos uma espécie com instinto predador tão elevado quanto solidário, com uma ressalva: o primeiro prevalece em casos de disputa ou surtos de cobiça. Com tristeza, muita tristeza, desconfio de que o homem seja mesmo o lobo do homem. Duvida? Confira os noticiários.
Luís Giffoni
domingo, julho 24
Sem respeito à memória
Estou enojado com a educação escolar de hoje, que é uma fábrica de incultos e que não respeita a memória. E que não faz nada para que as crianças aprendam as coisas com a memorização. O poema que vive em nós, vive conosco, muda conosco e tem a ver com uma função muito mais profunda do que a do cérebro. Representa a sensibilidade, a personalidade
George Steiner
A modernidade de Conrad Gesner há 500 anos
Neste ano se completam 500 anos de nascimento do médico e naturalista suíço Conrad Gesner (1516-1565), autor e organizador de cerca de 70 obras, entre as quais duas consideradas fundadoras do conhecimento moderno.
Historiae Animalium, publicada em quatro volumes e 4.500 páginas ilustradas a cores, entre 1551 e 1558, é considerada a primeira enciclopédia moderna de zoologia (um quinto volume póstumo foi publicado em 1587). Folheie aqui parte da obra na U.S. National Library of Medicine.
Konrad Gesner também é conhecido como o “pai da bibliografia” por sua Bibliotheca universalis, sive catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, Latin, Graeca, & Hebraica: extantium & non extantium veterum & recentiorum..., de 1545, um catálogo bibliográfico, em latim, grego e hebraico, com cerca de 1.800 autores, descritos e comentados. É considerada a primeira obra bibliográfica publicada após a invenção da imprensa. Com comentários sobre autores e livros, revela a (nova) concepção de organizar, selecionar e comentar o nascente universo dos livros impressos.
Além de participar do movimento de invenção das ideias modernas, com o Renascimento e a dessacralização do mundo, que passou a ser concebido e observado sem os filtros da religião, Gesner esteve também na linha de frente do ideário que passou a integrar em um mesmo sistema as novas ideias sobre conhecimento, a pesquisa sobre as formas de sua organização em livros, técnicas de ilustração atraentes e preocupação com o leitor e a circulação do livro.
Assim, pesquisa, redação, ilustração, edição, impressão, circulação, todas estas atividades do novo mundo do livro impresso recriaram a lógica do conhecimento em todas as suas esferas: produção, circulação e consumo.
A transmissão de conhecimentos através de ilustrações – e a nada óbvia ideia de que a ilustração informava – foi uma mudança significativa na lógica do conhecimento, que se beneficiou da cultura e das técnicas artísticas renascentistas. A ilustração impressa, super apurada no caso de Gesner, deu novo sentido à experiência da pesquisa e difusão da imagem. Isto ocorreu, não por acaso, no século dos “descobrimentos” e da colonização, as viagens e as expedições criando também – junto à dominação – o impulso para o conhecimento.
Historiae animalium, um livro de história natural, é uma classificação universal dos animais, cada um em uma página, com gravuras impressas feitas pelo autor e colaboradores e uma série de informações padronizadas sobre a vida dos animais, incluindo a origem do nome e provérbios sobre eles.
Mas como, no século 16, ter acesso a informações e à observação direta de animais em todo o mundo? Só esta pergunta já dá a dimensão do desafio de escrever e editar uma enciclopédia mesmo de uma área específica do conhecimento, a zoologia.
Além disso, ainda próximo ao imaginário medieval, para o qual criaturas lendárias e fantásticas habitavam o mundo do conhecimento, como distinguir o que era “ciência” do que era “lenda”, como monstros e sereias, que viviam numa vasta zona entre o conhecido e o desconhecido?
É também aqui que Gesner introduziu soluções modernas: ele escreve e desenha (com assistentes) a partir de sua própria observação e, quando isto não é possível, cotejando fontes impressas variadas (da Bíblia aos bestiários medievais, de manuscritos a mapas ilustrados) e às vezes mantendo, por exemplo, ilustrações anteriores mesmo sabendo que elas pouco correspondem à “realidade”. É assim que Gesner manteve 12 criaturas lendárias, entre elas o unicórnio.
Nascido em Zurique, Suíça, Gesner estudou nas universidades de Brouges, Estrasburgo, Paris e Basiléia, tornou-se médico e professor de grego em Lausanne e de física em Zurique, onde exerceu a medicina. No início da Era moderna, o ambiente do protestantismo local estimulava o desenvolvimento dos estudos das ciências e outras áreas.
Ele foi contemporâneo de Leonardo da Vinci e seus desenhos, do primeiro livro inteiramente ilustrado de Anatomia, Commentaria super anatomia Mundini, de 1522, de Jacopo Berengario da Carpi (1460-1530), e de Humani Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius, de 1543, com ilustrações de Jan Stephen van Calcar.
Segundo um texto disponível no site da Universidade de Zurique, onde ele foi professor e que está realizando uma exposição, “Conrad Gesner era um polímata estimulando a transformação da Europa do tempo medieval para o moderno. Enquanto seus contemporâneos se restringiam a criticar os antigos, ele criou novos conhecimentos usando seus próprios métodos. (...) Muito antes de internet e da fotografia, Gesner criou uma enciclopédia ilustrada compreendendo mais de mil animais. Sua Historiae animalium logo foi amplamente lido devido à invenção de técnicas de impressão modernas. Por gerações, o livro foi a base da ciência animal no longo caminho à moderna zoologia”.
Gesner publicou também, como projeto de uma enciclopédia de Botânica, Enchiridion historiae plantarum e Catalogus plantarum em quatro idiomas e, entre muitos outros, Mithridates de differentis linguis, uma compilação de informação sobre 130 línguas conhecidas.
Tudo isto no século 16.
Roney Cytrynowicz
Historiae Animalium, publicada em quatro volumes e 4.500 páginas ilustradas a cores, entre 1551 e 1558, é considerada a primeira enciclopédia moderna de zoologia (um quinto volume póstumo foi publicado em 1587). Folheie aqui parte da obra na U.S. National Library of Medicine.
 |
| Página de rosto da 'Bibliotheca universalis' , publicada por Conrad Gener em 1545 | |
Além de participar do movimento de invenção das ideias modernas, com o Renascimento e a dessacralização do mundo, que passou a ser concebido e observado sem os filtros da religião, Gesner esteve também na linha de frente do ideário que passou a integrar em um mesmo sistema as novas ideias sobre conhecimento, a pesquisa sobre as formas de sua organização em livros, técnicas de ilustração atraentes e preocupação com o leitor e a circulação do livro.
Assim, pesquisa, redação, ilustração, edição, impressão, circulação, todas estas atividades do novo mundo do livro impresso recriaram a lógica do conhecimento em todas as suas esferas: produção, circulação e consumo.
A transmissão de conhecimentos através de ilustrações – e a nada óbvia ideia de que a ilustração informava – foi uma mudança significativa na lógica do conhecimento, que se beneficiou da cultura e das técnicas artísticas renascentistas. A ilustração impressa, super apurada no caso de Gesner, deu novo sentido à experiência da pesquisa e difusão da imagem. Isto ocorreu, não por acaso, no século dos “descobrimentos” e da colonização, as viagens e as expedições criando também – junto à dominação – o impulso para o conhecimento.
Historiae animalium, um livro de história natural, é uma classificação universal dos animais, cada um em uma página, com gravuras impressas feitas pelo autor e colaboradores e uma série de informações padronizadas sobre a vida dos animais, incluindo a origem do nome e provérbios sobre eles.
Mas como, no século 16, ter acesso a informações e à observação direta de animais em todo o mundo? Só esta pergunta já dá a dimensão do desafio de escrever e editar uma enciclopédia mesmo de uma área específica do conhecimento, a zoologia.
Além disso, ainda próximo ao imaginário medieval, para o qual criaturas lendárias e fantásticas habitavam o mundo do conhecimento, como distinguir o que era “ciência” do que era “lenda”, como monstros e sereias, que viviam numa vasta zona entre o conhecido e o desconhecido?
É também aqui que Gesner introduziu soluções modernas: ele escreve e desenha (com assistentes) a partir de sua própria observação e, quando isto não é possível, cotejando fontes impressas variadas (da Bíblia aos bestiários medievais, de manuscritos a mapas ilustrados) e às vezes mantendo, por exemplo, ilustrações anteriores mesmo sabendo que elas pouco correspondem à “realidade”. É assim que Gesner manteve 12 criaturas lendárias, entre elas o unicórnio.
Nascido em Zurique, Suíça, Gesner estudou nas universidades de Brouges, Estrasburgo, Paris e Basiléia, tornou-se médico e professor de grego em Lausanne e de física em Zurique, onde exerceu a medicina. No início da Era moderna, o ambiente do protestantismo local estimulava o desenvolvimento dos estudos das ciências e outras áreas.
Ele foi contemporâneo de Leonardo da Vinci e seus desenhos, do primeiro livro inteiramente ilustrado de Anatomia, Commentaria super anatomia Mundini, de 1522, de Jacopo Berengario da Carpi (1460-1530), e de Humani Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius, de 1543, com ilustrações de Jan Stephen van Calcar.
Segundo um texto disponível no site da Universidade de Zurique, onde ele foi professor e que está realizando uma exposição, “Conrad Gesner era um polímata estimulando a transformação da Europa do tempo medieval para o moderno. Enquanto seus contemporâneos se restringiam a criticar os antigos, ele criou novos conhecimentos usando seus próprios métodos. (...) Muito antes de internet e da fotografia, Gesner criou uma enciclopédia ilustrada compreendendo mais de mil animais. Sua Historiae animalium logo foi amplamente lido devido à invenção de técnicas de impressão modernas. Por gerações, o livro foi a base da ciência animal no longo caminho à moderna zoologia”.
Gesner publicou também, como projeto de uma enciclopédia de Botânica, Enchiridion historiae plantarum e Catalogus plantarum em quatro idiomas e, entre muitos outros, Mithridates de differentis linguis, uma compilação de informação sobre 130 línguas conhecidas.
Tudo isto no século 16.
Roney Cytrynowicz
Assim começa o livro...
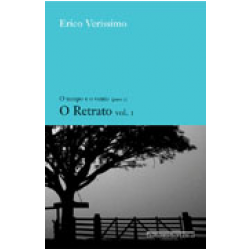
Naquela tarde de princípios de novembro, o sueste que soprava sob os céus de Santa Fé punha inquietos os cata-ventos, as pandorgas, as nuvens e as gentes; fazia bater portas e janelas; arrebatava de cordas e cercas as roupas postas a secar nos quintais; erguia as saias das mulheres, desmanchava-lhes os cabelos; arremessava no ar o cisco e a poeira das ruas, dando à atmosfera uma certa aspereza e um agourento arrepio de fim de mundo.
Por volta das três horas, um funcionário da Prefeitura assomou à janela da repartição e olhou por um instante para as árvores agitadas da praça, exclamando: "Ooô tempinho brabo!".
Num quintal próximo, recolhendo às tontas as roupas que o vento arrancara do coradouro e espalhara pelo chão, uma dona de casa resmungava: "É pr'um vivente ficar fora do juízo!".
Na sua meia-água caiada como um túmulo, a "Gioconda" sentou-se ao piano e, em meio de seus sete gatos, começou a tocar a marcha fúnebre de Chopin.
O proprietário da Farmácia Humanidade, dirigindo-se ao prático que, debruçado sobre o balcão, mascava ainda o palito do almoço, resmungou: "Dia de vender colírio e aspirina".
Por trás das vidraças duma das casas da praça da Matriz, um menino de cara tristonha olhava, fascinado, ora para o cata-vento da torre da igreja, cujo galo de ferro rodopiava, ora para as pandorgas coloridas que, entre a torre e as nuvens, davam bruscas rabanadas no ar.
Um trem apitou tremulamente na curva do cemitério, e de repente, como se tivesse surgido do bojo duma nuvem, um pequeno aparelho do aeroclube de Santa Fé começou a sobrevoar a cidade a uns mil metros do solo. Era um teco-teco amarelo, cujo nome - Rosa-dos-Ventos - estava pintado em letras negras nos costados da nacela. Alguns santa-fezenses ergueram os olhos para o céu e acharam que era loucura voar num dia daqueles. E por algum tempo, acima do uivar do vento, ouviu-se o fosco matraquear do motor do avião. De súbito, os alto-falantes da Rádio Anunciadora Serrana, presos aos postos telefônicos ao longo da rua do Comércio, começaram a funcionar, e o ar se encheu de sons que pareciam sair da boca de enormes robôs. O vento varria as vozes metálicas que apregoavam a excelência de dentifrícios, inseticidas, sabonetes, e pediam ao público que só comprasse na "tradicional Loja Caramês, onde um cruzeiro vale três". Quando as vozes se calaram, romperam dos alto-falantes os acordes lânguidos dum velho tango argentino, e o choro das cordeonas abafou a lamúria do vento.
Naquele minuto o Veiguinha saiu da Casa Sol, caminhou até a beira da calçada, trazendo debaixo do braço um quadro que durante sete anos tivera pendurado na parede do escritório, e, olhando para um mulato que passava, exclamou:
- Este é o dia mais feliz da minha vida!
Dito isso, agarrou o quadro com ambas as mãos e bateu com ele violentamente contra a quina da calçada, partindo a moldura e o vidro. Depois, numa fúria que o deixava apopléctico, arrancou dentre os destroços do quadro o retrato do ex-presidente e rasgou-o em muitos pedaços, lançando-os ao vento num gesto dramático:
- Este é o fim de todos os tiranos!
O mulato parou, olhou para o proprietário da Casa Sol e disse:
- Deixe estar, um dia esse retrato volta pra parede. Os milicos derrubaram o Velho, mas ele caiu de pé nos braços do povo!
Isso foi o princípio duma discussão de caráter político, que atraiu a atenção de alguns passantes, os quais mais tarde, ao tentarem reconstituir o áspero diálogo que terminara numa troca de bofetadas, lamentavam não terem podido ouvir tudo quanto os contendores diziam, pois na hora do bate-boca a voz de Carlito Gardel enchia poderosamente a rua, abafando todas as outras.
Afirmava-se, entretanto, com unanimidade, que em dado momento o Veiguinha, quase a tocar com a ponta do indicador o nariz do mulato, bradara: "Teve a sorte que merecia, era um traidor!", ao que o outro retrucara: "Traidor é você, cachorro!".
Como que impelido pelo vento, o braço do negociante projetou-se no ar como uma catapulta, e ouviu-se o estalo duma bofetada. Ao receber o golpe inesperado, o mulato quase caiu, mas, recuperando logo o equilíbrio, desferiu um soco no ouvido do Veiguinha, atirando-o contra a parede da casa. Foi nesse momento que os circunstantes intervieram, separando-os a custo. O Veiguinha voltou para a loja, vociferando bravatas, ao passo que o mulato, arrastado rua abaixo por dois desconhecidos, berrava a plenos pulmões:
- Viva o nosso presidente! Viva o Estado Novo!
Do outro lado da rua, à frente da Casa Sol, lia-se no muro caiado, em largas letras de piche: Queremos Getulio. Logo abaixo, em garranchos brancos: VIVA PRESTES! MORRA O FASCISMO! E, entre a foice e o martelo, um moleque gravara no reboco, a ponta de prego, um nome feio.
Gardel silenciara: agora os violinos cantavam em melosa surdina, e a voz do sueste parecia também fazer parte da orquestra, bem como o rufar do motor do Rosa-dos-Ventos.
A notícia do conflito espalhou-se rápida por toda a rua.
À porta duma engraxataria, um negrão de cara lustrosa, o torso musculoso modelado por uma camiseta amarela, comentou a briga com um freguês e concluiu:
- A culpa é do vento. A gente fica meio fora de si. É essa maldita ventania...
Assinar:
Postagens (Atom)