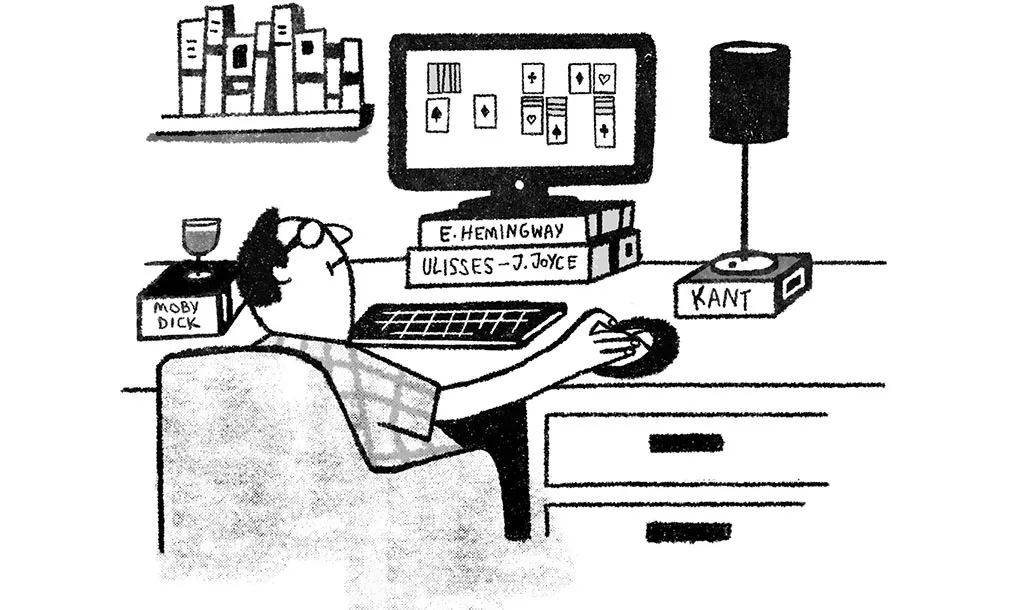sábado, janeiro 31
A Cinderela chinesa
Ao que se sabe, esta é a mais antiga história da Cinderela escrita no mundo. Cinderela é um dos contos folclóricos mais conhecidos em todos os países e dela têm sido coligidas, estudadas e comparadas pelos entendidos centenas de versões. Contudo, de acordo com o professor R. D. Jameson, autoridade em assuntos do longínquo oriente e que, bondosamente, correspondeu-se comigo sobre o caso: "A história (a versão que aqui vai) é anterior à mais antiga versão ocidental de Des Perriers em seu "Nouvelles Récréations et Iojeux Devis", Lião, 1558, cerca de uns 700 anos." A versão chinesa é tirada de "Yuyang Tsatsu", um livro de mágicas e contos sobrenaturais e de fundo histórico. outrossim, escrito por Tuan Ch'eng-shih que morreu em 863 da era cristã. A história lhe foi contada por uma velha serva da família que provinha de Yungchow (moderna Nanning) em Kwangsei, e que descendia dos povos das cavernas (aborígines) daquele distrito. Tuan era filho de um primeiro ministro e era letrado e em "Yuyang Tsatsu", deu disso vários exemplos: pesquisou certos contos populares indo encontrá-los até nos clássicos budistas, pois no século IX, as histórias sobrenaturais budistas eram bem conhecidas e populares na China. Entretanto esse conto provou ser de tradição oral. Existem versões siamesas bem conhecidas e Nanning fica bem perto da Indochina. Respondendo à minha pergunta sobre se essa versão podia ter vindo da Índia, o professor Jameson disse - "Tanto quanto lhe posso afirmar, e até onde vão meus conhecimentos, a mais velha versão impressa é chinesa. Sabemos muito pouco sobre os processos da imaginação humana e são incontáveis os lugares folclóricos do mapa asiático que ainda não foram completamente explorados para justificar, parece-me, muita especulação." O que nos fere nessa versão chinesa é que ela contém elementos de todas as duas tradições, eslava e alemã, na primeira das quais um animal amigo é o motivo principal e onde, na segunda, a perda do sapatinho num baile é o fato mais importante. A madrasta cruel e as filhas são comuns a ambas. – Lin Yutang
Certa vez, antes de Ch'in (222-206 a.C.) e Han havia um chefe das cavernas da montanha a quem os nativos chamavam chefe Wu. Ele se casou com duas mulheres uma das quais morreu deixando-lhe uma menina chamada Yeh Hsien. Essa menina era muito inteligente e habilidosa no bordado a ouro e o pai amava-a ternamente, mas, quando êle morreu, viu-se maltratada pela madrasta que seguidamente a forçava a cortar lenha e mandava-a a lugares perigosos para apanhar água em poços profundos.
Um dia, Yeh Hsien pescou um peixe com mais de duas polegadas de comprimento e que tinha as barbatanas vermelhas e os olhos dourados. Trouxe-o para casa e o pôs numa vasilha com água. Cada dia o peixe crescia mais e tanto cresceu que, finalmente, a vasilha não lhe serviu mais e a menina o soltou numa lagoa que havia por trás de sua casa. Yeh Hsien costumava alimentá-lo com as sobras de sua comida. Quando ela chegava à lagoa, o peixe vinha até a superfície e descansava a cabeça na margem, mas se alguém se aproximasse não aparecia.
Esse hábito curioso foi notado pela madrasta que esperou o peixe sem que este lhe aparecesse. Um dia, lançou mão de astúcia e disse à enteada: - "Não está cansada de trabalhar? Quero dar-lhe uma roupa nova." Em seguida fêz Yeh Hsien tirar a roupa que vestia e mandou-a a várias centenas de li para trazer água de um poço. A velha, então, pôs o vestido de Yeh Hsien e estendeu uma faca afiada na manga da blusa; dirigiu-se para a lagoa e chamou o peixe. Quando o peixinho pôs a cabeça fora d’água, ela o matou. Por essa ocasião, o animalzinho já media mais de dez pés de comprimento e, depois de cozido, mostrou ter sabor mil vezes melhor do que qualquer outro. E a madrasta enterrou seus ossos num monturo.
No dia seguinte, Yeh Hsien voltou e ao aproximar-se da lagoa verificou que o peixe desaparecera. Correu para chorar escondida no meio do mato e nisso um homem de cabelo desgrenhado e coberto de andrajos desceu dos céus e a consolou, dizendo: - “Não chore. Sua mãe matou o peixe e enterrou os ossos num monturo. Vá para casa, leve os ossos para seu quarto e os esconda. Tudo o que você quiser peça que lhe será concedido". Yeh Hsien seguiu o conselho e pouco tempo depois tinha uma porção de ouro, de jóias e roupas de tecido tão caro que seriam capazes de deleitar o coração de qualquer donzela.
Na noite de uma festa tradicional chinesa, Yeh Hsien recebeu ordens de ficar em casa para tomar conta do pomar. Quando a jovem solitária viu que a mãe já ia longe, meteu-se num vestido de seda verde e seguiu-a até o local a festa. A irmã, que a reconhecera virou-se para a mãe dizendo: - "Não acha aquela jovem estranhamente parecida com minha irmã mais velha ?" A mãe também teve a impressão de reconhecê-la. Quando Yeh Hsien percebeu que a fitavam, correu, mas com tal pressa que perdeu um dos sapatinhos, o qual foi cair nas mãos dos populares.
Quando a mãe voltou para casa encontrou a filha dormindo com os braços ao redor de uma árvore; assim pôs de lado qualquer pensamento que pudesse ter sido acerca da identidade da jovem ricamente vestida.
Ora, perto das cavernas, havia um reino insular chamado T'o Huan. Por intermédio de forte exército governava duas vezes doze ilhas e suas águas territoriais cobriam vários milhares de li. O povo vendeu, portanto, o sapatinho para o Reino T'o Huan, onde foi ter às mãos do rei. O rei fêz as suas mulheres experimentá-lo, mas o sapatinho era cerca de uma polegada menor dos das que tinham os menores pés. Depois fez com que o experimentassem todas as mulheres do reino sem que nenhuma conseguisse calçá-lo.
O rei, então, suspeitou que o homem que o tinha levado o tivesse obtido por meios mágicos e mandou aprisioná-lo e torturá-lo. Mas o pobre infeliz nada pôde dizer sobre a procedência do sapato. Finalmente, emissários e correios foram enviados pela estrada para irem de casa em casa a fim de prenderem quem quer que tivesse o outro sapatinho. O rei estava muito intrigado.
A casa foi encontrada, bem como Yeh Hsien. Fizeram-na calçar os sapatinhos e eles couberam perfeitamente. Depois ela apareceu com os sapatinhos e o vestido de seda verde tal como uma deusa. Mandaram contar o caso ao rei e o rei levou Yeh Hsien para seu palácio na ilha juntamente com os ossos do peixe.
Assim que Yeh Hsien foi levada, a mãe e a irmã foram mortas a pedradas. Os populares apiedaram-se delas, sepultando-as num buraco e erigindo um túmulo a que deu o nome de "Túmulo das Arrependidas". Passaram a reverenciá-las como espíritos casamenteiros e sempre que alguém pedia-lhes uma graça no sentido de arranjar ou ser feliz em negócios de casamento tinha certeza de que sua prece era atendida.
O rei voltou à sua ilha e fêz de Yeh Hsien sua primeira espôsa. Mas durante o primeiro ano de seu casamento, ele pediu aos ossos do peixe tantos jades e coisas preciosas que eles se recusaram a conceder-lhe mais desejos. Por isso o rei pegou os ossos e enterrou-os bem perto do mar, junto com uma centena de pérolas e uma porção de ouro. Quando seus soldados se rebelaram contra ele, foi ter ao lugar em que enterrara os ossos, mas a maré os levara e nunca mais foram encontrados até hoje. Essa história me foi contada por um velho servo de minha família, Li Shih-yüan. Ele descendia de um povo chamado Yungchow e sabia de muitas historias estranhas do sul.
Certa vez, antes de Ch'in (222-206 a.C.) e Han havia um chefe das cavernas da montanha a quem os nativos chamavam chefe Wu. Ele se casou com duas mulheres uma das quais morreu deixando-lhe uma menina chamada Yeh Hsien. Essa menina era muito inteligente e habilidosa no bordado a ouro e o pai amava-a ternamente, mas, quando êle morreu, viu-se maltratada pela madrasta que seguidamente a forçava a cortar lenha e mandava-a a lugares perigosos para apanhar água em poços profundos.
Um dia, Yeh Hsien pescou um peixe com mais de duas polegadas de comprimento e que tinha as barbatanas vermelhas e os olhos dourados. Trouxe-o para casa e o pôs numa vasilha com água. Cada dia o peixe crescia mais e tanto cresceu que, finalmente, a vasilha não lhe serviu mais e a menina o soltou numa lagoa que havia por trás de sua casa. Yeh Hsien costumava alimentá-lo com as sobras de sua comida. Quando ela chegava à lagoa, o peixe vinha até a superfície e descansava a cabeça na margem, mas se alguém se aproximasse não aparecia.
Esse hábito curioso foi notado pela madrasta que esperou o peixe sem que este lhe aparecesse. Um dia, lançou mão de astúcia e disse à enteada: - "Não está cansada de trabalhar? Quero dar-lhe uma roupa nova." Em seguida fêz Yeh Hsien tirar a roupa que vestia e mandou-a a várias centenas de li para trazer água de um poço. A velha, então, pôs o vestido de Yeh Hsien e estendeu uma faca afiada na manga da blusa; dirigiu-se para a lagoa e chamou o peixe. Quando o peixinho pôs a cabeça fora d’água, ela o matou. Por essa ocasião, o animalzinho já media mais de dez pés de comprimento e, depois de cozido, mostrou ter sabor mil vezes melhor do que qualquer outro. E a madrasta enterrou seus ossos num monturo.
No dia seguinte, Yeh Hsien voltou e ao aproximar-se da lagoa verificou que o peixe desaparecera. Correu para chorar escondida no meio do mato e nisso um homem de cabelo desgrenhado e coberto de andrajos desceu dos céus e a consolou, dizendo: - “Não chore. Sua mãe matou o peixe e enterrou os ossos num monturo. Vá para casa, leve os ossos para seu quarto e os esconda. Tudo o que você quiser peça que lhe será concedido". Yeh Hsien seguiu o conselho e pouco tempo depois tinha uma porção de ouro, de jóias e roupas de tecido tão caro que seriam capazes de deleitar o coração de qualquer donzela.
Na noite de uma festa tradicional chinesa, Yeh Hsien recebeu ordens de ficar em casa para tomar conta do pomar. Quando a jovem solitária viu que a mãe já ia longe, meteu-se num vestido de seda verde e seguiu-a até o local a festa. A irmã, que a reconhecera virou-se para a mãe dizendo: - "Não acha aquela jovem estranhamente parecida com minha irmã mais velha ?" A mãe também teve a impressão de reconhecê-la. Quando Yeh Hsien percebeu que a fitavam, correu, mas com tal pressa que perdeu um dos sapatinhos, o qual foi cair nas mãos dos populares.
Quando a mãe voltou para casa encontrou a filha dormindo com os braços ao redor de uma árvore; assim pôs de lado qualquer pensamento que pudesse ter sido acerca da identidade da jovem ricamente vestida.
Ora, perto das cavernas, havia um reino insular chamado T'o Huan. Por intermédio de forte exército governava duas vezes doze ilhas e suas águas territoriais cobriam vários milhares de li. O povo vendeu, portanto, o sapatinho para o Reino T'o Huan, onde foi ter às mãos do rei. O rei fêz as suas mulheres experimentá-lo, mas o sapatinho era cerca de uma polegada menor dos das que tinham os menores pés. Depois fez com que o experimentassem todas as mulheres do reino sem que nenhuma conseguisse calçá-lo.
O rei, então, suspeitou que o homem que o tinha levado o tivesse obtido por meios mágicos e mandou aprisioná-lo e torturá-lo. Mas o pobre infeliz nada pôde dizer sobre a procedência do sapato. Finalmente, emissários e correios foram enviados pela estrada para irem de casa em casa a fim de prenderem quem quer que tivesse o outro sapatinho. O rei estava muito intrigado.
A casa foi encontrada, bem como Yeh Hsien. Fizeram-na calçar os sapatinhos e eles couberam perfeitamente. Depois ela apareceu com os sapatinhos e o vestido de seda verde tal como uma deusa. Mandaram contar o caso ao rei e o rei levou Yeh Hsien para seu palácio na ilha juntamente com os ossos do peixe.
Assim que Yeh Hsien foi levada, a mãe e a irmã foram mortas a pedradas. Os populares apiedaram-se delas, sepultando-as num buraco e erigindo um túmulo a que deu o nome de "Túmulo das Arrependidas". Passaram a reverenciá-las como espíritos casamenteiros e sempre que alguém pedia-lhes uma graça no sentido de arranjar ou ser feliz em negócios de casamento tinha certeza de que sua prece era atendida.
O rei voltou à sua ilha e fêz de Yeh Hsien sua primeira espôsa. Mas durante o primeiro ano de seu casamento, ele pediu aos ossos do peixe tantos jades e coisas preciosas que eles se recusaram a conceder-lhe mais desejos. Por isso o rei pegou os ossos e enterrou-os bem perto do mar, junto com uma centena de pérolas e uma porção de ouro. Quando seus soldados se rebelaram contra ele, foi ter ao lugar em que enterrara os ossos, mas a maré os levara e nunca mais foram encontrados até hoje. Essa história me foi contada por um velho servo de minha família, Li Shih-yüan. Ele descendia de um povo chamado Yungchow e sabia de muitas historias estranhas do sul.
"Yuyang Tsatsu", século IX
Tato
Na poltrona da sala
as mãos sob a nuca
sinto nos dedos
a dureza do osso da cabeça
a seda dos cabelos
que são meus
A morte é uma certeza invencível
mas o tato me dá
a consistente realidade
de minha presença no mundo
as mãos sob a nuca
sinto nos dedos
a dureza do osso da cabeça
a seda dos cabelos
que são meus
A morte é uma certeza invencível
mas o tato me dá
a consistente realidade
de minha presença no mundo
Ferreira Gullar
A leitura morreu, viva a decoração!
Há quem diga que o conhecimento é poder. Eu digo que o conhecimento é decoração. Claro, existe aquele grupo seleto de pessoas que realmente lê livros. São criaturas místicas, de olhos miúdos e costas curvadas, que frequentam bibliotecas não por causa do Wi-Fi, mas pela literatura. E eu? Sempre vi os livros como uma oportunidade estética. E, com um toque de criatividade, também utilitária.
Foi assim que começou meu projeto de reutilização literária criativa. Ou, como meu primo, delegado de polícia, prefere chamar: crime contra o patrimônio público.
Tudo começou numa tarde nublada, com a minha estante implorando por relevância. Peguei emprestado (veja bem, emprestado com intenção artística) um volume esquecido da biblioteca: História da artilharia do século 19, tomo II. Havia um volume I, mas pesava como uma vaca morta, e eu estava sem carro naquele dia.
Em casa, retirei o casaco, o livro e qualquer vestígio de culpa. Colei todas as páginas com cola branca escolar (ah, aquele aroma nostálgico do ensino fundamental) e furei um buraco no centro da capa com a ajuda de um saca-rolha. Pronto! Agora eu tinha um belíssimo porta-vela tremeluzente, que transmitia uma aura de intelectualidade gótica.
Descobri que livros antigos são ótimos para esconder coisas. Um dicionário de latim virou meu estojo de escovas de dentes para visitas. A coletânea de romances russos agora guarda minhas meias perdidas. O que, preciso admitir, também transmite uma certa melancolia existencial.
Mas foi com O jogador, de Dostoiévski, que atingi o ápice da arte: transformei-o em um porta-contas atrasadas, uma homenagem ao espírito da inadimplência de Fiódor.
Recebi algumas críticas, é claro. A bibliotecária me reconheceu na câmera de segurança e enviou uma intimação. Que, ironicamente, agora repousa enrolada dentro de O crime do padre Amaro, fazendo jus ao título. Há quem diga que fui longe demais, mas reitero que fui apenas até a página três. Depois, ficou tudo colado.
A verdade é que, hoje em dia, os livros perderam a batalha contra as telas. Ninguém mais se dá ao trabalho de folhear páginas quando pode assistir a um vídeo de 30 segundos que resume Finnegans wake com emojis e trilha sonora de kuduro. As estantes viraram cenário de videoconferência. E os livros, coitados, coadjuvantes decorativos. Muitas vezes, são comprados por metro, como papel de parede. Diante disso, nada mais justo do que ressignificar seu uso: se já não informam, que pelo menos combinem com o sofá da Tok&Stok. Afinal, entre a sabedoria de Wittgenstein e o tom exato do bege da cortina, o segundo é que realmente causa impacto nas visitas.
Se reaproveitar livros é um crime, então me declaro culpado. Porque, no fim das contas, quem precisa ler quando pode decorar?
Foi assim que começou meu projeto de reutilização literária criativa. Ou, como meu primo, delegado de polícia, prefere chamar: crime contra o patrimônio público.
Tudo começou numa tarde nublada, com a minha estante implorando por relevância. Peguei emprestado (veja bem, emprestado com intenção artística) um volume esquecido da biblioteca: História da artilharia do século 19, tomo II. Havia um volume I, mas pesava como uma vaca morta, e eu estava sem carro naquele dia.
Em casa, retirei o casaco, o livro e qualquer vestígio de culpa. Colei todas as páginas com cola branca escolar (ah, aquele aroma nostálgico do ensino fundamental) e furei um buraco no centro da capa com a ajuda de um saca-rolha. Pronto! Agora eu tinha um belíssimo porta-vela tremeluzente, que transmitia uma aura de intelectualidade gótica.
Descobri que livros antigos são ótimos para esconder coisas. Um dicionário de latim virou meu estojo de escovas de dentes para visitas. A coletânea de romances russos agora guarda minhas meias perdidas. O que, preciso admitir, também transmite uma certa melancolia existencial.
Mas foi com O jogador, de Dostoiévski, que atingi o ápice da arte: transformei-o em um porta-contas atrasadas, uma homenagem ao espírito da inadimplência de Fiódor.
Recebi algumas críticas, é claro. A bibliotecária me reconheceu na câmera de segurança e enviou uma intimação. Que, ironicamente, agora repousa enrolada dentro de O crime do padre Amaro, fazendo jus ao título. Há quem diga que fui longe demais, mas reitero que fui apenas até a página três. Depois, ficou tudo colado.
A verdade é que, hoje em dia, os livros perderam a batalha contra as telas. Ninguém mais se dá ao trabalho de folhear páginas quando pode assistir a um vídeo de 30 segundos que resume Finnegans wake com emojis e trilha sonora de kuduro. As estantes viraram cenário de videoconferência. E os livros, coitados, coadjuvantes decorativos. Muitas vezes, são comprados por metro, como papel de parede. Diante disso, nada mais justo do que ressignificar seu uso: se já não informam, que pelo menos combinem com o sofá da Tok&Stok. Afinal, entre a sabedoria de Wittgenstein e o tom exato do bege da cortina, o segundo é que realmente causa impacto nas visitas.
Se reaproveitar livros é um crime, então me declaro culpado. Porque, no fim das contas, quem precisa ler quando pode decorar?
Um artista do trapézio
Um artista do trapézio — como se sabe, esta arte que se pratica no alto das cúpulas dos grandes circos é uma das mais difíceis entre todas aquelas possíveis ao homem — havia organizado sua vida de tal maneira que — primeiro por zelo profissional de perfeição, depois por um hábito que tinha se tornado tirânico — enquanto trabalhava para o mesmo patrão, permanecia dia e noite no trapézio.
Dessa maneira de viver não resultavam para o trapezista dificuldades especiais com o resto do mundo. Era somente um pouco incômodo para os demais números do programa, porque não se podia ocultar que ficara lá em cima, se bem que se mantivesse quieto, alguns olhares do público se desviavam para ele. Mas os diretores perdoavam-no porque era um artista extraordinário, insubstituível.
A não ser nessas ocasiões, estava sempre sozinho. Às vezes, um empregado vagando na hora do descanso pelo circo vazio elevava o olhar à quase atraente altura em que o trapezista descansava ou se exercitava em sua arte, sem saber que era observado.
Assim, poderia viver tranquilo o artista do trapézio a não ser pelas inevitáveis viagens de um lugar para outro que o importunavam enormemente. Certo é que o empresário tratava de abreviar esse sofrimento.
O trapezista era conduzido à estação num carro de corridas que ia de madrugada pelas ruas desertas a toda velocidade; demasiado lento, entretanto, para sua nostalgia do trapézio.
No trem estava preparado um lugar especialmente para ele com uma substituição mesquinha — mas de algum modo equivalente, de sua maneira de viver.
No local de destino, já estava armado o trapézio muito antes de sua chegada, mesmo antes de serem cerradas as tábuas e colocadas as portas. Para o empresário o momento mais agradável era aquele em que o trapezista apoiava o pé na corda de subida e ia se acomodar novamente em seu trapézio.
Apesar de todas essas precauções, as viagens perturbavam gravemente os nervos do trapezista, de modo que, por melhores que fossem, economicamente falando, para o empresário, sempre lhe resultavam penosos.
Uma vez em que viajavam, o artista no seu posto, sonhando, e o empresário perto da janela, lendo, o homem do trapézio interpelou-o suavemente. E disse-lhe, mordendo os lábios, que daquele dia em diante necessitava, para viver, não um trapézio, como até então, mas dois, um em frente do outro.
O empresário acedeu imediatamente. Mas o trapezista, como se quisesse demonstrar que a aceitação do empresário não importava mais que sua oposição, acrescentou que nunca mais, em nenhuma ocasião, trabalharia unicamente sobre um trapézio. Parecia horrorizar-se diante da ideia que isso lhe pudesse acontecer alguma vez. O empresário, detendo-se e observando seu artista, reiterou sua absoluta conformidade. Dois trapézios é melhor do que um. Por outro lado, os exercícios seriam mais variados e mais agradáveis à vista.
Mas o artista, de repente, pôs-se a chorar. O empresário, profundamente comovido, levantou-se e perguntou o que havia. E, como não recebesse resposta, subiu para perto do artista, acariciou-o, abraçou-o e encostou seu rosto no dele, até sentir as lágrimas em sua pele. Depois de muitas perguntas e palavras carinhosas o trapezista exclamou soluçando:
Uma única barra nas mãos. Como eu poderia viver!
Então já se tornou mais fácil ao empresário consolá-lo. Prometeu-lhe que na primeira estação, na primeira parada, telegrafaria para que instalassem o segundo trapézio, e recriminou-se por ter deixado o artista trabalhar tanto tempo em um só trapézio. Enfim, agradeceu-lhe por ter-lhe feito notar aquela omissão imperdoável. Desta maneira, o empresário conseguiu tranquilizar o artista e retornar para seu lugar.
Em troca, ele é que não estava tranquilo. Com grave preocupação espiava, às ocultas, por cima do livro. Se semelhantes pensamentos haviam começado a atormentá-lo, poderiam cessar por completo? Não continuariam aumentando dia a dia? Não ameaçariam sua existência? E o empresário, alarmado, pensou ver naquele sonho aparentemente calmo, em que haviam terminado os soluços, começar a esboçar-se a primeira ruga na testa infantil do artista do trapézio.
Todas suas necessidades — por outro lado, muito pequenas — eram satisfeitas por criados que se revezavam e ficavam, embaixo, vigiando. Tudo o que se necessitava em cima era levado e trazido em cestinhos construídos especialmente para aquela finalidade.
Dessa maneira de viver não resultavam para o trapezista dificuldades especiais com o resto do mundo. Era somente um pouco incômodo para os demais números do programa, porque não se podia ocultar que ficara lá em cima, se bem que se mantivesse quieto, alguns olhares do público se desviavam para ele. Mas os diretores perdoavam-no porque era um artista extraordinário, insubstituível.
Ademais, sabia-se que não vivia assim por capricho e que só daquela maneira podia estar perfeitamente em forma e conservar a extrema perfeição de sua arte.
Além disso, lá em cima ele ficava muito bem. Quando, nos quentes dias de verão, se cobriam as janelas laterais que havia em redor da cúpula, e o sol e o ar irrompiam no crepuscular do circo, era até belo. Sua convivência humana era muito limitada, é claro. Às vezes trepava pela corda de ascensão algum colega de "tournée", sentava-se a seu lado, no trapézio, apoiado um na corda da direita, outro na da esquerda, e conversavam longamente. Os operários que consertavam o teto trocavam algumas palavras com ele através da claraboia, ou o eletricista que verificava os fios na galeria mais alta gritava alguma palavra respeitosa, se bem que quase ininteligível.
Além disso, lá em cima ele ficava muito bem. Quando, nos quentes dias de verão, se cobriam as janelas laterais que havia em redor da cúpula, e o sol e o ar irrompiam no crepuscular do circo, era até belo. Sua convivência humana era muito limitada, é claro. Às vezes trepava pela corda de ascensão algum colega de "tournée", sentava-se a seu lado, no trapézio, apoiado um na corda da direita, outro na da esquerda, e conversavam longamente. Os operários que consertavam o teto trocavam algumas palavras com ele através da claraboia, ou o eletricista que verificava os fios na galeria mais alta gritava alguma palavra respeitosa, se bem que quase ininteligível.
A não ser nessas ocasiões, estava sempre sozinho. Às vezes, um empregado vagando na hora do descanso pelo circo vazio elevava o olhar à quase atraente altura em que o trapezista descansava ou se exercitava em sua arte, sem saber que era observado.
Assim, poderia viver tranquilo o artista do trapézio a não ser pelas inevitáveis viagens de um lugar para outro que o importunavam enormemente. Certo é que o empresário tratava de abreviar esse sofrimento.
O trapezista era conduzido à estação num carro de corridas que ia de madrugada pelas ruas desertas a toda velocidade; demasiado lento, entretanto, para sua nostalgia do trapézio.
No trem estava preparado um lugar especialmente para ele com uma substituição mesquinha — mas de algum modo equivalente, de sua maneira de viver.
No local de destino, já estava armado o trapézio muito antes de sua chegada, mesmo antes de serem cerradas as tábuas e colocadas as portas. Para o empresário o momento mais agradável era aquele em que o trapezista apoiava o pé na corda de subida e ia se acomodar novamente em seu trapézio.
Apesar de todas essas precauções, as viagens perturbavam gravemente os nervos do trapezista, de modo que, por melhores que fossem, economicamente falando, para o empresário, sempre lhe resultavam penosos.
Uma vez em que viajavam, o artista no seu posto, sonhando, e o empresário perto da janela, lendo, o homem do trapézio interpelou-o suavemente. E disse-lhe, mordendo os lábios, que daquele dia em diante necessitava, para viver, não um trapézio, como até então, mas dois, um em frente do outro.
O empresário acedeu imediatamente. Mas o trapezista, como se quisesse demonstrar que a aceitação do empresário não importava mais que sua oposição, acrescentou que nunca mais, em nenhuma ocasião, trabalharia unicamente sobre um trapézio. Parecia horrorizar-se diante da ideia que isso lhe pudesse acontecer alguma vez. O empresário, detendo-se e observando seu artista, reiterou sua absoluta conformidade. Dois trapézios é melhor do que um. Por outro lado, os exercícios seriam mais variados e mais agradáveis à vista.
Mas o artista, de repente, pôs-se a chorar. O empresário, profundamente comovido, levantou-se e perguntou o que havia. E, como não recebesse resposta, subiu para perto do artista, acariciou-o, abraçou-o e encostou seu rosto no dele, até sentir as lágrimas em sua pele. Depois de muitas perguntas e palavras carinhosas o trapezista exclamou soluçando:
Uma única barra nas mãos. Como eu poderia viver!
Então já se tornou mais fácil ao empresário consolá-lo. Prometeu-lhe que na primeira estação, na primeira parada, telegrafaria para que instalassem o segundo trapézio, e recriminou-se por ter deixado o artista trabalhar tanto tempo em um só trapézio. Enfim, agradeceu-lhe por ter-lhe feito notar aquela omissão imperdoável. Desta maneira, o empresário conseguiu tranquilizar o artista e retornar para seu lugar.
Em troca, ele é que não estava tranquilo. Com grave preocupação espiava, às ocultas, por cima do livro. Se semelhantes pensamentos haviam começado a atormentá-lo, poderiam cessar por completo? Não continuariam aumentando dia a dia? Não ameaçariam sua existência? E o empresário, alarmado, pensou ver naquele sonho aparentemente calmo, em que haviam terminado os soluços, começar a esboçar-se a primeira ruga na testa infantil do artista do trapézio.
Franz Kafka
sexta-feira, janeiro 30
Minha amante Esperança
Em plena juventude ela tentou se matar.
Despertando no hospital deparou com uma enfermeira que a interpelou: – Mas por quê, por quê? Ela respondeu, sucinta, lúcida, plena de sua própria dor: – Sem esperança. Todos conhecemos esses dias sem horizonte à vista. A experiência nos ensina que eles passam, a não ser que estejamos doentes ou sejamos ferrenhos pessimistas por natureza ou formação. Ser mais ou menos otimista depende de criação, ambiente familiar, disposição genética (ah, a genética da alma… ), situações do momento. Claro que ter confiança quando se está contente é fácil. Mas não somos só nossa circunstância, somos também nossa essência.
O grande pessimista colhe todas as notícias ruins do jornal e manda aos amigos cada manhã; acha que o ser humano não presta mesmo, o mundo é mero palco de guerras e corrupção. O excessivamente otimista acha que a realidade é a das telenovelas e dos sonhos adolescentes, das modas, das revistas, da praia, do clube. O sensato (não o sem graça, não o chato) sabe que o ser humano não é grande coisa, mas gosta dele; que a vida é luta, mas quer vivê-la bem; que existem – além de injustiça, traição e sofrimento – beleza e afetos e momentos de esplendor. Que se pode confiar sem ser a toda hora traído por quem se ama. Posso ser um pessimista essencial, por natureza ou formação ou circunstâncias. Posso porém estar apenas deprimido. Para sair de uma fase depressiva há mil recursos à disposição de qualquer pessoa. Terapia, uma bela caminhada, um novo amor, pintar o cabelo, jantar num lugar delicioso, mudar de lugar os vasos do jardim, ver o que acontece nas artes. Ler, refletir, observar o dentro e o fora. Comprar um cachorro, ir ao futebol, planejar uma viagem (pode ser só até ali). Tentar aproximar-se da arte, qualquer que ela seja. Renovar interesses e afetos, cultivá-los. Mas se eu curto a minha depressão ou minha visão negra de tudo, se com isso pretendo chamar a atenção dos outros ou puni-los (ou a mim mesmo), posso optar pelo eterno descontentamento. Aos poucos ficarei segregado do círculo dos que são os vitais amantes da esperança.
Que existem modos de ser feliz, mais feliz, e podemos perseguí-los. Mas essa não é uma caça aos tesouros comprados com dinheiro: é uma perseguição interna, a dos nossos valores, do nosso valor, das nossas crenças e do nosso real desejo.
Quero, preciso, ter esse corpo, essa sexualidade, esses objetos de consumo que os outros exigem de mim – ou fico mais contente sendo como sou, saboreando o que posso adquirir e programando o que posso transformar? Para decidir isso devíamos abrir em nosso cotidiano um espaço de recolhimento, observação, auto-observação. É preciso o silêncio ativo de quem pensa. Mas é difícil fugir da convenção social que, se por um lado nos traz uma vasta coleção de livros e cursos que falam de meditação, reflexão, espiritualidade (que também anda se tornando moda… ), por outro lado comanda por todos os meios que a gente se agite: é preciso sair, viajar, tem de fazer, frequentar, aparecer.
Tem de ser alegre e atualizado, tem de aparecer, conhecer os lugares da moda, ser chique, viajar, claro – nem tanto para abrir os horizontes, mas para depois poder participar das conversas com os amigos ou conhecidos. O mais novo restaurante, a mais moderna galeria, a loja mais fantástica. Tem de ser feliz com hora marcada, nos fins de semana, assim como alguns casais precisam se amar (somente) nas tardes de sábado.
Na juventude somos aprendizes, somos amadores na vida. Na maturidade devíamos ser bons profissionais do viver: lúcidos e ainda otimistas, mais serenos, de uma beleza diferente, produtivos e competentes. Mas me disseram que passada certa fase não posso mais mudar de rumo, de casa, de roupa, de lugar. Mesmo na pior relação, nem pensar em me separar, em me apaixonar (ainda que eu seja livre), em ter uma boa vida sexual (ainda que eu seja saudável). Não teremos escolha, se passamos de “certa idade”? Com o passar do tempo efetivamente passa o “nosso tempo”? A escolha é nossa, de cada um de nós. Temos escolha, mas somos inseguros. Podemos mudar, mas não acreditamos nisso. Boa parte dessa hesitação vem de fora, de palpites alheios, de propósitos superficiais, de modelos tolos. Viver e ser feliz não deveria ser assim tão complicado, reclamou alguém. E por que a gente não simplifica ao menos o que pode descomplicar? Amadurecer deveria ser requintar-se na busca da simplicidade. Escrevo em meus romances sobre nosso lado obscuro, sobre conflito e drama. Tento desvelar a face trevosa, de perversidade, de autodestruição, de acúmulo de raivas e ressentimento que há no ser humano. Mas não acredito que ele seja principalmente isso. Gosto de gente. Sou solidária com os personagens de ficção que criei com minha imaginação. Quem não me conhece e me julga, pelos meus livros, um ser distante ou sombrio, engana-se: vive em mim uma incorrigível otimista que acredita em ser feliz. Em renovação, em superação, em sobrevivência = não como resto e destroço, mas como um ser a cada fase inteiro. Acredito que viver é elaborar e criar: são inevitáveis as fatalidades, doença e morte. O resto – que é todo o vasto interior e exterior – eu mesma construo. Sou dona do meu destino. É mais cômodo queixar-me da sorte em lugar de rever minhas escolhas e melhorar meus projetos.
“Como posso ser otimista se minha mãe sofre de Alzheimer e meu marido se aposentou com pouco dinheiro e está em casa deprimido, meu filho não encontra seu caminho.., se minhas mãos estão manchadas, o pescoço enrugado, o seio mais caído?” A gente consegue. Não necessariamente com novas técnicas sexuais não com objetos de grife, não no clube da moda ou na praia mais sofisticada: é aqui que aprendo isso. No silêncio de minha casa, de meu corpo, de meu pensamento. Na força de minha decisão, talvez no salto de minha transgressão. Se aceito a ideia de que tudo se encerra quando acaba a juventude, minha possibilidade de ser alguém válido diminui a cada ano. Essa perspectiva produz inércia e desperdício de talentos que poderiam ser cultivados até o fim, sem importar a idade.
Quando, separada do pai de meus filhos, refiz minha vida com outra pessoa, a frase que mais ouvi de amigos foi: “Mas na sua idade a gente ainda pode tentar ser feliz mais uma vez?” Eu me espantava: “Gente, tenho só 46 anos, não 146!” Isso foi aguçando meu interesse pela questão: somos modernos e tão antigos; somos liberados e tão limitados; somos do novo milênio e nem ao menos aceitamos com inteligência a passagem do tempo, e a nossa passagem no tempo. Lançadas as nossas bases – a juventude – começamos enfim a crescer. Aprendemos a relaxar, a ter mais humor, a driblar melhor as coisas negativas, a prestar mais atenção ao que se desenrola à nossa volta. A felicidade exige paciência: é soma, acréscimo, conquista e aperfeiçoamento.
Numa palestra sobre novos interesses na maturidade e na velhice notei que 90% dos frequentadores eram mulheres. Perguntei a um colega meu da mesa de palestrantes, médico: “Onde estão os homens que deveriam estar nesta plateia… Ele, brincando, devolveu a pergunta: “Você já ouviu falar em excursão para viúvos ou palestras para homens?” Eu nunca tinha pensado nisso. Por que não existem? Porque há menos homens viúvos, uma vez que morrem antes das mulheres, e os que ficam sozinhos raramente permanecem sozinhos, buscam logo outra companheira? É possível. Porque boa parte deles, ficando sozinhos, se resignam, se deprimem mais tempo, apoiam-se mais nos filhos? Também. Porque se ocupam mais com seu trabalho quando não se aposentam precoce e desnecessariamente? Idem.
Serão mais inibidos pela ideia que lhes é imposta de que não se pode mudar, é preciso conquistar e aferrar-se a uma posição, voltar atrás é fraqueza. Além disso mulheres têm maior capacidade de formar laços, de curtir afetos, de se reunir em grupo. São mais solidárias e mais cúmplices entre si. Talvez com mais capacidade de alegria. Vejo mulheres viajando sozinhas, em pares ou grupos, divertindo-se, conhecendo coisas e lugares, cultivando interesses, travando novas relações, voltando a estudar. Interagindo, progredindo. Não vejo tantas vezes homens fazendo o mesmo. Viajando em dois ou em grupos, desconheço.
Voltando a estudar, raramente. Por que aos 70 anos não se pode fazer uma pós-graduação, por exemplo? Ou entrar pela primeira vez em uma biblioteca pública para ver o que há nos livros? O que se vê de novo nos cinemas? Seja como for, todos precisamos encontrar uma solução para o inibidor medo da passagem do tempo, que é afinal medo de viver.
Preferíamos nem viver para não gastarmos a alma, encolhidos na concha da alienação. Mas como é que se pode ter vontade, se parece que cada dia a gente perde alguma coisa? Algo se perde? Muito se perde. Tenho hoje uma pequena lista de pessoas que amei que se afastaram ou morreram; se eu chegar aos 80 anos, ela certamente terá crescido. Mas tenho uma doce lista de pessoas que chegaram: não só netos, mas novos amigos de todas as idades. Sem falar nas inovações de técnica que quero conhecer ou utilizar, nas descobertas que tentarei acompanhar, nos livros por ler, nas coisas a fazer. Outro dia perguntei à minha filha médica se eu não estaria desidratada, porque minha pele estava diferente. Ela olhou, sorriu com esse jeito de mãe com que as filhas nos tratam às vezes, e disse com uma graça afetuosa: – Mãe, você tem 60 anos, né? É só isso.
Rimos juntas, nessa cumplicidade típica de mães e filhas. Nem por um segundo tive saudade da pele dos meus 20 anos, pois ela era acompanhada de todas as aflições (e delícias) daquela fase, das quais hoje estou poupada. Olhei bem no espelho, com os óculos de que desde sempre preciso para ler. Verdade: muita coisa mudou. Não estou acabada, estou diferente do que era. Fisicamente estou diversa da menina e da jovem mulher.
O que vou fazer? Me desesperar, me envergonhar, querer voltar atrás?
Prefiro me divertir, encarar com senso de realismo que mudei, e saber que os que me amam continuam me amando apesar de tudo – ou por causa de tudo. “Mas como é possível que algo melhore com a idade?”, me perguntaram com vaga indignação. Comecei a calcular, meio na brincadeira: eu me divirto muito mais, a começar no trabalho. Escrever, publicar, aguardar críticas e vendas do meu primeiro romance aos 40 anos foi um êxtase e um susto. Hoje, com tantos livros publicados e tantos leitores fiéis, sinceramente não dou mais a mínima. Não preciso mais mostrar serviço; preciso apenas fazer o que faço com mais leveza (nunca menos seriedade), mais alegria. Mais exigências, isso sim, mas sem demasiada tensão. Nunca me ocorreu ser agressiva em relação aos meus colegas, pois cedo aprendi que em nosso campo de trabalho há lugar para muitos, para todos. Posso me alegrar com o sucesso dos outros sem temer que ele afete o meu pequeno êxito. Porque sou generosa? Não: é porque embora muitas vezes me atrapalhe, erre, cometa todas as futilidades imagináveis, não tenho a afobação nem a insegurança dos 20 anos. Nem aquela simpática pontinha de arrogância que faz com que, jovens, pensemos que o mundo é nosso – e nos deve homenagens. Meu corpo está mudando como está desde que nasci. Meu coração se transforma a cada experiência. Mas ainda palpita, se sobressalta e se assusta. Ainda sou vulnerável ao belo e bom, ao ruim e ao decepcionante, como quando eu tinha 10 anos. Somos isso: somos essa mistura, essa contradição, essa indagação permanente. Estamos vivos.
Também não pretendo afirmar que maturidade é “melhor” do que juventude, velhice “melhor” do que maturidade: digo que cada momento é meu momento, e devo tentar vivê-lo da melhor forma possível, com realismo, com sensatez, com um grão de audácia, e com toda a possível alegria. Por dentro ainda sou a menina que se assusta ou diverte com qualquer bobagem que outros nem percebem, entretidos que estão com assuntos mais importantes. Me divido entre devaneio e vida prática, sem saber direito a qual pertenço. Com o tempo entendi que essa indefinição é só aparente, que a ambiguidade me torna sólida. Muita coisa esconjurei em meus romances, aprendi que o bom humor pode ajudar o amor. Tem algumas vantagens, esse tempo da madureza de que fala o poeta. Que liberdade não ter mais que decidir caminhos profissionais e afirmar-me neles; parir e criar filhos, comprar casa, apertar orçamentos; temer a vastidão do futuro – e haveria lugar para mim dentro dele? Muita coisa que em seu tempo foi dramática, hoje é lembrança que me faz sorrir compadecida com aquela que se enrolava em tantas trapalhadas. Se alguém me amar agora, não será por um belo corpo que fatalmente vai mudar, mas por isto que hoje sou sem disfarces. Nenhuma esplendorosa jovem de 20 anos me ameaça: meu território é outro. Tive perdas, e se multiplicam com o passar do tempo. Tive ganhos, num saldo que não me faz sentir injustiçada.
Especialmente, não perdi essa obstinada confiança que me impele a prosseguir quando o próximo passo parece difícil demais.
Estarmos abertos à renovação e mudança é estarmos vivos. Independe da fase em que estamos. E se aparecer um novo amor podemos renascer para isso, a qualquer momento. Não precisamos mais criar filhos, estabelecer família (o que eu quis muito, e me deu imensas alegrias). Cumprimos muitos deveres. Erramos, porque também isso é preciso. Sofremos, porque faz parte. As crianças que se agarravam à nossa saia hoje são adultos, perto ou longe de nós, mas ainda nossos filhos. A relação materna se enriqueceu e mudou. Podemos até partilhar um pouco com eles quando estivermos vivendo alguma história. “Mas que história?” “Sei (á, um novo projeto, uma viagem, um curso, uma amizade, um amor. “Amor? A essa altura?” Mães e avós são atuantes, viajando, amando, estudando, sendo simplesmente seres humanos pensantes e capazes até uma idade bastante avançada. Mas em algumas famílias, ai delas se, divorciadas ou viúvas, pensam em ter uma nova relação amorosa. São as incoerências de uma cultura que evoluiu precariamente: parece moderna, mas continua antiquada e infantil. “Não posso namorar, meus filhos iam me matar! Nem pensar, apresentar meu namorado em casa, meus filhos iam me achar ridícula!” Vai depender de cada um de nós que sua vida seja território seu ou apenas emprestado, com má vontade, de outros – mesmo filhos. Que seja campo para correr perseguindo projetos e colhendo vivências, ou cova estreita onde a gente se esconde e aguarda o golpe final.
“O tempo que rói e corrói precisa ser reinstaurado”, diz um personagem meu, e acrescento: – a nosso favor. Perdemos muito tempo tentando iludir o tempo. Fatalmente amadurecemos mas não nos sentimos mais serenos, nem estamos mais contentes. “Como é que posso me sentir contente a esta altura, com 50 anos? Aos 60, pior, aos 70, a catástrofe?”
Muitas boas coisas podemos fazer na maturidade, que ria juventude não conseguíamos. Faltava-nos disponibilidade, faltavam-nos experiência e liberdade, faltava-nos visão. Estávamos ocupados demais, tensos demais, divididos demais. Se não houver nada imediato para “fazer”, pois geralmente tomamos isso como agir, agitar, correr, inventaremos algo.
Pode ser apenas contemplação. Pensar. Ler. Olhar. Caminhar. Quando menos esperamos, salta à nossa frente algo para “fazer” concretamente. Até mesmo em lugar de curtir a síndrome do ninho vazio podemos preencher esse vácuo (pois filhos são sempre nossos filhos ainda que não morem conosco) com mil coisas a fazer. Vamos descobrir, quem sabe, que podemos nos expandir e crescer mais livremente sem tantas solicitações dentro de casa. Foram boas, foram alegres, foram estimulantes mesmo e difíceis, mas agora o tempo é outro. Porém não é tempo nenhum: e isso faz uma grande diferença.
Repensar e reformular-se pessoalmente fez muitas mulheres na maturidade saírem da sombra para se afirmarem em trabalho, ciência e arte. Quando os filhos cresceram, quando a monotonia se insinuava, notamos que ainda sobrava energia e vitalidade: à frente estendiam-se caminhos inexplorados. Saímos a desvendá-los. Muitas não se animaram. Muitas ficaram pelo caminho. Muitas perderam o rumo. Uma ou outra sentiu que era preferível ousar a desistir. Mas boa parte alçou voo e produziu, e participou – e floresceu ainda. No meu caso a insegurança ou a acomodação tinham decretado que eu não escreveria senão crônicas e poemas. O jogo que desde criança me atraía tanto, fazer ficção, parecia vedado: faltava confiança em mim mesma. Faltava a audácia que para algumas pessoas só vem na maturidade ou até depois. Eu adotara a posição confortável do “Eu? Imagina!” que nos exime de muito risco. Intuía que ao escrever romances iria extrair das entranhas personagens dramáticos, evocar medos e dúvidas bem além da minha experiência pessoal – pois falamos por outros, por muitos, por todos. Que estranhas criaturas iriam escancarar os armários onde estavam trancadas – e o que fariam comigo?
Que espaço exigiriam em meu organizado cotidiano? Por que tirar do sossego inquietações que estavam tão bem arquivadas? A fatídica “opinião alheia” ainda me constrangia um pouco: escrever e publicar foi um dos últimos exorcismos desse demônio que em mim nunca fora particularmente ativo, mas espreitava lá do seu recanto.
“O tempo que rói e corrói precisa ser reinstaurado” diz um personagem meu, e acrescento: – a nosso favor. Perdemos muito tempo tentando iludir o tempo. Fatalmente amadurecemos mas não nos sentimos mais serenos, nem estamos mais contentes. “Como é que posso me sentir contente a esta altura, com 50 anos? Aos 60, pior, aos 70, a catástrofe?”
Muitas boas coisas podemos fazer na maturidade, que na juventude não conseguíamos. Faltava-nos disponibilidade, faltavam-nos experiência e liberdade, faltava-nos visão. Estávamos ocupados demais, tensos demais, divididos demais. Se não houver nada imediato para “fazer”, pois geralmente tomamos isso como agir, agitar, correr, inventaremos algo.
Pode ser apenas contemplação. Pensar. Ler. Olhar. Caminhar. Quando menos esperamos, salta à nossa frente algo para “fazer” concretamente. Até mesmo em lugar de curtir a síndrome do ninho vazio podemos preencher esse vácuo (pois filhos são sempre nossos filhos ainda que não morem conosco) com mil coisas a fazer. Vamos descobrir, quem sabe, que podemos nos expandir e crescer mais livremente sem tantas solicitações dentro de casa. Foram boas, foram alegres, foram estimulantes mesmo e difíceis, mas agora o tempo é outro. Porém não é tempo nenhum: e isso faz uma grande diferença.
Escrevi aos 40 anos meu primeiro romance: até então não sabia bem para o que servia do ponto de vista profissional. Em casa repetia-se o diálogo: “Eu não consigo descobrir para o que sirvo do ponto de vista profissional.” “Então por que não se dedica mais à sua literatura?” “Mas como eu faria isso?” “Você vai descobrir.” Descobri. Com dor e dificuldade, acabei encontrando o caminho. E observei que naquele momento da nossa cultura muitas mulheres começavam a crescer como seres humanos e como profissionais mais ou menos naquela idade e com as mesmas vivências. Percebi que, nisso que provavelmente estava sendo a metade de minha vida, ainda havia muito por fazer. Como tantas mulheres, vi que não era hora de pensar em parar, em temer a menopausa, o futuro, a saída dos filhos de casa ou lamentar a juventude que passava.., mas de reestruturar, desenvolver, até iniciar muita coisa nova. Amadurecer começou ali. E foi uma sequência de descobertas, com muita dificuldade e muita alegria. Quem me amava me estimulou confiando em mim, e lhe serei sempre grata por isso: pelo amor que, em lugar de prender e controlar, me libertou e me ajudou a crescer.
Uma das questões, talvez a fundamental, é o que e quanto nos permitimos.
A tendência é de nos permitirem pouco, e de entrarmos nessa onda do: a esta altura? na sua situação? mas você acha mesmo que… ? Minha amiga divorciou-se, e ao ficar sozinha comprou um apartamento grande, iluminado, onde poderia morar confortavelmente uma família inteira. Em lugar de aplaudir, de a estimular, muitas pessoas se espantavam: “Mas pra que você, sozinha, num apartamento tão grande?”
E por que, estando só, ela deveria se acomodar num lugar pequeno – como se já não merecesse espaço? É como dizem às mulheres quando os filhos se foram e quem sabe o marido morreu: “Está doida, onde se viu, morar sozinha naquele casarão?” Mas por que (a não ser por questões reais de segurança, por exemplo) não se pode continuar morando numa casa grande para receber filhos, netos e amigos, e fazer festas – ou porque se aprecia? O espaço interior é necessário para a permanente recriação de si. São os aposentos que deveriam ser os mais generosos e iluminados.
Ali poderíamos analisar nosso trajeto feito, conferir nossos parâmetros, repensar os amores vividos e os projetos possíveis. Porém nesta nossa cultura do barulho e da agitação somos impelidos a fazer coisas, promover coisas, não a refletir sobre elas: precisamos de eventos, roteiros e programas, ou nos sentimos como quem fica de fora e para trás. Porém na verdade o que nos revigora é sossegar, entrar em nós, refletir. Nada se renova, inova, expande e se faz de verdade sem um momento de silêncio e observação. Depois disso podemos, devemos, querer e ousar.
Não nos salva o enquadramento medíocre e burocrático das almas documentais, mas o vasculhar corajoso dentro de si para encontrar o material essencial, e abraçado a ele saltar, às vezes até mesmo sem rede nem garantia. Não é necessário estar em todos os lugares para participar dos milagres e eventuais desconsertos de viver. Mesmo quieta em sua sala ou na mesa de trabalho, a gente pode existir, plenamente, conscientemente, validamente. Mais de uma vez, devido ao mito do escritor que ainda escreve a mão e detesta novidades, jornalistas me perguntaram o que eu acho da Internet, da Net, do computador, do celular, da tecnologia e dos avanços da ciência. Andar de avião é melhor do que ir de carroça; comunicar-me por e-mail com uma pessoa amada várias vezes ao dia – e tendo condições de fazer isso – é melhor do que escrever uma carta a cada duas semanas. Proteger uma criança com uma vacina é melhor do que deixá-la exposta à varíola, à caxumba, ao sarampo e à hepatite. Embora seja questão de gosto e hábito, e usar da caneta possa ter seu charme, eu há muitos anos não me imagino escrevendo e traduzindo a mão. O computador é o servo gentil e eficientíssimo que facilita meu trabalho. Não faz sentido optar por ficar mais isolada se tanta coisa se oferece na minha porta, na minha televisão, no meu computador… a não ser que eu prefira me encolher na pequenez do meu aposento interior sem janelas e talvez sem porta. Há quem goste de se fechar numa caverna. É uma escolha, e você a pode fazer. Mas, por favor, não esfrie o ambiente ao seu redor com os vapores de sua alma gélida.
Resumindo: primeiro, o progresso vem para ficar. Nadar contra a correnteza é no mínimo um desconforto inútil, pode parecer arrogante ou burro. Segundo, é melhor olhar as coisas do ângulo positivo. Nunca as pessoas se comunicaram tanto: amigos que jamais se escreveriam cartas (obsoletas as cartas, não?), se “falam” diariamente no e-mail. Pessoas que estariam na amarga solidão fazem novas amizades no chat. Amantes separados podem curtir um tipo novo de “presença”. O universo está à nossa disposição: mais recentes descobertas genéticas, livros de que aqui nem ouvimos falar ainda. Posso visitar os grandes museus, ler sobre cada obra, aproximar de minha vista cada detalhe.
Posso conhecer cidades remotas, ouvir música, jogar xadrez. A escolha é quase infinita. O lixo e o luxo das culturas estão ali para mim. “E o que a senhora acha de namorar ou até fazer sexo na Internet?” Como somos infantis, como são infantis alguns de nossos questionamentos.
Simpáticos, por isso mesmo. Respondo que não há de ser mais original do que faziam ou fazem escondidos os rapazinhos de outros tempos ou destes de agora com revistas especializadas. Damos importância excessiva a todos esses preconceitos, detalhes, pudores, censuras, quando há tanto para se deslumbrar. No vasto mar do vasto mundo – no qual as tecnologias não são boas nem más: dependem do seu uso. O gregário usará o computador para contactar pessoas, pesquisar, abrir-se para todo um universo. O deprimido vai querer se isolar mais. O psicopata exercitará suas grandes ou pequenas manias.
Finalmente, depois de tantas peripécias parece que ao menos do ponto de vista cronológico amadurecemos. Parece que chegamos a um patamar confortável. Superamos dores, cumprimos tarefas, já realizamos coisas que seriam impensáveis na juventude. Agora é recostar-se para trás e traçar projetos de liberdade: uma viagem, um novo curso, os livros para ler, as dores para esquecer, os amigos a encontrar. Mexer nas minhas plantas. Abrir as persianas e vibrar porque a manhã está deslumbrante e temos uma hora para caminhar nas ruas onde andamos há muitos anos: cada folha, cada muro é um conhecido íntimo – e também isso é bom. Mas a velha inquietação, duendezinho matreiro, espia e bota a língua de fora.
E agora, e agora? Vai ser só isso, essa calmaria? Tememos, quem sabe, que daqui em diante tudo se resuma a esse conforto interior no qual se aninham lembranças, tudo desenovelado e resolvido.., pensamos. A tarefa de viver nunca se conclui, a não ser que a gente determine. O sonho e o susto sopram em nosso ouvido quando tudo parece apaziguado. Logo a certeza de ter enfim chegado a um ponto imutável de acomodação começará a vacilar. Algo novo se posta junto da poltrona onde talvez estivéssemos inocentemente vendo televisão. Uma palavra ouvida, uma frase lida, um rosto novo, um velho conhecido, um quase-nada nos toca. Saímos do gostoso torpor, botamos a cabeça fora do casulo para ver melhor. Podemos optar: Vou ficar dormindo. Vou até a próxima esquina ver o que acontece.
Esse momento define a continuação de uma existência em movimento ou cristalizada, afinada ou fora de sintonia. Essa possibilidade de escolher assusta mas é apenas um sinal de que estamos embarcados, estamos em movimento e em transformação. Mesmo agora aquela nossa bagagem de tendências inatas, influência alheia e experiências vividas vai determinar como serão os próximos anos. E, atenção: isso acontece a qualquer instante – se ainda não estivermos empalhados. “O que há com você?” perguntam os amigos. “Você parece tão bem!”, dizem os colegas.
“Ouvi você cantando no banheiro!”, comentam os filhos. Aos poucos esse novo sopro de ar, que pode ser um projeto, um trabalho, uma viagem, uma amizade nova ou um amor, vai-se delineando melhor. Sua voz é clara e chama o nosso nome. Talvez a gente nem compreenda ainda, mas a sorte – que prepara as armadilhas boas e ruins onde fatalmente cairemos porque estamos vivos – sorri acenando com a nossa nova amante: a vida. O futuro pousa outra vez na nossa mão.
Carta a um amigo que não tem e-mail: Você vai me achar meio louca e intrometida com este bilhete que será longo. Terei de mandar por mensageiro (ainda bem que não tem de ser mensageiro a cavalo entre dois castelos distantes… ) em lugar de lhe passar imediatamente como anexo de e-mail. Pois você, embora podendo, ainda se recusa a ter um computador, detesta toda a sorte de modernismos, e acha que seu tempo passou. Sonhei esta noite com você sozinho e desolado numa enorme casa deserta num terreno ermo. Depois, na mesma casa, agora rodeada de árvores e flores, você organizava uma reforma: marteladas, gente preparando comidas deliciosas, amigos reunindo-se para uma festa.
Você tinha me dito que jamais permitira nenhuma reforma em sua casa, tudo devia ficar como fora trinta anos atrás. Onde se viu nunca reformar nada na casa, ou na gente mesmo? Achei o sonho tão simbólico que resolvi lhe contar. Você é um homem bom, culto, refinado, deprimido e resignado.
Alguns laivos de bom-humor mesmo na depressão mostram que vai sair dessa – se quiser. Vou lhe dar umas idéias que você vai considerar petulantes, mas peço que pense nelas. Não vêm de uma mocinha tola e sim de uma mulher que já andou pelo reino das sombras e voltou. Não tenha pena de si mesmo. Você não é vítima de nada. Você diz que ficou chocado ao perceber que tinha “perdido o bonde porque não estava preparado, não estava atento aos sinais”. Então saia desse distanciamento, mergulhe de cara, entregue-se. Se for preciso, dê um salto mortal: pode ser uma última oportunidade. Mudar é difícil, ousar mais ainda. Eu sei. Houve momentos em que ao acordar pensei: “Posso viver ainda uns vinte, trinta anos na situação em que estou agora. Quero continuar assim como estou?”
No mínimo uma nova postura interior dependia inteiramente de mim: o resto viria por acréscimo. Nem sempre o realizei. Nem sempre acertei. Porém mexer-se é melhor do que continuar na areia movediça na qual quanto mais ficamos mais estamos presos. Em geral as coisas práticas que podemos fazer para inovar são simples. Dependem de uma atitude interior aliada a possibilidades concretas como dinheiro e gosto. Para uma mulher doméstica, arrumar armários, botando fora uma porção de velharias inúteis, ou alterar a posição dos móveis a seu gosto – ainda que os outros da casa reclamem – pode ser um começo. Pra você, eu diria, por exemplo (correndo intencionalmente o risco de lhe parecer incrivelmente fútil): compre um computador. Entre na Internet pra pesquisar, descobrir ou se divertir e informar. Fique ligado.
Escolha o que há de positivo na modernidade. Pra que ficar de fora com ar tristonho? Há coisas belíssimas a serem saboreadas. Novidades não ruins por serem novas, mas, filhas do progresso, são as maravilhas da nossa tecnologia, ferramentas interessantes, motivação de se tomar mais inteiro e mais participante. Procure conhecer alguns lugares que você diz abominar por serem “da moda”. Não quero sugerir que vá a uma danceteria, mas a um desses locais simpáticos, novos, onde se come bem e se veem pessoas bonitas.
Enclausurar-se não ajuda ninguém, muito menos a você mesmo. Não se boicote suportando calor apenas porque acha que “ar condicionado é ruim para a saúde”. Se fosse assim, metade da população de Europa e Estados Unidos, onde a calefação é uma constante, estaria morta.
Conheço profissionais da sua área, velhos, velhos mesmo, que ainda atuam ou apenas se informam e atualizam por puro prazer. Quem sabe você poderia ter um retorno? Não é verdade que uma profissão “largue a gente”.
É sempre a gente que ficou no ar, desatento. As vezes isso pode ser recuperado. Planeje uma bela viagem. Use seu tempo e dinheiro (já que você tem ao menos o suficiente) para sua alegria. A vida é uma mesa posta: tem venenos mortais e deliciosos pratos que dão prazer. Há os que escolhem veneno, e os que pegam as delícias. Espero que você não ache que prazer é impossível ou ruim. Eleja o positivo. Queira ser um pouco feliz, entusiasme-se por alguma coisa dentro de suas condições – mas fora de seu pessimismo. Ou, se nada disso for possível porque esse é seu jeito e sua opção, pelo menos não me queira mal por este bilhete que não foi senão um alô, talvez uma falta minha de… jeito.
Lya Luft, “Perdas e ganhos”
Despertando no hospital deparou com uma enfermeira que a interpelou: – Mas por quê, por quê? Ela respondeu, sucinta, lúcida, plena de sua própria dor: – Sem esperança. Todos conhecemos esses dias sem horizonte à vista. A experiência nos ensina que eles passam, a não ser que estejamos doentes ou sejamos ferrenhos pessimistas por natureza ou formação. Ser mais ou menos otimista depende de criação, ambiente familiar, disposição genética (ah, a genética da alma… ), situações do momento. Claro que ter confiança quando se está contente é fácil. Mas não somos só nossa circunstância, somos também nossa essência.
O grande pessimista colhe todas as notícias ruins do jornal e manda aos amigos cada manhã; acha que o ser humano não presta mesmo, o mundo é mero palco de guerras e corrupção. O excessivamente otimista acha que a realidade é a das telenovelas e dos sonhos adolescentes, das modas, das revistas, da praia, do clube. O sensato (não o sem graça, não o chato) sabe que o ser humano não é grande coisa, mas gosta dele; que a vida é luta, mas quer vivê-la bem; que existem – além de injustiça, traição e sofrimento – beleza e afetos e momentos de esplendor. Que se pode confiar sem ser a toda hora traído por quem se ama. Posso ser um pessimista essencial, por natureza ou formação ou circunstâncias. Posso porém estar apenas deprimido. Para sair de uma fase depressiva há mil recursos à disposição de qualquer pessoa. Terapia, uma bela caminhada, um novo amor, pintar o cabelo, jantar num lugar delicioso, mudar de lugar os vasos do jardim, ver o que acontece nas artes. Ler, refletir, observar o dentro e o fora. Comprar um cachorro, ir ao futebol, planejar uma viagem (pode ser só até ali). Tentar aproximar-se da arte, qualquer que ela seja. Renovar interesses e afetos, cultivá-los. Mas se eu curto a minha depressão ou minha visão negra de tudo, se com isso pretendo chamar a atenção dos outros ou puni-los (ou a mim mesmo), posso optar pelo eterno descontentamento. Aos poucos ficarei segregado do círculo dos que são os vitais amantes da esperança.
Mesmo depois que os anos devastaram muita coisa (talvez a família, o trabalho, o meu corpo, meus amores), o que foi bom pode permanecer – não sombra ou vazio, mas motivo de voltar a florescer. Arrastar a cadeira para fora da zona de sombra e sentar-me um pouco ao sol. Passado o primeiro horror de alguma perda grave, na treva da impotência e inconformidade, começam a abrir-se frestas por onde a antiga claridade se derrama no agora. Essa mesa nessa sala, esse filho e aquele amigo, esse som no piano, o ramo de árvore que a gente pretendia cortar, a calçada onde caminhava há muitos anos – tudo nos convoca: não mais para chorar o passado, mas para projetar no presente aquilo que tendo sido belo não se perdeu. E a gente vai tomando consciência de que deve também aos amores que teve, aos amigos que quase esqueceu, à casa vendida junto com parte da infância, à pessoa que se foi em todos esses anos, poder viver melhor outra vez. Com outra pessoa ou sozinha, em outra casa, com outros amigos, com novos objetos ou entre os antigos. Das coisas belas que acabaram nos vêm sempre uma luz e uma capacidade de ver o mais banal com algum encantamento. Essa é a secreta mirada que todos podem exercer mas que se turva pela pressa, pelo excesso de deveres e a exigência de sermos o que não podemos ser. Para viver qualquer fase com alegria, viver com elegância e vitalidade, é preciso acreditar que vale a pena.
Que existem modos de ser feliz, mais feliz, e podemos perseguí-los. Mas essa não é uma caça aos tesouros comprados com dinheiro: é uma perseguição interna, a dos nossos valores, do nosso valor, das nossas crenças e do nosso real desejo.
Quero, preciso, ter esse corpo, essa sexualidade, esses objetos de consumo que os outros exigem de mim – ou fico mais contente sendo como sou, saboreando o que posso adquirir e programando o que posso transformar? Para decidir isso devíamos abrir em nosso cotidiano um espaço de recolhimento, observação, auto-observação. É preciso o silêncio ativo de quem pensa. Mas é difícil fugir da convenção social que, se por um lado nos traz uma vasta coleção de livros e cursos que falam de meditação, reflexão, espiritualidade (que também anda se tornando moda… ), por outro lado comanda por todos os meios que a gente se agite: é preciso sair, viajar, tem de fazer, frequentar, aparecer.
Tem de ser alegre e atualizado, tem de aparecer, conhecer os lugares da moda, ser chique, viajar, claro – nem tanto para abrir os horizontes, mas para depois poder participar das conversas com os amigos ou conhecidos. O mais novo restaurante, a mais moderna galeria, a loja mais fantástica. Tem de ser feliz com hora marcada, nos fins de semana, assim como alguns casais precisam se amar (somente) nas tardes de sábado.
Na juventude somos aprendizes, somos amadores na vida. Na maturidade devíamos ser bons profissionais do viver: lúcidos e ainda otimistas, mais serenos, de uma beleza diferente, produtivos e competentes. Mas me disseram que passada certa fase não posso mais mudar de rumo, de casa, de roupa, de lugar. Mesmo na pior relação, nem pensar em me separar, em me apaixonar (ainda que eu seja livre), em ter uma boa vida sexual (ainda que eu seja saudável). Não teremos escolha, se passamos de “certa idade”? Com o passar do tempo efetivamente passa o “nosso tempo”? A escolha é nossa, de cada um de nós. Temos escolha, mas somos inseguros. Podemos mudar, mas não acreditamos nisso. Boa parte dessa hesitação vem de fora, de palpites alheios, de propósitos superficiais, de modelos tolos. Viver e ser feliz não deveria ser assim tão complicado, reclamou alguém. E por que a gente não simplifica ao menos o que pode descomplicar? Amadurecer deveria ser requintar-se na busca da simplicidade. Escrevo em meus romances sobre nosso lado obscuro, sobre conflito e drama. Tento desvelar a face trevosa, de perversidade, de autodestruição, de acúmulo de raivas e ressentimento que há no ser humano. Mas não acredito que ele seja principalmente isso. Gosto de gente. Sou solidária com os personagens de ficção que criei com minha imaginação. Quem não me conhece e me julga, pelos meus livros, um ser distante ou sombrio, engana-se: vive em mim uma incorrigível otimista que acredita em ser feliz. Em renovação, em superação, em sobrevivência = não como resto e destroço, mas como um ser a cada fase inteiro. Acredito que viver é elaborar e criar: são inevitáveis as fatalidades, doença e morte. O resto – que é todo o vasto interior e exterior – eu mesma construo. Sou dona do meu destino. É mais cômodo queixar-me da sorte em lugar de rever minhas escolhas e melhorar meus projetos.
“Como posso ser otimista se minha mãe sofre de Alzheimer e meu marido se aposentou com pouco dinheiro e está em casa deprimido, meu filho não encontra seu caminho.., se minhas mãos estão manchadas, o pescoço enrugado, o seio mais caído?” A gente consegue. Não necessariamente com novas técnicas sexuais não com objetos de grife, não no clube da moda ou na praia mais sofisticada: é aqui que aprendo isso. No silêncio de minha casa, de meu corpo, de meu pensamento. Na força de minha decisão, talvez no salto de minha transgressão. Se aceito a ideia de que tudo se encerra quando acaba a juventude, minha possibilidade de ser alguém válido diminui a cada ano. Essa perspectiva produz inércia e desperdício de talentos que poderiam ser cultivados até o fim, sem importar a idade.
Quando, separada do pai de meus filhos, refiz minha vida com outra pessoa, a frase que mais ouvi de amigos foi: “Mas na sua idade a gente ainda pode tentar ser feliz mais uma vez?” Eu me espantava: “Gente, tenho só 46 anos, não 146!” Isso foi aguçando meu interesse pela questão: somos modernos e tão antigos; somos liberados e tão limitados; somos do novo milênio e nem ao menos aceitamos com inteligência a passagem do tempo, e a nossa passagem no tempo. Lançadas as nossas bases – a juventude – começamos enfim a crescer. Aprendemos a relaxar, a ter mais humor, a driblar melhor as coisas negativas, a prestar mais atenção ao que se desenrola à nossa volta. A felicidade exige paciência: é soma, acréscimo, conquista e aperfeiçoamento.
Numa palestra sobre novos interesses na maturidade e na velhice notei que 90% dos frequentadores eram mulheres. Perguntei a um colega meu da mesa de palestrantes, médico: “Onde estão os homens que deveriam estar nesta plateia… Ele, brincando, devolveu a pergunta: “Você já ouviu falar em excursão para viúvos ou palestras para homens?” Eu nunca tinha pensado nisso. Por que não existem? Porque há menos homens viúvos, uma vez que morrem antes das mulheres, e os que ficam sozinhos raramente permanecem sozinhos, buscam logo outra companheira? É possível. Porque boa parte deles, ficando sozinhos, se resignam, se deprimem mais tempo, apoiam-se mais nos filhos? Também. Porque se ocupam mais com seu trabalho quando não se aposentam precoce e desnecessariamente? Idem.
Serão mais inibidos pela ideia que lhes é imposta de que não se pode mudar, é preciso conquistar e aferrar-se a uma posição, voltar atrás é fraqueza. Além disso mulheres têm maior capacidade de formar laços, de curtir afetos, de se reunir em grupo. São mais solidárias e mais cúmplices entre si. Talvez com mais capacidade de alegria. Vejo mulheres viajando sozinhas, em pares ou grupos, divertindo-se, conhecendo coisas e lugares, cultivando interesses, travando novas relações, voltando a estudar. Interagindo, progredindo. Não vejo tantas vezes homens fazendo o mesmo. Viajando em dois ou em grupos, desconheço.
Voltando a estudar, raramente. Por que aos 70 anos não se pode fazer uma pós-graduação, por exemplo? Ou entrar pela primeira vez em uma biblioteca pública para ver o que há nos livros? O que se vê de novo nos cinemas? Seja como for, todos precisamos encontrar uma solução para o inibidor medo da passagem do tempo, que é afinal medo de viver.
Preferíamos nem viver para não gastarmos a alma, encolhidos na concha da alienação. Mas como é que se pode ter vontade, se parece que cada dia a gente perde alguma coisa? Algo se perde? Muito se perde. Tenho hoje uma pequena lista de pessoas que amei que se afastaram ou morreram; se eu chegar aos 80 anos, ela certamente terá crescido. Mas tenho uma doce lista de pessoas que chegaram: não só netos, mas novos amigos de todas as idades. Sem falar nas inovações de técnica que quero conhecer ou utilizar, nas descobertas que tentarei acompanhar, nos livros por ler, nas coisas a fazer. Outro dia perguntei à minha filha médica se eu não estaria desidratada, porque minha pele estava diferente. Ela olhou, sorriu com esse jeito de mãe com que as filhas nos tratam às vezes, e disse com uma graça afetuosa: – Mãe, você tem 60 anos, né? É só isso.
Rimos juntas, nessa cumplicidade típica de mães e filhas. Nem por um segundo tive saudade da pele dos meus 20 anos, pois ela era acompanhada de todas as aflições (e delícias) daquela fase, das quais hoje estou poupada. Olhei bem no espelho, com os óculos de que desde sempre preciso para ler. Verdade: muita coisa mudou. Não estou acabada, estou diferente do que era. Fisicamente estou diversa da menina e da jovem mulher.
O que vou fazer? Me desesperar, me envergonhar, querer voltar atrás?
Prefiro me divertir, encarar com senso de realismo que mudei, e saber que os que me amam continuam me amando apesar de tudo – ou por causa de tudo. “Mas como é possível que algo melhore com a idade?”, me perguntaram com vaga indignação. Comecei a calcular, meio na brincadeira: eu me divirto muito mais, a começar no trabalho. Escrever, publicar, aguardar críticas e vendas do meu primeiro romance aos 40 anos foi um êxtase e um susto. Hoje, com tantos livros publicados e tantos leitores fiéis, sinceramente não dou mais a mínima. Não preciso mais mostrar serviço; preciso apenas fazer o que faço com mais leveza (nunca menos seriedade), mais alegria. Mais exigências, isso sim, mas sem demasiada tensão. Nunca me ocorreu ser agressiva em relação aos meus colegas, pois cedo aprendi que em nosso campo de trabalho há lugar para muitos, para todos. Posso me alegrar com o sucesso dos outros sem temer que ele afete o meu pequeno êxito. Porque sou generosa? Não: é porque embora muitas vezes me atrapalhe, erre, cometa todas as futilidades imagináveis, não tenho a afobação nem a insegurança dos 20 anos. Nem aquela simpática pontinha de arrogância que faz com que, jovens, pensemos que o mundo é nosso – e nos deve homenagens. Meu corpo está mudando como está desde que nasci. Meu coração se transforma a cada experiência. Mas ainda palpita, se sobressalta e se assusta. Ainda sou vulnerável ao belo e bom, ao ruim e ao decepcionante, como quando eu tinha 10 anos. Somos isso: somos essa mistura, essa contradição, essa indagação permanente. Estamos vivos.
Também não pretendo afirmar que maturidade é “melhor” do que juventude, velhice “melhor” do que maturidade: digo que cada momento é meu momento, e devo tentar vivê-lo da melhor forma possível, com realismo, com sensatez, com um grão de audácia, e com toda a possível alegria. Por dentro ainda sou a menina que se assusta ou diverte com qualquer bobagem que outros nem percebem, entretidos que estão com assuntos mais importantes. Me divido entre devaneio e vida prática, sem saber direito a qual pertenço. Com o tempo entendi que essa indefinição é só aparente, que a ambiguidade me torna sólida. Muita coisa esconjurei em meus romances, aprendi que o bom humor pode ajudar o amor. Tem algumas vantagens, esse tempo da madureza de que fala o poeta. Que liberdade não ter mais que decidir caminhos profissionais e afirmar-me neles; parir e criar filhos, comprar casa, apertar orçamentos; temer a vastidão do futuro – e haveria lugar para mim dentro dele? Muita coisa que em seu tempo foi dramática, hoje é lembrança que me faz sorrir compadecida com aquela que se enrolava em tantas trapalhadas. Se alguém me amar agora, não será por um belo corpo que fatalmente vai mudar, mas por isto que hoje sou sem disfarces. Nenhuma esplendorosa jovem de 20 anos me ameaça: meu território é outro. Tive perdas, e se multiplicam com o passar do tempo. Tive ganhos, num saldo que não me faz sentir injustiçada.
Especialmente, não perdi essa obstinada confiança que me impele a prosseguir quando o próximo passo parece difícil demais.
Estarmos abertos à renovação e mudança é estarmos vivos. Independe da fase em que estamos. E se aparecer um novo amor podemos renascer para isso, a qualquer momento. Não precisamos mais criar filhos, estabelecer família (o que eu quis muito, e me deu imensas alegrias). Cumprimos muitos deveres. Erramos, porque também isso é preciso. Sofremos, porque faz parte. As crianças que se agarravam à nossa saia hoje são adultos, perto ou longe de nós, mas ainda nossos filhos. A relação materna se enriqueceu e mudou. Podemos até partilhar um pouco com eles quando estivermos vivendo alguma história. “Mas que história?” “Sei (á, um novo projeto, uma viagem, um curso, uma amizade, um amor. “Amor? A essa altura?” Mães e avós são atuantes, viajando, amando, estudando, sendo simplesmente seres humanos pensantes e capazes até uma idade bastante avançada. Mas em algumas famílias, ai delas se, divorciadas ou viúvas, pensam em ter uma nova relação amorosa. São as incoerências de uma cultura que evoluiu precariamente: parece moderna, mas continua antiquada e infantil. “Não posso namorar, meus filhos iam me matar! Nem pensar, apresentar meu namorado em casa, meus filhos iam me achar ridícula!” Vai depender de cada um de nós que sua vida seja território seu ou apenas emprestado, com má vontade, de outros – mesmo filhos. Que seja campo para correr perseguindo projetos e colhendo vivências, ou cova estreita onde a gente se esconde e aguarda o golpe final.
“O tempo que rói e corrói precisa ser reinstaurado”, diz um personagem meu, e acrescento: – a nosso favor. Perdemos muito tempo tentando iludir o tempo. Fatalmente amadurecemos mas não nos sentimos mais serenos, nem estamos mais contentes. “Como é que posso me sentir contente a esta altura, com 50 anos? Aos 60, pior, aos 70, a catástrofe?”
Muitas boas coisas podemos fazer na maturidade, que ria juventude não conseguíamos. Faltava-nos disponibilidade, faltavam-nos experiência e liberdade, faltava-nos visão. Estávamos ocupados demais, tensos demais, divididos demais. Se não houver nada imediato para “fazer”, pois geralmente tomamos isso como agir, agitar, correr, inventaremos algo.
Pode ser apenas contemplação. Pensar. Ler. Olhar. Caminhar. Quando menos esperamos, salta à nossa frente algo para “fazer” concretamente. Até mesmo em lugar de curtir a síndrome do ninho vazio podemos preencher esse vácuo (pois filhos são sempre nossos filhos ainda que não morem conosco) com mil coisas a fazer. Vamos descobrir, quem sabe, que podemos nos expandir e crescer mais livremente sem tantas solicitações dentro de casa. Foram boas, foram alegres, foram estimulantes mesmo e difíceis, mas agora o tempo é outro. Porém não é tempo nenhum: e isso faz uma grande diferença.
Repensar e reformular-se pessoalmente fez muitas mulheres na maturidade saírem da sombra para se afirmarem em trabalho, ciência e arte. Quando os filhos cresceram, quando a monotonia se insinuava, notamos que ainda sobrava energia e vitalidade: à frente estendiam-se caminhos inexplorados. Saímos a desvendá-los. Muitas não se animaram. Muitas ficaram pelo caminho. Muitas perderam o rumo. Uma ou outra sentiu que era preferível ousar a desistir. Mas boa parte alçou voo e produziu, e participou – e floresceu ainda. No meu caso a insegurança ou a acomodação tinham decretado que eu não escreveria senão crônicas e poemas. O jogo que desde criança me atraía tanto, fazer ficção, parecia vedado: faltava confiança em mim mesma. Faltava a audácia que para algumas pessoas só vem na maturidade ou até depois. Eu adotara a posição confortável do “Eu? Imagina!” que nos exime de muito risco. Intuía que ao escrever romances iria extrair das entranhas personagens dramáticos, evocar medos e dúvidas bem além da minha experiência pessoal – pois falamos por outros, por muitos, por todos. Que estranhas criaturas iriam escancarar os armários onde estavam trancadas – e o que fariam comigo?
Que espaço exigiriam em meu organizado cotidiano? Por que tirar do sossego inquietações que estavam tão bem arquivadas? A fatídica “opinião alheia” ainda me constrangia um pouco: escrever e publicar foi um dos últimos exorcismos desse demônio que em mim nunca fora particularmente ativo, mas espreitava lá do seu recanto.
“O tempo que rói e corrói precisa ser reinstaurado” diz um personagem meu, e acrescento: – a nosso favor. Perdemos muito tempo tentando iludir o tempo. Fatalmente amadurecemos mas não nos sentimos mais serenos, nem estamos mais contentes. “Como é que posso me sentir contente a esta altura, com 50 anos? Aos 60, pior, aos 70, a catástrofe?”
Muitas boas coisas podemos fazer na maturidade, que na juventude não conseguíamos. Faltava-nos disponibilidade, faltavam-nos experiência e liberdade, faltava-nos visão. Estávamos ocupados demais, tensos demais, divididos demais. Se não houver nada imediato para “fazer”, pois geralmente tomamos isso como agir, agitar, correr, inventaremos algo.
Pode ser apenas contemplação. Pensar. Ler. Olhar. Caminhar. Quando menos esperamos, salta à nossa frente algo para “fazer” concretamente. Até mesmo em lugar de curtir a síndrome do ninho vazio podemos preencher esse vácuo (pois filhos são sempre nossos filhos ainda que não morem conosco) com mil coisas a fazer. Vamos descobrir, quem sabe, que podemos nos expandir e crescer mais livremente sem tantas solicitações dentro de casa. Foram boas, foram alegres, foram estimulantes mesmo e difíceis, mas agora o tempo é outro. Porém não é tempo nenhum: e isso faz uma grande diferença.
Escrevi aos 40 anos meu primeiro romance: até então não sabia bem para o que servia do ponto de vista profissional. Em casa repetia-se o diálogo: “Eu não consigo descobrir para o que sirvo do ponto de vista profissional.” “Então por que não se dedica mais à sua literatura?” “Mas como eu faria isso?” “Você vai descobrir.” Descobri. Com dor e dificuldade, acabei encontrando o caminho. E observei que naquele momento da nossa cultura muitas mulheres começavam a crescer como seres humanos e como profissionais mais ou menos naquela idade e com as mesmas vivências. Percebi que, nisso que provavelmente estava sendo a metade de minha vida, ainda havia muito por fazer. Como tantas mulheres, vi que não era hora de pensar em parar, em temer a menopausa, o futuro, a saída dos filhos de casa ou lamentar a juventude que passava.., mas de reestruturar, desenvolver, até iniciar muita coisa nova. Amadurecer começou ali. E foi uma sequência de descobertas, com muita dificuldade e muita alegria. Quem me amava me estimulou confiando em mim, e lhe serei sempre grata por isso: pelo amor que, em lugar de prender e controlar, me libertou e me ajudou a crescer.
Uma das questões, talvez a fundamental, é o que e quanto nos permitimos.
A tendência é de nos permitirem pouco, e de entrarmos nessa onda do: a esta altura? na sua situação? mas você acha mesmo que… ? Minha amiga divorciou-se, e ao ficar sozinha comprou um apartamento grande, iluminado, onde poderia morar confortavelmente uma família inteira. Em lugar de aplaudir, de a estimular, muitas pessoas se espantavam: “Mas pra que você, sozinha, num apartamento tão grande?”
E por que, estando só, ela deveria se acomodar num lugar pequeno – como se já não merecesse espaço? É como dizem às mulheres quando os filhos se foram e quem sabe o marido morreu: “Está doida, onde se viu, morar sozinha naquele casarão?” Mas por que (a não ser por questões reais de segurança, por exemplo) não se pode continuar morando numa casa grande para receber filhos, netos e amigos, e fazer festas – ou porque se aprecia? O espaço interior é necessário para a permanente recriação de si. São os aposentos que deveriam ser os mais generosos e iluminados.
Ali poderíamos analisar nosso trajeto feito, conferir nossos parâmetros, repensar os amores vividos e os projetos possíveis. Porém nesta nossa cultura do barulho e da agitação somos impelidos a fazer coisas, promover coisas, não a refletir sobre elas: precisamos de eventos, roteiros e programas, ou nos sentimos como quem fica de fora e para trás. Porém na verdade o que nos revigora é sossegar, entrar em nós, refletir. Nada se renova, inova, expande e se faz de verdade sem um momento de silêncio e observação. Depois disso podemos, devemos, querer e ousar.
Não nos salva o enquadramento medíocre e burocrático das almas documentais, mas o vasculhar corajoso dentro de si para encontrar o material essencial, e abraçado a ele saltar, às vezes até mesmo sem rede nem garantia. Não é necessário estar em todos os lugares para participar dos milagres e eventuais desconsertos de viver. Mesmo quieta em sua sala ou na mesa de trabalho, a gente pode existir, plenamente, conscientemente, validamente. Mais de uma vez, devido ao mito do escritor que ainda escreve a mão e detesta novidades, jornalistas me perguntaram o que eu acho da Internet, da Net, do computador, do celular, da tecnologia e dos avanços da ciência. Andar de avião é melhor do que ir de carroça; comunicar-me por e-mail com uma pessoa amada várias vezes ao dia – e tendo condições de fazer isso – é melhor do que escrever uma carta a cada duas semanas. Proteger uma criança com uma vacina é melhor do que deixá-la exposta à varíola, à caxumba, ao sarampo e à hepatite. Embora seja questão de gosto e hábito, e usar da caneta possa ter seu charme, eu há muitos anos não me imagino escrevendo e traduzindo a mão. O computador é o servo gentil e eficientíssimo que facilita meu trabalho. Não faz sentido optar por ficar mais isolada se tanta coisa se oferece na minha porta, na minha televisão, no meu computador… a não ser que eu prefira me encolher na pequenez do meu aposento interior sem janelas e talvez sem porta. Há quem goste de se fechar numa caverna. É uma escolha, e você a pode fazer. Mas, por favor, não esfrie o ambiente ao seu redor com os vapores de sua alma gélida.
Resumindo: primeiro, o progresso vem para ficar. Nadar contra a correnteza é no mínimo um desconforto inútil, pode parecer arrogante ou burro. Segundo, é melhor olhar as coisas do ângulo positivo. Nunca as pessoas se comunicaram tanto: amigos que jamais se escreveriam cartas (obsoletas as cartas, não?), se “falam” diariamente no e-mail. Pessoas que estariam na amarga solidão fazem novas amizades no chat. Amantes separados podem curtir um tipo novo de “presença”. O universo está à nossa disposição: mais recentes descobertas genéticas, livros de que aqui nem ouvimos falar ainda. Posso visitar os grandes museus, ler sobre cada obra, aproximar de minha vista cada detalhe.
Posso conhecer cidades remotas, ouvir música, jogar xadrez. A escolha é quase infinita. O lixo e o luxo das culturas estão ali para mim. “E o que a senhora acha de namorar ou até fazer sexo na Internet?” Como somos infantis, como são infantis alguns de nossos questionamentos.
Simpáticos, por isso mesmo. Respondo que não há de ser mais original do que faziam ou fazem escondidos os rapazinhos de outros tempos ou destes de agora com revistas especializadas. Damos importância excessiva a todos esses preconceitos, detalhes, pudores, censuras, quando há tanto para se deslumbrar. No vasto mar do vasto mundo – no qual as tecnologias não são boas nem más: dependem do seu uso. O gregário usará o computador para contactar pessoas, pesquisar, abrir-se para todo um universo. O deprimido vai querer se isolar mais. O psicopata exercitará suas grandes ou pequenas manias.
Finalmente, depois de tantas peripécias parece que ao menos do ponto de vista cronológico amadurecemos. Parece que chegamos a um patamar confortável. Superamos dores, cumprimos tarefas, já realizamos coisas que seriam impensáveis na juventude. Agora é recostar-se para trás e traçar projetos de liberdade: uma viagem, um novo curso, os livros para ler, as dores para esquecer, os amigos a encontrar. Mexer nas minhas plantas. Abrir as persianas e vibrar porque a manhã está deslumbrante e temos uma hora para caminhar nas ruas onde andamos há muitos anos: cada folha, cada muro é um conhecido íntimo – e também isso é bom. Mas a velha inquietação, duendezinho matreiro, espia e bota a língua de fora.
E agora, e agora? Vai ser só isso, essa calmaria? Tememos, quem sabe, que daqui em diante tudo se resuma a esse conforto interior no qual se aninham lembranças, tudo desenovelado e resolvido.., pensamos. A tarefa de viver nunca se conclui, a não ser que a gente determine. O sonho e o susto sopram em nosso ouvido quando tudo parece apaziguado. Logo a certeza de ter enfim chegado a um ponto imutável de acomodação começará a vacilar. Algo novo se posta junto da poltrona onde talvez estivéssemos inocentemente vendo televisão. Uma palavra ouvida, uma frase lida, um rosto novo, um velho conhecido, um quase-nada nos toca. Saímos do gostoso torpor, botamos a cabeça fora do casulo para ver melhor. Podemos optar: Vou ficar dormindo. Vou até a próxima esquina ver o que acontece.
Esse momento define a continuação de uma existência em movimento ou cristalizada, afinada ou fora de sintonia. Essa possibilidade de escolher assusta mas é apenas um sinal de que estamos embarcados, estamos em movimento e em transformação. Mesmo agora aquela nossa bagagem de tendências inatas, influência alheia e experiências vividas vai determinar como serão os próximos anos. E, atenção: isso acontece a qualquer instante – se ainda não estivermos empalhados. “O que há com você?” perguntam os amigos. “Você parece tão bem!”, dizem os colegas.
“Ouvi você cantando no banheiro!”, comentam os filhos. Aos poucos esse novo sopro de ar, que pode ser um projeto, um trabalho, uma viagem, uma amizade nova ou um amor, vai-se delineando melhor. Sua voz é clara e chama o nosso nome. Talvez a gente nem compreenda ainda, mas a sorte – que prepara as armadilhas boas e ruins onde fatalmente cairemos porque estamos vivos – sorri acenando com a nossa nova amante: a vida. O futuro pousa outra vez na nossa mão.
Carta a um amigo que não tem e-mail: Você vai me achar meio louca e intrometida com este bilhete que será longo. Terei de mandar por mensageiro (ainda bem que não tem de ser mensageiro a cavalo entre dois castelos distantes… ) em lugar de lhe passar imediatamente como anexo de e-mail. Pois você, embora podendo, ainda se recusa a ter um computador, detesta toda a sorte de modernismos, e acha que seu tempo passou. Sonhei esta noite com você sozinho e desolado numa enorme casa deserta num terreno ermo. Depois, na mesma casa, agora rodeada de árvores e flores, você organizava uma reforma: marteladas, gente preparando comidas deliciosas, amigos reunindo-se para uma festa.
Você tinha me dito que jamais permitira nenhuma reforma em sua casa, tudo devia ficar como fora trinta anos atrás. Onde se viu nunca reformar nada na casa, ou na gente mesmo? Achei o sonho tão simbólico que resolvi lhe contar. Você é um homem bom, culto, refinado, deprimido e resignado.
Alguns laivos de bom-humor mesmo na depressão mostram que vai sair dessa – se quiser. Vou lhe dar umas idéias que você vai considerar petulantes, mas peço que pense nelas. Não vêm de uma mocinha tola e sim de uma mulher que já andou pelo reino das sombras e voltou. Não tenha pena de si mesmo. Você não é vítima de nada. Você diz que ficou chocado ao perceber que tinha “perdido o bonde porque não estava preparado, não estava atento aos sinais”. Então saia desse distanciamento, mergulhe de cara, entregue-se. Se for preciso, dê um salto mortal: pode ser uma última oportunidade. Mudar é difícil, ousar mais ainda. Eu sei. Houve momentos em que ao acordar pensei: “Posso viver ainda uns vinte, trinta anos na situação em que estou agora. Quero continuar assim como estou?”
No mínimo uma nova postura interior dependia inteiramente de mim: o resto viria por acréscimo. Nem sempre o realizei. Nem sempre acertei. Porém mexer-se é melhor do que continuar na areia movediça na qual quanto mais ficamos mais estamos presos. Em geral as coisas práticas que podemos fazer para inovar são simples. Dependem de uma atitude interior aliada a possibilidades concretas como dinheiro e gosto. Para uma mulher doméstica, arrumar armários, botando fora uma porção de velharias inúteis, ou alterar a posição dos móveis a seu gosto – ainda que os outros da casa reclamem – pode ser um começo. Pra você, eu diria, por exemplo (correndo intencionalmente o risco de lhe parecer incrivelmente fútil): compre um computador. Entre na Internet pra pesquisar, descobrir ou se divertir e informar. Fique ligado.
Escolha o que há de positivo na modernidade. Pra que ficar de fora com ar tristonho? Há coisas belíssimas a serem saboreadas. Novidades não ruins por serem novas, mas, filhas do progresso, são as maravilhas da nossa tecnologia, ferramentas interessantes, motivação de se tomar mais inteiro e mais participante. Procure conhecer alguns lugares que você diz abominar por serem “da moda”. Não quero sugerir que vá a uma danceteria, mas a um desses locais simpáticos, novos, onde se come bem e se veem pessoas bonitas.
Enclausurar-se não ajuda ninguém, muito menos a você mesmo. Não se boicote suportando calor apenas porque acha que “ar condicionado é ruim para a saúde”. Se fosse assim, metade da população de Europa e Estados Unidos, onde a calefação é uma constante, estaria morta.
Conheço profissionais da sua área, velhos, velhos mesmo, que ainda atuam ou apenas se informam e atualizam por puro prazer. Quem sabe você poderia ter um retorno? Não é verdade que uma profissão “largue a gente”.
É sempre a gente que ficou no ar, desatento. As vezes isso pode ser recuperado. Planeje uma bela viagem. Use seu tempo e dinheiro (já que você tem ao menos o suficiente) para sua alegria. A vida é uma mesa posta: tem venenos mortais e deliciosos pratos que dão prazer. Há os que escolhem veneno, e os que pegam as delícias. Espero que você não ache que prazer é impossível ou ruim. Eleja o positivo. Queira ser um pouco feliz, entusiasme-se por alguma coisa dentro de suas condições – mas fora de seu pessimismo. Ou, se nada disso for possível porque esse é seu jeito e sua opção, pelo menos não me queira mal por este bilhete que não foi senão um alô, talvez uma falta minha de… jeito.
Lya Luft, “Perdas e ganhos”
Maquinomem
O homem esposou a máquina
e gerou um híbrido estranho:
um cronômetro no peito
e um dínamo no crânio.
As hemácias de seu sangue
são redondos algarismos.
Crescem cactos estatísticos
em seus abstratos jardins.
Exato planejamento,
a vida do maquinomem.
Trepidam as engrenagens
no esforço das realizações.
Em seu íntimo ignorado,
há uma estranha prisioneira,
cujos gritos estremecem
a metálica estrutura;
há reflexos flamejantes
de uma luz imponderável
que perturbam a frieza
do blindado maquinomem.
e gerou um híbrido estranho:
um cronômetro no peito
e um dínamo no crânio.
As hemácias de seu sangue
são redondos algarismos.
Crescem cactos estatísticos
em seus abstratos jardins.
Exato planejamento,
a vida do maquinomem.
Trepidam as engrenagens
no esforço das realizações.
Em seu íntimo ignorado,
há uma estranha prisioneira,
cujos gritos estremecem
a metálica estrutura;
há reflexos flamejantes
de uma luz imponderável
que perturbam a frieza
do blindado maquinomem.
Helena Kolody
Educação pobre
Não existe coisa mais perigosa que poder sem sonho, dinheiro sem visão. Dinheiro sem visão desanda a fazer besteiras que, depois de feitas, viram elefantes coloridos que comem e defecam em excesso sem nada produzir. Desconfio muito dos que, ao falar da educação, falam logo na falta de verbas. A maior pobreza da educação não se encontra na escassez dos recursos econômicos. Ela se encontra na pobreza da imaginação.
A educação se divide em duas partes: educação das habilidades, educação da sensibilidade. Sem a educação da sensibilidade todas as habilidades são tolas e sem sentido.
Conhecer por conhecer, conhecer tudo o que há para ser conhecido: isso é um estilo suíno de aprender.
Há saberes na cabeça que paralisam os saberes inconscientes do corpo.
“Que espantosos pedagogos nós éramos, quando não nos preocupávamos com a pedagogia!” (Daniel Pennac)
Contou-me o jovem médico, residente de psiquiatria: “Me aguardava uma velhinha. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela tomou a iniciativa: ‘Doutor, quero lhe fazer duas perguntas’. ‘Pois não’, eu disse. ‘O senhor é dos médicos que dão remédio ou só falam para curar?’ Respondi: ‘Sou dos que só falam para curar’. Ela continuou: ‘Agora, a última pergunta: Essa conversa que cura, ela é aprendida na escola ou é de graça?’”. A velhinha sabia muito, sem saber. Há saberes que não se aprendem. Nascemos com eles, por graça dos deuses.
Não basta que o aluno conheça o mundo. É preciso que ele deguste o mundo. Não basta que o aluno tenha ciência. É preciso que tenha sapiência.
Sabe-se muito sobre regras de gramática e análise sintática. Mas onde está o prazer da leitura? Ler gastronomicamente, vagarosamente, por puro prazer, sem a obrigação brochante de ter de preencher um questionário de interpretação.
O educador é um mestre de Kama Sutra, manual de sabedoria erótica. São os prazeres e as alegrias que nos dão razões para viver. Brecht, sofrido, disse que o único objetivo da ciência era aliviar a miséria da existência humana. Mas isso não basta. Não basta aliviar a miséria. É necessário produzir a exuberância dos prazeres.
Os saberes são navios. Para se construir navios é preciso ciência. Os portugueses no século XVI construíam trinta caravelas por mês. Tinham ciência. Aprenderam a ciência da construção de caravelas porque eram fascinados pelo navegar. “Navegar é preciso; viver não é preciso...” Foi o sonho de navegar que gerou e pariu a ciência da construção de construir caravelas. A ciência é filha dos sonhos.
Caravelas não se fazem sem recursos econômicos. Mas recursos econômicos não fazem caravelas. Educação não se faz sem recursos econômicos. Mas recursos econômicos não fazem educação. É preciso o sonho. Recursos econômicos sem sonhos frequentemente dão à luz seres monstruosos…
Rubem Alves, "Do universo à jabuticaba"
A educação se divide em duas partes: educação das habilidades, educação da sensibilidade. Sem a educação da sensibilidade todas as habilidades são tolas e sem sentido.
Conhecer por conhecer, conhecer tudo o que há para ser conhecido: isso é um estilo suíno de aprender.
Há saberes na cabeça que paralisam os saberes inconscientes do corpo.
“Que espantosos pedagogos nós éramos, quando não nos preocupávamos com a pedagogia!” (Daniel Pennac)
Contou-me o jovem médico, residente de psiquiatria: “Me aguardava uma velhinha. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela tomou a iniciativa: ‘Doutor, quero lhe fazer duas perguntas’. ‘Pois não’, eu disse. ‘O senhor é dos médicos que dão remédio ou só falam para curar?’ Respondi: ‘Sou dos que só falam para curar’. Ela continuou: ‘Agora, a última pergunta: Essa conversa que cura, ela é aprendida na escola ou é de graça?’”. A velhinha sabia muito, sem saber. Há saberes que não se aprendem. Nascemos com eles, por graça dos deuses.
Não basta que o aluno conheça o mundo. É preciso que ele deguste o mundo. Não basta que o aluno tenha ciência. É preciso que tenha sapiência.
Sabe-se muito sobre regras de gramática e análise sintática. Mas onde está o prazer da leitura? Ler gastronomicamente, vagarosamente, por puro prazer, sem a obrigação brochante de ter de preencher um questionário de interpretação.
O educador é um mestre de Kama Sutra, manual de sabedoria erótica. São os prazeres e as alegrias que nos dão razões para viver. Brecht, sofrido, disse que o único objetivo da ciência era aliviar a miséria da existência humana. Mas isso não basta. Não basta aliviar a miséria. É necessário produzir a exuberância dos prazeres.
Os saberes são navios. Para se construir navios é preciso ciência. Os portugueses no século XVI construíam trinta caravelas por mês. Tinham ciência. Aprenderam a ciência da construção de caravelas porque eram fascinados pelo navegar. “Navegar é preciso; viver não é preciso...” Foi o sonho de navegar que gerou e pariu a ciência da construção de construir caravelas. A ciência é filha dos sonhos.
Caravelas não se fazem sem recursos econômicos. Mas recursos econômicos não fazem caravelas. Educação não se faz sem recursos econômicos. Mas recursos econômicos não fazem educação. É preciso o sonho. Recursos econômicos sem sonhos frequentemente dão à luz seres monstruosos…
Rubem Alves, "Do universo à jabuticaba"
O caluniador
O professor de caligrafia Sergey Kapitonech Akhineiev casava a sua filha Natália com o professor de história e geografia Ivan Petrovich Lochdinei. A festa se realizava no meio da maior alegria. No salão se cantava, jogava e dançava. Corriam de um lado para outro das salas os criados emprestados pelo clube, vestidos de negras casacas e brancas gravatas, bem sujas. Reinava em toda a casa alegre rumor de conversas.
O professor de matemática Tarantuloff, o francês Padekoi e o inspetor de segunda classe da Câmara de Comprovação, Egor Venedictech Mzda, sentados em fila no divã, relatavam, um depois do outro, a alguns convidados, casos de enterrados vivos e expunham a sua opinião sobre o espiritismo. Nenhum dos três acreditava nisso, mas admitiam que neste mundo há muitas coisas que a inteligência a humana não pode conceber.
Na sala contígua, o professor de literatura Duduski explicava a outro grupo de convidados os casos em que a sentinela pode atirar sobre os transeuntes. As conversas, como veem eram espantosas, mas muito agradáveis. Pelas janelas que davam para o pátio olhavam pessoas que, pela sua situação ou posição social, não tinham o direito de entrar na casa.
À meia-noite em ponto, o dono da casa, Akhineiev, entrou na cozinha para ver se estava tudo em ordem para a ceia. Encontrou a cozinha cheia do agradável cheiro dos gansos e patos assados. Sobre as mesas estavam expostos em artística desordem os zakuskas e as bebidas. Junto das mesas passava e tornava a passar, muito atarefada, a cozinheira Marta, mulher rubicunda, de volumoso ventre envolvido em faixas.
— Vamos ver, querida, onde está o esturjão? — disse Khineiev esfregando as mãos e requebrando-se. — Que cheiro magnífico! Eu sou capaz de comer toda a cozinha. Vamos, vamos, onde está o esturjão?
Marta aproximou-se de um dos bancos e cuidadosamente levantou uma folha de jornal engordurado. Debaixo dessa folha, em enorme travessa, jazia um enorme esturjão enfeitado com azeitonas, alcaparras e cenouras, Akhineiev contemplou o peixe e soltou um ah! O seu rosto resplandeceu e os olhos se lhe acenderam. Inclinou-se e produziu com os lábios som igual ao de uma roda sem sebo.
— Ah! Som de um beijo apaixonado!… Marta, com quem te estás beijando por aí?
Ouviu-se uma voz dizer isto da sala ao lado e à porta assomou a cabeça pelada do auxiliar Vankin.
— Com quem te estás beijando? Muito bem! Com quem? Com Sergey Kapitonech? Fora com o avô! Tête-à-tête com uma mulher!
— Eu não me estou beijando com ninguém — respondeu Akhineiev, algo confuso. — Quem te disse semelhante coisa, maluco? Fui eu que fiz com os lábios esse ruído, encantado pelo esturjão.
— Não me venhas com histórias!
Vankin sorriu largamente e sumiu-se da porta. Akhineiev ficou vermelho.
— Que bobagem! — pensou.
— Agora este maroto vai sair com chocarrices… Esse animal vai me ridicularizar pela cidade toda…
Akhineiev entrou timidamente no salão e olhou Vankin de soslaio. Este estava de pé junto do piano e, inclinado, em atitude decidida, dizia alguma coisa em voz em baixa à cunhada do inspetor, que ria.
— Está falando de mim — pensou Akhineiev. — De mim! Assim, maldito! E ela acredita! Está rindo! Meu Deus! Não, isto não pode ficar assim!… De maneira alguma! Tenho que arranjar as coisas de modo que ninguém acredite… Falarei com todos e ele ficará sendo um estúpido mexeriqueiro.
Akhineiev coçou a nuca e, sem deixar de estar confuso, aproximou-se de Padekoi.
Estive agora mesmo na cozinha a dar ordens para a ceia — disse ao francês. — Creio que o senhor gosta muito de peixe. Mandei preparar um esturjão de primeira! Tem duas varas! Hé, hé, hé!… A propósito… Já me ia esquecendo. Com este esturjão ocorreu-me agora, na cozinha, um caso divertido. Acabava eu de entrar na cozinha para deitar uma olhadela no manjar… Ao contemplar o esturjão, fiz com os lábios um ruído parecido com um beijo forte, ao ver como ele estava apetitoso, e nesse momento entrou o imbecil do Vankin, que disse: “Ah! estão vocês se beijando por aqui?” Com Marta, com a cozinheira!… Que coisas ocorrem a esse idiota! Essa mulher não tem nem cara nem corpo! Parece um animal e ele… “Estão vocês se beijando!” Que homem tão vulgar!
— Quem é vulgar?! perguntou Tarantuloff, que deles se aproximou nesse Instante.
— Esse Vankin. Entrei na cozinha…
E começou a contar o sucedido.
— Fez-me rir esse homem vulgar. Parece-me que é mais agradável beijar o cachorro do que Marta — acrescentou Akhineiev, olhando em derredor e vendo Mzda atrás de si.
— Aqui estamos falando de Vankin — disse-lhe. — Que tipo! Entrou na cozinha e me viu junto de Marta; e toca a inventar coisas.
— Que disse ele?
— “Vocês estão se beijando?” Talvez esteja embriagado e por isso pensou ver que estávamos nos beijando. Garanto que antes beijaria um peru do que Marta. Ademais, o idiota sabe que sou casado. Que vontade tenho de rir!
Quem o fez rir? — perguntou a Akhineiev, o professor de religião, unindo-se ao grupo.
— Vankin. Estava eu na cozinha Vendo o esturjão…
Ao cabo de uns vinte minutos, toda a gente estava inteirada da história de Vankin e do esturjão.
— Que vá agora contar! — pensou Akhineiev, esfregando as mãos. — Começará com as suas tolices e todos logo lhe dirão: “Basta de maluquices, estúpido! Já sabemos tudo!”
E Akhineiev se tranquilizou a tal ponto que bebeu uns copos além do costume. Ao acompanhar depois da ceia os recém-casados ao dormitório, foi em seguida para o seu quarto e ficou dormindo como uma criança inocente, e no dia seguinte já não se lembrava de mais nada da história do esturjão.
Mas o homem põe e Deus dispõe. As más línguas fizeram das suas e de nada serviu a Akhineiev a estratégia. Ao cabo de quatro semanas exatas, precisamente na quarta-feira, após a terceira lição, quando Akhineiev se dirigia para a sala dos professores e tratava das inclinações viciosas do aluno Vesekin, dele se aproximou o diretor, que o chamou à parte.
— Trata-se de Sergey Kapitonech — disse o diretor. — O senhor me desculpará… Não é coisa minha… Sem dúvida, espero fazê-lo compreender… A minha obrigação… O senhor verificará… Correm rumores de que o senhor vive com essa… com a cozinheira… Não é coisa minha, mas… mas… O senhor vive com ela… Beijam-se… Façam o que quiserem; mas, por favor, não o façam publicamente! Peço-lhe! Não se esqueça de que é um pedagogo!
Akhineiev ficou petrificado. Foi para casa tão dolorido como se o tivesse picado um enxame de abelhas ou como se lhe tivessem despejado pela cabeça abaixo um balde de água fervendo. Dirigiu-se para sua casa e pareceu-lhe que toda gente o olhava como se tivesse untado de breu!… Em sua casa esperava-o nova desgraça.
—Por que não comes? — perguntou-lhe a esposa, à refeição. — Em que pensas? Nos amores? Estás apreciando menos a Marta? Sei de tudo, canalha! Houve boas almas que me abriram os olhos Uh!, uh, uh!… Miserável!
E, zás, um bofetão em pleno rosto. Akhineiev levantou-se da mesa e, tonto sem gorro nem capote, partiu para a casa de Vankin. Justamente, o encontrou em casa.
—Canalha! És um canalha! — exclamou Akhineiev, dirigindo-se a Vankin. — Por que me enlameaste diante de toda a gente? Por que lançaste essa calúnia?
—Que calúnia? Que estás inventando?
— E quem tal que fez correr a mentira de que eu beijei Marta? Tu te atreverás a dizer que não foste tu bandido?
Vankin pestanejou e agitou todo o seu rosto consumido; ergueu os olhos para o ícone e disse:
— Que Deus me castigue, que eu fique sem olhos, ou morra agora mesmo, se disse uma só palavra a teu respeito!
A sinceridade de Vankin não permitia a menor dúvida. Evidentemente não fora ele o autor da calúnia.
—Mas, quem teria dito? Quem? — pensava Akhineiev, passando em revista mental todos os seus conhecidos e dando pancadas no peito. — Quem terá sido?
Quem terá sido? — perguntamos nós também, ao leitor…
O professor de matemática Tarantuloff, o francês Padekoi e o inspetor de segunda classe da Câmara de Comprovação, Egor Venedictech Mzda, sentados em fila no divã, relatavam, um depois do outro, a alguns convidados, casos de enterrados vivos e expunham a sua opinião sobre o espiritismo. Nenhum dos três acreditava nisso, mas admitiam que neste mundo há muitas coisas que a inteligência a humana não pode conceber.
Na sala contígua, o professor de literatura Duduski explicava a outro grupo de convidados os casos em que a sentinela pode atirar sobre os transeuntes. As conversas, como veem eram espantosas, mas muito agradáveis. Pelas janelas que davam para o pátio olhavam pessoas que, pela sua situação ou posição social, não tinham o direito de entrar na casa.
À meia-noite em ponto, o dono da casa, Akhineiev, entrou na cozinha para ver se estava tudo em ordem para a ceia. Encontrou a cozinha cheia do agradável cheiro dos gansos e patos assados. Sobre as mesas estavam expostos em artística desordem os zakuskas e as bebidas. Junto das mesas passava e tornava a passar, muito atarefada, a cozinheira Marta, mulher rubicunda, de volumoso ventre envolvido em faixas.
— Vamos ver, querida, onde está o esturjão? — disse Khineiev esfregando as mãos e requebrando-se. — Que cheiro magnífico! Eu sou capaz de comer toda a cozinha. Vamos, vamos, onde está o esturjão?
Marta aproximou-se de um dos bancos e cuidadosamente levantou uma folha de jornal engordurado. Debaixo dessa folha, em enorme travessa, jazia um enorme esturjão enfeitado com azeitonas, alcaparras e cenouras, Akhineiev contemplou o peixe e soltou um ah! O seu rosto resplandeceu e os olhos se lhe acenderam. Inclinou-se e produziu com os lábios som igual ao de uma roda sem sebo.
— Ah! Som de um beijo apaixonado!… Marta, com quem te estás beijando por aí?
Ouviu-se uma voz dizer isto da sala ao lado e à porta assomou a cabeça pelada do auxiliar Vankin.
— Com quem te estás beijando? Muito bem! Com quem? Com Sergey Kapitonech? Fora com o avô! Tête-à-tête com uma mulher!
— Eu não me estou beijando com ninguém — respondeu Akhineiev, algo confuso. — Quem te disse semelhante coisa, maluco? Fui eu que fiz com os lábios esse ruído, encantado pelo esturjão.
— Não me venhas com histórias!
Vankin sorriu largamente e sumiu-se da porta. Akhineiev ficou vermelho.
— Que bobagem! — pensou.
— Agora este maroto vai sair com chocarrices… Esse animal vai me ridicularizar pela cidade toda…
Akhineiev entrou timidamente no salão e olhou Vankin de soslaio. Este estava de pé junto do piano e, inclinado, em atitude decidida, dizia alguma coisa em voz em baixa à cunhada do inspetor, que ria.
— Está falando de mim — pensou Akhineiev. — De mim! Assim, maldito! E ela acredita! Está rindo! Meu Deus! Não, isto não pode ficar assim!… De maneira alguma! Tenho que arranjar as coisas de modo que ninguém acredite… Falarei com todos e ele ficará sendo um estúpido mexeriqueiro.
Akhineiev coçou a nuca e, sem deixar de estar confuso, aproximou-se de Padekoi.
Estive agora mesmo na cozinha a dar ordens para a ceia — disse ao francês. — Creio que o senhor gosta muito de peixe. Mandei preparar um esturjão de primeira! Tem duas varas! Hé, hé, hé!… A propósito… Já me ia esquecendo. Com este esturjão ocorreu-me agora, na cozinha, um caso divertido. Acabava eu de entrar na cozinha para deitar uma olhadela no manjar… Ao contemplar o esturjão, fiz com os lábios um ruído parecido com um beijo forte, ao ver como ele estava apetitoso, e nesse momento entrou o imbecil do Vankin, que disse: “Ah! estão vocês se beijando por aqui?” Com Marta, com a cozinheira!… Que coisas ocorrem a esse idiota! Essa mulher não tem nem cara nem corpo! Parece um animal e ele… “Estão vocês se beijando!” Que homem tão vulgar!
— Quem é vulgar?! perguntou Tarantuloff, que deles se aproximou nesse Instante.
— Esse Vankin. Entrei na cozinha…
E começou a contar o sucedido.
— Fez-me rir esse homem vulgar. Parece-me que é mais agradável beijar o cachorro do que Marta — acrescentou Akhineiev, olhando em derredor e vendo Mzda atrás de si.
— Aqui estamos falando de Vankin — disse-lhe. — Que tipo! Entrou na cozinha e me viu junto de Marta; e toca a inventar coisas.
— Que disse ele?
— “Vocês estão se beijando?” Talvez esteja embriagado e por isso pensou ver que estávamos nos beijando. Garanto que antes beijaria um peru do que Marta. Ademais, o idiota sabe que sou casado. Que vontade tenho de rir!
Quem o fez rir? — perguntou a Akhineiev, o professor de religião, unindo-se ao grupo.
— Vankin. Estava eu na cozinha Vendo o esturjão…
Ao cabo de uns vinte minutos, toda a gente estava inteirada da história de Vankin e do esturjão.
— Que vá agora contar! — pensou Akhineiev, esfregando as mãos. — Começará com as suas tolices e todos logo lhe dirão: “Basta de maluquices, estúpido! Já sabemos tudo!”
E Akhineiev se tranquilizou a tal ponto que bebeu uns copos além do costume. Ao acompanhar depois da ceia os recém-casados ao dormitório, foi em seguida para o seu quarto e ficou dormindo como uma criança inocente, e no dia seguinte já não se lembrava de mais nada da história do esturjão.
Mas o homem põe e Deus dispõe. As más línguas fizeram das suas e de nada serviu a Akhineiev a estratégia. Ao cabo de quatro semanas exatas, precisamente na quarta-feira, após a terceira lição, quando Akhineiev se dirigia para a sala dos professores e tratava das inclinações viciosas do aluno Vesekin, dele se aproximou o diretor, que o chamou à parte.
— Trata-se de Sergey Kapitonech — disse o diretor. — O senhor me desculpará… Não é coisa minha… Sem dúvida, espero fazê-lo compreender… A minha obrigação… O senhor verificará… Correm rumores de que o senhor vive com essa… com a cozinheira… Não é coisa minha, mas… mas… O senhor vive com ela… Beijam-se… Façam o que quiserem; mas, por favor, não o façam publicamente! Peço-lhe! Não se esqueça de que é um pedagogo!
Akhineiev ficou petrificado. Foi para casa tão dolorido como se o tivesse picado um enxame de abelhas ou como se lhe tivessem despejado pela cabeça abaixo um balde de água fervendo. Dirigiu-se para sua casa e pareceu-lhe que toda gente o olhava como se tivesse untado de breu!… Em sua casa esperava-o nova desgraça.
—Por que não comes? — perguntou-lhe a esposa, à refeição. — Em que pensas? Nos amores? Estás apreciando menos a Marta? Sei de tudo, canalha! Houve boas almas que me abriram os olhos Uh!, uh, uh!… Miserável!
E, zás, um bofetão em pleno rosto. Akhineiev levantou-se da mesa e, tonto sem gorro nem capote, partiu para a casa de Vankin. Justamente, o encontrou em casa.
—Canalha! És um canalha! — exclamou Akhineiev, dirigindo-se a Vankin. — Por que me enlameaste diante de toda a gente? Por que lançaste essa calúnia?
—Que calúnia? Que estás inventando?
— E quem tal que fez correr a mentira de que eu beijei Marta? Tu te atreverás a dizer que não foste tu bandido?
Vankin pestanejou e agitou todo o seu rosto consumido; ergueu os olhos para o ícone e disse:
— Que Deus me castigue, que eu fique sem olhos, ou morra agora mesmo, se disse uma só palavra a teu respeito!
A sinceridade de Vankin não permitia a menor dúvida. Evidentemente não fora ele o autor da calúnia.
—Mas, quem teria dito? Quem? — pensava Akhineiev, passando em revista mental todos os seus conhecidos e dando pancadas no peito. — Quem terá sido?
Quem terá sido? — perguntamos nós também, ao leitor…
Anton Tchekhov
Silêncio
É tão vasto o silêncio da noite na montanha. É tão despovoado. Tenta-se em vão trabalhar para não ouvi-lo, pensar depressa para disfarçá-lo. Ou inventar um programa, frágil ponto que mal nos liga ao subitamente improvável dia de amanhã. Como ultrapassar essa paz que nos espreita. Silêncio tão grande que o desespero tem pudor. Montanhas tão altas que o desespero tem pudor. Os ouvidos se afiam, a cabeça se inclina, o corpo todo escuta: nenhum rumor. Nenhum galo. Como estar ao alcance dessa profunda meditação do silêncio. Desse silêncio sem lembrança de palavras. Se és morte, como te alcançar.
É um silêncio que não dorme: é insone: imóvel mas insone; e sem fantasmas. É terrível – sem nenhum fantasma. Inútil querer povoá-lo com a possibilidade de uma porta que se abra rangendo, de uma cortina que se abra e diga alguma coisa. Ele é vazio e sem promessa. Se ao menos houvesse o vento. Vento é ira, ira é a vida. Ou neve. Que é muda mas deixa rastro – tudo embranquece, as crianças riem, os passos rangem e marcam. Há uma continuidade que é a vida. Mas este silêncio não deixa provas. Não se pode falar do silêncio como se fala da neve. Não se pode dizer a ninguém como se diria da neve: sentiu o silêncio desta noite? Quem ouviu não diz.
A noite desce com suas pequenas alegrias de quem acende lâmpadas com o cansaço que tanto justifica o dia. As crianças de Berna adormecem, fecham-se as últimas portas. As ruas brilham nas pedras do chão e brilham já vazias. E afinal apagam-se as luzes as mais distantes.
Mas este primeiro silêncio ainda não é o silêncio. Que se espere, pois as folhas das árvores ainda se ajeitarão melhor, algum passo tardio talvez se ouça com esperança pelas escadas.
Mas há um momento em que do corpo descansado se ergue o espírito atento, e da terra a lua alta. Então ele, o silêncio, aparece.
O coração bate ao reconhecê-lo.
Pode-se depressa pensar no dia que passou. Ou nos amigos que passaram e para sempre se perderam. Mas é inútil esquivar-se: há o silêncio. Mesmo o sofrimento pior, o da amizade perdida, é apenas fuga. Pois se no começo o silêncio parece aguardar uma resposta – como ardemos por ser chamados a responder – cedo se descobre que de ti ele nada exige, talvez apenas o teu silêncio. Quantas horas se perdem na escuridão supondo que o silêncio te julga – como esperamos em vão por ser julgados pelo Deus. Surgem as justificações, trágicas justificações forjadas, humildes desculpas até a indignidade. Tão suave é para o ser humano enfim mostrar sua indignidade e ser perdoado com a justificativa de que se é um ser humano humilhado de nascença.
Até que se descobre – nem a sua indignidade ele quer. Ele é o silêncio.
Pode-se tentar enganá-lo também. Deixa-se como por acaso o livro de cabeceira cair no chão. Mas, horror – o livro cai dentro do silêncio e se perde na muda e parada voragem deste. E se um pássaro enlouquecido cantasse? Esperança inútil. O canto apenas atravessaria como uma leve flauta o silêncio.
Então, se há coragem, não se luta mais. Entra-se nele, vai-se com ele, nós os únicos fantasmas de uma noite em Berna. Que se entre. Que não se espere o resto da escuridão diante dele, só ele próprio. Será como se estivéssemos num navio tão descomunalmente enorme que ignorássemos estar num navio. E este singrasse tão largamente que ignorássemos estar indo. Mais do que isso um homem não pode. Viver na orla da morte e das estrelas é vibração mais tensa do que as veias podem suportar. Não há sequer um filho de astro e de mulher como intermediário piedoso. O coração tem que se apresentar diante do nada sozinho e sozinho bater alto nas trevas. Só se sente nos ouvidos o próprio coração. Quando este se apresenta todo nu, nem é comunicação, é submissão. Pois nós não fomos feitos senão para o pequeno silêncio.
Se não há coragem, que não se entre. Que se espere o resto da escuridão diante do silêncio, só os pés molhados pela espuma de algo que se espraia de dentro de nós. Que se espere. Um insolúvel pelo outro. Um ao lado do outro, duas coisas que não se veem na escuridão. Que se espere. Não o fim do silêncio mas o auxílio bendito de um terceiro elemento, a luz da aurora.
.
Depois nunca mais se esquece. Inútil até fugir para outra cidade. Pois quando menos se espera pode-se reconhecê-lo – de repente. Ao atravessar a rua no meio das buzinas dos carros. Entre uma gargalhada fantasmagórica e outra. Depois de uma palavra dita. Às vezes no próprio coração da palavra. Os ouvidos se assombram, o olhar se esgazeia – ei-lo. E dessa vez ele é fantasma.
Clarice Lispector, “Onde estivestes de noite“
É um silêncio que não dorme: é insone: imóvel mas insone; e sem fantasmas. É terrível – sem nenhum fantasma. Inútil querer povoá-lo com a possibilidade de uma porta que se abra rangendo, de uma cortina que se abra e diga alguma coisa. Ele é vazio e sem promessa. Se ao menos houvesse o vento. Vento é ira, ira é a vida. Ou neve. Que é muda mas deixa rastro – tudo embranquece, as crianças riem, os passos rangem e marcam. Há uma continuidade que é a vida. Mas este silêncio não deixa provas. Não se pode falar do silêncio como se fala da neve. Não se pode dizer a ninguém como se diria da neve: sentiu o silêncio desta noite? Quem ouviu não diz.
A noite desce com suas pequenas alegrias de quem acende lâmpadas com o cansaço que tanto justifica o dia. As crianças de Berna adormecem, fecham-se as últimas portas. As ruas brilham nas pedras do chão e brilham já vazias. E afinal apagam-se as luzes as mais distantes.
Mas este primeiro silêncio ainda não é o silêncio. Que se espere, pois as folhas das árvores ainda se ajeitarão melhor, algum passo tardio talvez se ouça com esperança pelas escadas.
Mas há um momento em que do corpo descansado se ergue o espírito atento, e da terra a lua alta. Então ele, o silêncio, aparece.
O coração bate ao reconhecê-lo.
Pode-se depressa pensar no dia que passou. Ou nos amigos que passaram e para sempre se perderam. Mas é inútil esquivar-se: há o silêncio. Mesmo o sofrimento pior, o da amizade perdida, é apenas fuga. Pois se no começo o silêncio parece aguardar uma resposta – como ardemos por ser chamados a responder – cedo se descobre que de ti ele nada exige, talvez apenas o teu silêncio. Quantas horas se perdem na escuridão supondo que o silêncio te julga – como esperamos em vão por ser julgados pelo Deus. Surgem as justificações, trágicas justificações forjadas, humildes desculpas até a indignidade. Tão suave é para o ser humano enfim mostrar sua indignidade e ser perdoado com a justificativa de que se é um ser humano humilhado de nascença.
Até que se descobre – nem a sua indignidade ele quer. Ele é o silêncio.
Pode-se tentar enganá-lo também. Deixa-se como por acaso o livro de cabeceira cair no chão. Mas, horror – o livro cai dentro do silêncio e se perde na muda e parada voragem deste. E se um pássaro enlouquecido cantasse? Esperança inútil. O canto apenas atravessaria como uma leve flauta o silêncio.
Então, se há coragem, não se luta mais. Entra-se nele, vai-se com ele, nós os únicos fantasmas de uma noite em Berna. Que se entre. Que não se espere o resto da escuridão diante dele, só ele próprio. Será como se estivéssemos num navio tão descomunalmente enorme que ignorássemos estar num navio. E este singrasse tão largamente que ignorássemos estar indo. Mais do que isso um homem não pode. Viver na orla da morte e das estrelas é vibração mais tensa do que as veias podem suportar. Não há sequer um filho de astro e de mulher como intermediário piedoso. O coração tem que se apresentar diante do nada sozinho e sozinho bater alto nas trevas. Só se sente nos ouvidos o próprio coração. Quando este se apresenta todo nu, nem é comunicação, é submissão. Pois nós não fomos feitos senão para o pequeno silêncio.
Se não há coragem, que não se entre. Que se espere o resto da escuridão diante do silêncio, só os pés molhados pela espuma de algo que se espraia de dentro de nós. Que se espere. Um insolúvel pelo outro. Um ao lado do outro, duas coisas que não se veem na escuridão. Que se espere. Não o fim do silêncio mas o auxílio bendito de um terceiro elemento, a luz da aurora.
.
Depois nunca mais se esquece. Inútil até fugir para outra cidade. Pois quando menos se espera pode-se reconhecê-lo – de repente. Ao atravessar a rua no meio das buzinas dos carros. Entre uma gargalhada fantasmagórica e outra. Depois de uma palavra dita. Às vezes no próprio coração da palavra. Os ouvidos se assombram, o olhar se esgazeia – ei-lo. E dessa vez ele é fantasma.
Clarice Lispector, “Onde estivestes de noite“
quinta-feira, janeiro 29
Aqueles que andam por aí
As pessoas não morrem: andam por aí. Quantas vezes as sinto à minha volta, não apenas a presença, o cheiro, a cumplicidade silenciosa, palavras que saem da minha boca e me não pertencem, penso
- Não fui eu quem disse isto
e realmente não fui eu quem disse isto, foram as pessoas mortas, exprimem opiniões diferentes das minhas, aproximam-se, afastam-se, vão-se embora, regressam, não me abandonam nunca. Em que parte da casa moram, qual o lugar onde dormem, devíamos deixar pratos a mais na mesa, talheres, copos, almoço que chegasse, os guardanapos nas argolas, um lugar no sofá, metade do jornal, dado que não se sumiram: andam por aí, invisíveis
(invisíveis?)
densas de humanidade, tão próximas. Umas alturas muitas, outras uma ou duas apenas por terem que fazer noutro lado, no caso de saírem não vale a pena preocuparmo-nos: têm a chave e a prova que têm a chave está em que entram, silenciosas, amigas, penduram os casacos no bengaleiro, sorriem. Onde se encontra o pai? Na cadeira do costume. Onde se encontra a avó? Lá fora, no quintal, a alinhar a roupa no frio, ou a fazer festas à cadela com a mão leve de sempre. Os cemitérios são lugares vazios, só árvores, sem defuntos, só a gente, que arranjamos as campas, sem entendermos que não existe ninguém lá em baixo. Para quê visitar ausências? Uns pardais nos choupos, nada. Que sítios tranquilos, os cemitérios, que inútil a palavra defunto. Segredam-nos
- Não faleci, sabes?
e não faleceram, é verdade, continuam, não na nossa lembrança, continuam de facto, pertinho. Quase sem ruído mas, tomando atenção, percebem-se, quase não ocupando espaço mas, reparando melhor, ali, iguais a nós, tão vivos. Andam por aí, pertencem-nos, pertencemos-lhes, não deixámos de estar juntos. Nunca deixámos de estar juntos: Quando é necessário poisam-nos a palma no ombro. Na época em que andei muito doente houve sempre palmas no meu ombro, a ajudarem. E agora, na mesa a escrever isto, espreitam o papel, sabem, melhor do que eu, as palavras que se seguem. O meu avô
- Não te aborrece escrever?
ele, a quem nunca vi ler um livro, instalava-se diante dos canteiros, em silêncio, a olhar as árvores, suponho que a olhar o Brasil da sua infância. Avôzinho. Tão diferente de mim: muito moreno, de cabelo encaracolado, lindo. Continua por aí, não deixe de continuar por aí. Um amigo meu, que disse a missa de corpo presente da mãe, contou-me que, ao voltar a casa semanas depois, a primeira pergunta que fez foi
- A mãe?
seguro de a achar num compartimento qualquer. E, de certeza
(isto já não me contou)
que deu com ela. Que dá com ela a cada passo. Nem é preciso interrogar seja quem for, a mãe encarrega-se de resolver o problema, haverá algum problema que uma mãe não resolva? Não é infantilidade da minha parte afirmar isto: é assim. Frase da minha, ontem
- A gente tem que se divertir ao divertir as crianças, porque se a gente não se divertir elas não se divertem
e eu de boca aberta. É que não há coisa mais séria que o divertimento. Os nossos brinquedos foram uma coisa importantíssima para o meu pai. Confiscava-nos alguns para seu gozo pessoal, secreto. A gravidade apaixonada com que ele jogava. Tenho os postais que o meu avô lhe mandava da guerra em França, derramados de ternura para um garotinho de dois anos. O paizinho gostava que o Janjão, etc. Andam os dois por aí agora, o Janjão e o paizinho. E, se calhar, o Janjão continua a receber postais. E de certeza que o Janjão continua a receber postais. É verdade não é, senhor, que continua a receber postais? Mesmo de bata, no hospital, mesmo professor, mesmo importante? Postais. Há quanto tempo não recebo postais. Uma carta de vez em quando, papelada da agência, das editoras, dos tradutores mas postais, postais-postais, népia. E aqueles que andam por aí, sei lá porquê, não me mandam nenhum. Ou mandam-se a si mesmas e acham que chega. E, em certo sentido, chega. Mas umas palavrinhas, num cartão, caíam bem, há alturas em que umas palavrinhas num cartão caem bem. Não sei porquê mas caem bem. Não faço nenhum livro agora, ando vazio, e o vazio começa a inquietar-me. E se isto acabou? Terei secado? Apareceu-me uma coisa mas não dava, de maneira que fiquei sem nada. As falsas partidas, os equívocos, pensar que se consegue e não se consegue. O que julgarão desta impotência aqueles que andam por aí? Não lhes falo nisso, claro, é o género de assuntos que guardo para mim, guardo quase tudo para mim. A casa frente ao mar que nunca tive, por exemplo, tenho prédios feios. Algumas árvores e prédios feios. Que silêncio. A minha filha, no computador, entretem-se com o que chama um jogo de estratégia, em lugar de se sentar no meu colo. Olho para o écran e não percebo raspas, deve ser uma estratégia complicadíssima. Afirma que está a construir coisas. Ao menos que haja alguém ao pé de mim a construir seja o que for, compenetrada, solene. Se olhar bem o seu ombro vejo a palma que poisou nela. Há palmas tão bonitas quanto os pássaros. Daqui a nada, sem que ela dê por isso, começa a cantar. Basta um bocadinho de atenção para a ouvir cantar. E, ao cantar, começo a escutar as ondas. Uma após outra. Para mim. Atrás destas janelas e destas árvores há-de haver uma praia. Reparem.
António Lobo Antunes, Revista Visão
- Não fui eu quem disse isto
e realmente não fui eu quem disse isto, foram as pessoas mortas, exprimem opiniões diferentes das minhas, aproximam-se, afastam-se, vão-se embora, regressam, não me abandonam nunca. Em que parte da casa moram, qual o lugar onde dormem, devíamos deixar pratos a mais na mesa, talheres, copos, almoço que chegasse, os guardanapos nas argolas, um lugar no sofá, metade do jornal, dado que não se sumiram: andam por aí, invisíveis
(invisíveis?)
densas de humanidade, tão próximas. Umas alturas muitas, outras uma ou duas apenas por terem que fazer noutro lado, no caso de saírem não vale a pena preocuparmo-nos: têm a chave e a prova que têm a chave está em que entram, silenciosas, amigas, penduram os casacos no bengaleiro, sorriem. Onde se encontra o pai? Na cadeira do costume. Onde se encontra a avó? Lá fora, no quintal, a alinhar a roupa no frio, ou a fazer festas à cadela com a mão leve de sempre. Os cemitérios são lugares vazios, só árvores, sem defuntos, só a gente, que arranjamos as campas, sem entendermos que não existe ninguém lá em baixo. Para quê visitar ausências? Uns pardais nos choupos, nada. Que sítios tranquilos, os cemitérios, que inútil a palavra defunto. Segredam-nos
- Não faleci, sabes?
e não faleceram, é verdade, continuam, não na nossa lembrança, continuam de facto, pertinho. Quase sem ruído mas, tomando atenção, percebem-se, quase não ocupando espaço mas, reparando melhor, ali, iguais a nós, tão vivos. Andam por aí, pertencem-nos, pertencemos-lhes, não deixámos de estar juntos. Nunca deixámos de estar juntos: Quando é necessário poisam-nos a palma no ombro. Na época em que andei muito doente houve sempre palmas no meu ombro, a ajudarem. E agora, na mesa a escrever isto, espreitam o papel, sabem, melhor do que eu, as palavras que se seguem. O meu avô
- Não te aborrece escrever?
ele, a quem nunca vi ler um livro, instalava-se diante dos canteiros, em silêncio, a olhar as árvores, suponho que a olhar o Brasil da sua infância. Avôzinho. Tão diferente de mim: muito moreno, de cabelo encaracolado, lindo. Continua por aí, não deixe de continuar por aí. Um amigo meu, que disse a missa de corpo presente da mãe, contou-me que, ao voltar a casa semanas depois, a primeira pergunta que fez foi
- A mãe?
seguro de a achar num compartimento qualquer. E, de certeza
(isto já não me contou)
que deu com ela. Que dá com ela a cada passo. Nem é preciso interrogar seja quem for, a mãe encarrega-se de resolver o problema, haverá algum problema que uma mãe não resolva? Não é infantilidade da minha parte afirmar isto: é assim. Frase da minha, ontem
- A gente tem que se divertir ao divertir as crianças, porque se a gente não se divertir elas não se divertem
e eu de boca aberta. É que não há coisa mais séria que o divertimento. Os nossos brinquedos foram uma coisa importantíssima para o meu pai. Confiscava-nos alguns para seu gozo pessoal, secreto. A gravidade apaixonada com que ele jogava. Tenho os postais que o meu avô lhe mandava da guerra em França, derramados de ternura para um garotinho de dois anos. O paizinho gostava que o Janjão, etc. Andam os dois por aí agora, o Janjão e o paizinho. E, se calhar, o Janjão continua a receber postais. E de certeza que o Janjão continua a receber postais. É verdade não é, senhor, que continua a receber postais? Mesmo de bata, no hospital, mesmo professor, mesmo importante? Postais. Há quanto tempo não recebo postais. Uma carta de vez em quando, papelada da agência, das editoras, dos tradutores mas postais, postais-postais, népia. E aqueles que andam por aí, sei lá porquê, não me mandam nenhum. Ou mandam-se a si mesmas e acham que chega. E, em certo sentido, chega. Mas umas palavrinhas, num cartão, caíam bem, há alturas em que umas palavrinhas num cartão caem bem. Não sei porquê mas caem bem. Não faço nenhum livro agora, ando vazio, e o vazio começa a inquietar-me. E se isto acabou? Terei secado? Apareceu-me uma coisa mas não dava, de maneira que fiquei sem nada. As falsas partidas, os equívocos, pensar que se consegue e não se consegue. O que julgarão desta impotência aqueles que andam por aí? Não lhes falo nisso, claro, é o género de assuntos que guardo para mim, guardo quase tudo para mim. A casa frente ao mar que nunca tive, por exemplo, tenho prédios feios. Algumas árvores e prédios feios. Que silêncio. A minha filha, no computador, entretem-se com o que chama um jogo de estratégia, em lugar de se sentar no meu colo. Olho para o écran e não percebo raspas, deve ser uma estratégia complicadíssima. Afirma que está a construir coisas. Ao menos que haja alguém ao pé de mim a construir seja o que for, compenetrada, solene. Se olhar bem o seu ombro vejo a palma que poisou nela. Há palmas tão bonitas quanto os pássaros. Daqui a nada, sem que ela dê por isso, começa a cantar. Basta um bocadinho de atenção para a ouvir cantar. E, ao cantar, começo a escutar as ondas. Uma após outra. Para mim. Atrás destas janelas e destas árvores há-de haver uma praia. Reparem.
António Lobo Antunes, Revista Visão
Epigrama N° 3
Mutilados jardins e primaveras abolidas
abriram seus miraculosos ramos
no cristal em que pousa a minha mão.
(Prodigioso perfume!)
Recompuseram-se tempos, formas, cores, vidas ...
Ah! mundo vegetal, nós, humanos, choramos
só da incerteza da ressurreição.
abriram seus miraculosos ramos
no cristal em que pousa a minha mão.
(Prodigioso perfume!)
Recompuseram-se tempos, formas, cores, vidas ...
Ah! mundo vegetal, nós, humanos, choramos
só da incerteza da ressurreição.
Cecília Meireles
A moda é muda
Tizuca parado em frente à loja de roupas masculinas. Ou unissex. Quem sabe lá o que hoje é ou não é roupa do ou roupa da.
Indecisão. Dúvida. Perplexidade. Escolher o quê?
Colarinho italiano arredondado ou colarinho com pontas abotoadas. Os dois?
Colarinho com pespontos, colarinho chemisier? Tudo que há de opção na forma e cara de um colarinho!
Se Tizuca pende para a camisa esporte xadrez, vem o problema: o xadrez do bolso tanto pode ser na direção das linhas como enviesado. Enviesado é melhor, claro. Mas o outro, mesmo de xadrez, tem um toque de social, entende?
Tizuca não é lá muito social, mas a fórmula esporte-social o atrai. Em geral e sempre, ele é mais esporte. Acontece que amanhã pode querer dar uma de social, e então esta camisa aqui vira clássica, pelo artifício de um botão abotoado no colarinho. Versátil.
Tizuca ainda não chegou ao capítulo calça. Está assuntando a subseção lapela do bolso. Ah, e os botões de quatro furos? Sem quatro furos, infeliz é o botão, e logo esta camisa de palas inclinadas na frente e horizontais atrás, tão bac (Tizuca não fala bacana), perde noventa por cento de carga charmosa, com seus míseros botões de dois furos.
O botão também, na estética do minuto, precisa ter cores contrastantes com a cor ou cores da camisa. E mesmo, por que não? contrastantes entre si. Comprada a camisa, Tizuca vai dar à mãe o trabalho de arrancar três dos botões e substituí-los por outros bem diferentes uns dos outros. A velha trate de arranjá-los, botão é negócio de mãe.
A questão é que, sendo a calça sonhada, não é rigorosamente a calça sonhada. Entenda quem quiser ou puder. Verdade, verdade, as calças que sonhamos nunca se realizam em vitrine alguma do mundo, elas foram feitas e desfeitas no momento ideal, que os figurinistas seriam incapazes de assimilar. Bolso embutido na cintura não é o mesmo que bolso inclinado. Tem mais: a barra virada. Esqueceram-se de botar no real a barra virada do meu sonho.
Tizuca, não te resolves? Vais ficar parado a eternidade diante da loja, vestindo com os olhos? Se não és capaz de escolher entre uma calça pied-de-poule e outra pied-de-coq, como escolherás entre duas garotas? Ou duas profissões? Ou…?
Chega de perguntar, tu me engrilas. Tizuca desdobra-se em consciência e alienação. Pergunta-se e recusa-se a responder. Se houvesse nas coisas uma resposta, o rótulo esclarecedor: Sou o que queres. Não sou o que queres. Todas parecem dizer: Afinal, que queres?
A moda. O medo. Medo de não estar na moda. O descompasso. O desequilíbrio íntimo, independente do efeito que possa produzir nos outros o fato de não usarmos aquela camisa que é a absoluta nesta primavera. Por que me visto? Para vocês, mas principalmente para minha imagem no espelho. Nos dois espelhos: o do armário, o de dentro de mim mesmo, Tizuca, dezoito anos, indecisão. E depois…
Depois, Tizuca tem no bolso apenas duzentos cruzeiros, que não dão para comprar a vitrine, e levar para casa e experimentar todas as soluções vestiais e escolher aquela solução, aquele colarinho, aquele bolso, aquela prega. A vida é ondulada, interrogativa, como a minhoca. E muda, feito a moda.
Carlos Drummond de Andrade, "De Notícias e Não Notícias Faz-se A Crônica"
Indecisão. Dúvida. Perplexidade. Escolher o quê?
Colarinho italiano arredondado ou colarinho com pontas abotoadas. Os dois?
Colarinho com pespontos, colarinho chemisier? Tudo que há de opção na forma e cara de um colarinho!
Se Tizuca pende para a camisa esporte xadrez, vem o problema: o xadrez do bolso tanto pode ser na direção das linhas como enviesado. Enviesado é melhor, claro. Mas o outro, mesmo de xadrez, tem um toque de social, entende?
Tizuca não é lá muito social, mas a fórmula esporte-social o atrai. Em geral e sempre, ele é mais esporte. Acontece que amanhã pode querer dar uma de social, e então esta camisa aqui vira clássica, pelo artifício de um botão abotoado no colarinho. Versátil.
Vitrine é isso: mostra demais. Devia mostrar só uma camisa de cada vez, a gente conferia, tá bem, não tá: outra. Depois outra. Cinco camisas diferentes, dando tapa no olhar, como é que pode?
Tizuca ainda não chegou ao capítulo calça. Está assuntando a subseção lapela do bolso. Ah, e os botões de quatro furos? Sem quatro furos, infeliz é o botão, e logo esta camisa de palas inclinadas na frente e horizontais atrás, tão bac (Tizuca não fala bacana), perde noventa por cento de carga charmosa, com seus míseros botões de dois furos.
O botão também, na estética do minuto, precisa ter cores contrastantes com a cor ou cores da camisa. E mesmo, por que não? contrastantes entre si. Comprada a camisa, Tizuca vai dar à mãe o trabalho de arrancar três dos botões e substituí-los por outros bem diferentes uns dos outros. A velha trate de arranjá-los, botão é negócio de mãe.
Às calças. Tu não me procurarias tanto se já não me tivesses encontrado. Pascal, vestibular de francês. Por que fui escolher francês? Mas esta calça é aquela que eu sonhei na semana passada, a mesma, a própria. A cor, a linha, o tique-taque. Ninguém é capaz de saber o que seja o tique-taque de uma calça, mas Tizuca sabe, ele que descobriu o fenômeno: há calças com tique-taque, outras sem. A maioria, sem. Certo ruído leve que ela faz quando a gente anda? Não. Certo ritmo, certas dobras harmoniosas? Também não. Tizuca não explica a ninguém, nem a si mesmo. Só ele sabe, e esconde de todos.
A questão é que, sendo a calça sonhada, não é rigorosamente a calça sonhada. Entenda quem quiser ou puder. Verdade, verdade, as calças que sonhamos nunca se realizam em vitrine alguma do mundo, elas foram feitas e desfeitas no momento ideal, que os figurinistas seriam incapazes de assimilar. Bolso embutido na cintura não é o mesmo que bolso inclinado. Tem mais: a barra virada. Esqueceram-se de botar no real a barra virada do meu sonho.
Tizuca, não te resolves? Vais ficar parado a eternidade diante da loja, vestindo com os olhos? Se não és capaz de escolher entre uma calça pied-de-poule e outra pied-de-coq, como escolherás entre duas garotas? Ou duas profissões? Ou…?
Chega de perguntar, tu me engrilas. Tizuca desdobra-se em consciência e alienação. Pergunta-se e recusa-se a responder. Se houvesse nas coisas uma resposta, o rótulo esclarecedor: Sou o que queres. Não sou o que queres. Todas parecem dizer: Afinal, que queres?
A moda. O medo. Medo de não estar na moda. O descompasso. O desequilíbrio íntimo, independente do efeito que possa produzir nos outros o fato de não usarmos aquela camisa que é a absoluta nesta primavera. Por que me visto? Para vocês, mas principalmente para minha imagem no espelho. Nos dois espelhos: o do armário, o de dentro de mim mesmo, Tizuca, dezoito anos, indecisão. E depois…
Depois, Tizuca tem no bolso apenas duzentos cruzeiros, que não dão para comprar a vitrine, e levar para casa e experimentar todas as soluções vestiais e escolher aquela solução, aquele colarinho, aquele bolso, aquela prega. A vida é ondulada, interrogativa, como a minhoca. E muda, feito a moda.
Carlos Drummond de Andrade, "De Notícias e Não Notícias Faz-se A Crônica"
Medo da eternidade
Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade.
Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas.
Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou:
- Como não acaba? - Parei um instante na rua, perplexa.
- Não acaba nunca, e pronto.
Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual já começara a me dar conta.
Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.
- E agora que é que eu faço? - Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver.
- Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários.
- Perder a eternidade? Nunca.
O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola.
- Acabou-se o docinho. E agora?
- Agora mastigue para sempre.
Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da idéia de eternidade ou de infinito.
Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar.
Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia.
- Olha só o que me aconteceu! - Disse eu em fingidos espanto e tristeza. - Agora não posso mastigar mais! A bala acabou!
- Já lhe disse - repetiu minha irmã - que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não perderá.
Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra na boca por acaso.
Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.
Clarice Lispector
Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas.
Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou:
- Como não acaba? - Parei um instante na rua, perplexa.
- Não acaba nunca, e pronto.
Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual já começara a me dar conta.
Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.
- E agora que é que eu faço? - Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver.
- Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários.
- Perder a eternidade? Nunca.
O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola.
- Acabou-se o docinho. E agora?
- Agora mastigue para sempre.
Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da idéia de eternidade ou de infinito.
Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar.
Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia.
- Olha só o que me aconteceu! - Disse eu em fingidos espanto e tristeza. - Agora não posso mastigar mais! A bala acabou!
- Já lhe disse - repetiu minha irmã - que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não perderá.
Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra na boca por acaso.
Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.
Clarice Lispector
terça-feira, janeiro 27
Os últimos dias de um livro
Depois dos sessenta anos, a coisa mais comum são as despedidas. Não só porque você passa a frequentar mais velórios que aniversários, mas porque passa a se despedir de partes de você (como alguns dentes, apêndice, amigdalas, vesícula, etc…).
O que eu não esperava era ter que despedir de meus livros.
Agora que sou editor de várias das minhas próprias obras (o quê? Você nunca ouviu falar na Padaria de Livros?), terei que praticar a eutanásia em algumas delas.
É que, quando o estoque de um livro colorido chega ali pelos duzentos exemplares, há que pedir uma nova impressão (livros em P&B podem ter edições digitais decentes, baratas e pequenas). Mas há obras que não serão reimpressas. Elas estão com os dias contados. Ou, no caso, com os exemplares contados.
São livros que vendem tão vagarosamente que uma nova edição só ocuparia espaço no depósito (leia-se: “minha sala”).
Quando for embora o último exemplar de um desses títulos, acabou. C’est fini. Babau.
O pior é que, às vezes, estes livros que recebem a pena de morte são bons. Por exemplo, O amor é animal! tem ilustrações lindas de Miki W., e o texto fala sobre os diversos tipos de amores entre os animais. Mas contar que há seres que não têm apenas um parceiro e que às vezes este parceiro não é do sexo oposto virou uma blasfêmia.
Esse livro jamais foi adotado por uma escola privada (nota de elogio e espanto: a Prefeitura de São Paulo comprou uns dois mil exemplares para as salas de leitura), porque os professores não vão querer comprar uma briga com pais reacionários. Se bem que a censura também vem dos lados pretensamente modernos. Tente, por exemplo, sugerir a leitura de um livro de Monteiro Lobato para você ver.
Na mesma situação de O amor é animal! está a história em quadrinhos Super-Zé. Eu gostaria de ter lido um livro desses na adolescência, com um herói meio torto, que percebe que superpoderes não são grande coisa e tenta fundar um partido político. Mas, pelo visto, as HQs que adaptam grandes romances brasileiros são as únicas que têm vez nas salas de aula.
Pois bem, depois de fazer a biópsia (ou bibliópsia) desses livros, decidi que eles não serão reimpressos. Seria perda de tempo, de dinheiro e de espaço na sala.
É triste perceber que a vida de um livro não é necessariamente mais longa por ele ser bom. Assim como uma pessoa não vive mais por ser boa.
A natureza e o mercado não ligam muito para meritocracia. Ou talvez até liguem, mas é uma meritocracia que privilegia a herança genética. E nos dois casos.
Enfim, espero que estes dois livros tenham últimos dias agradáveis e que caiam nas mãos de bons leitores. O certo é que, em breve, eles não estarão mais vivos nos catálogos. Serão acessíveis apenas nos sebos, uma espécie de centros espíritas para livros desencarnados. Ou, no caso, desencatalogados.
O que eu não esperava era ter que despedir de meus livros.
Agora que sou editor de várias das minhas próprias obras (o quê? Você nunca ouviu falar na Padaria de Livros?), terei que praticar a eutanásia em algumas delas.
É que, quando o estoque de um livro colorido chega ali pelos duzentos exemplares, há que pedir uma nova impressão (livros em P&B podem ter edições digitais decentes, baratas e pequenas). Mas há obras que não serão reimpressas. Elas estão com os dias contados. Ou, no caso, com os exemplares contados.
São livros que vendem tão vagarosamente que uma nova edição só ocuparia espaço no depósito (leia-se: “minha sala”).
Quando for embora o último exemplar de um desses títulos, acabou. C’est fini. Babau.
O pior é que, às vezes, estes livros que recebem a pena de morte são bons. Por exemplo, O amor é animal! tem ilustrações lindas de Miki W., e o texto fala sobre os diversos tipos de amores entre os animais. Mas contar que há seres que não têm apenas um parceiro e que às vezes este parceiro não é do sexo oposto virou uma blasfêmia.
Esse livro jamais foi adotado por uma escola privada (nota de elogio e espanto: a Prefeitura de São Paulo comprou uns dois mil exemplares para as salas de leitura), porque os professores não vão querer comprar uma briga com pais reacionários. Se bem que a censura também vem dos lados pretensamente modernos. Tente, por exemplo, sugerir a leitura de um livro de Monteiro Lobato para você ver.
Na mesma situação de O amor é animal! está a história em quadrinhos Super-Zé. Eu gostaria de ter lido um livro desses na adolescência, com um herói meio torto, que percebe que superpoderes não são grande coisa e tenta fundar um partido político. Mas, pelo visto, as HQs que adaptam grandes romances brasileiros são as únicas que têm vez nas salas de aula.
Pois bem, depois de fazer a biópsia (ou bibliópsia) desses livros, decidi que eles não serão reimpressos. Seria perda de tempo, de dinheiro e de espaço na sala.
É triste perceber que a vida de um livro não é necessariamente mais longa por ele ser bom. Assim como uma pessoa não vive mais por ser boa.
A natureza e o mercado não ligam muito para meritocracia. Ou talvez até liguem, mas é uma meritocracia que privilegia a herança genética. E nos dois casos.
Enfim, espero que estes dois livros tenham últimos dias agradáveis e que caiam nas mãos de bons leitores. O certo é que, em breve, eles não estarão mais vivos nos catálogos. Serão acessíveis apenas nos sebos, uma espécie de centros espíritas para livros desencarnados. Ou, no caso, desencatalogados.
O sopro que falta
Num tempo em que até piada precisa de manual de instruções, bula e QR code de consentimento, nunca se precisou tanto dele: o cronista pré-patrulha. O sujeito de ironia ligeira, sarcasmo ao ponto e uma leve tendência a irritar autoridades e vacas sagradas.
Esse cronista, caro leitor, era um especialista em rir com classe de tudo aquilo que hoje exige live, clube de leitura e mediação. Fazia mofa da crise, do preço do tomate, do ministro de bigode, da censura e até de si mesmo, quando se via obrigado a escrever uma crônica no domingo, com ressaca e sem assunto. E conseguia. Fazia do nada uma sátira, da dor uma anedota e do ridículo fazia o Brasil.
Mas aí o tempo passou. Veio a internet, os emojis, o coaching motivacional, o bolovo gourmet. E, com eles, uma nova forma de vigilância: a do bom-mocismo performático, do “olha como eu sou consciente”, do “antes de criticar, você considerou o impacto socioafetivo dessa piada nos aracnofóbicos?”.
De repente, a irreverência virou suspeita. E o humor, esse velho transgressor, foi algemado com palavras como “inadequado”, “desrespeitoso” e “multiculturalmente insensível”. Não que tudo isso não tenha valor — tem, sim. Mas vamos ser sinceros: uma piada com todas essas credenciais não arranca risada, arranca o laudo de falecimento do senso de humor.
E é aí, meus caros, que o cronista pré-patrulha precisa ressurgir das cinzas. Não como um salvador (ele tem alergia a essa função), mas como um sujeito que sopra. Sim, sopra uma frase torta, um parágrafo venenoso, um comentário que gera aquele sorrisinho de lado. E pronto: incendeia o ambiente. Porque hoje, nesse mundo estanque, é preciso de sopradores para levantar a poeira.
A caretice atual é tão engomada, tão esforçada em parecer elevada, que qualquer risada fora de hora é revolucionária. O sujeito que ousa gargalhar sem planilha de impacto social é imediatamente fichado: subversivo, perigoso, potencialmente engraçado. E o mais curioso: mesmo quem finge indignação às vezes ri escondido, porque fazer isso de algo proibido tem o mesmo sabor daquela cola escolar cheirada na infância. Todo mundo nega, mas o brilho no olho entrega.
O cronista pré-patrulha, portanto, não influencia por nostalgia. Ele motiva por contraste. Porque lembrar o que é o riso sem freio também é um ato político. Talvez o mais urgente de todos. Ainda mais para o momento atual.
E sejamos francos: num mundo em que todo mundo anda com extintor na mão, quem sabe soprar acende a fogueira da mudança.
Esse cronista, caro leitor, era um especialista em rir com classe de tudo aquilo que hoje exige live, clube de leitura e mediação. Fazia mofa da crise, do preço do tomate, do ministro de bigode, da censura e até de si mesmo, quando se via obrigado a escrever uma crônica no domingo, com ressaca e sem assunto. E conseguia. Fazia do nada uma sátira, da dor uma anedota e do ridículo fazia o Brasil.
Mas aí o tempo passou. Veio a internet, os emojis, o coaching motivacional, o bolovo gourmet. E, com eles, uma nova forma de vigilância: a do bom-mocismo performático, do “olha como eu sou consciente”, do “antes de criticar, você considerou o impacto socioafetivo dessa piada nos aracnofóbicos?”.
De repente, a irreverência virou suspeita. E o humor, esse velho transgressor, foi algemado com palavras como “inadequado”, “desrespeitoso” e “multiculturalmente insensível”. Não que tudo isso não tenha valor — tem, sim. Mas vamos ser sinceros: uma piada com todas essas credenciais não arranca risada, arranca o laudo de falecimento do senso de humor.
E é aí, meus caros, que o cronista pré-patrulha precisa ressurgir das cinzas. Não como um salvador (ele tem alergia a essa função), mas como um sujeito que sopra. Sim, sopra uma frase torta, um parágrafo venenoso, um comentário que gera aquele sorrisinho de lado. E pronto: incendeia o ambiente. Porque hoje, nesse mundo estanque, é preciso de sopradores para levantar a poeira.
A caretice atual é tão engomada, tão esforçada em parecer elevada, que qualquer risada fora de hora é revolucionária. O sujeito que ousa gargalhar sem planilha de impacto social é imediatamente fichado: subversivo, perigoso, potencialmente engraçado. E o mais curioso: mesmo quem finge indignação às vezes ri escondido, porque fazer isso de algo proibido tem o mesmo sabor daquela cola escolar cheirada na infância. Todo mundo nega, mas o brilho no olho entrega.
O cronista pré-patrulha, portanto, não influencia por nostalgia. Ele motiva por contraste. Porque lembrar o que é o riso sem freio também é um ato político. Talvez o mais urgente de todos. Ainda mais para o momento atual.
E sejamos francos: num mundo em que todo mundo anda com extintor na mão, quem sabe soprar acende a fogueira da mudança.
Manoel por Manoel
Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do
ermo não fui um menino peralta. Agora tenho saudade
do que não fui. Acho que o que faço agora é o que não
pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem.
Quando era criança eu deveria pular muro do vizinho
para catar goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de
peraltagem eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra
era lagarto. Que lata era navio. Que sabugo era um
serzinho mal resolvido e igual a um filhote de gafanhoto.
Cresci brincando no chão, entre formigas. De uma
infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais
comunhão com as coisas do que comparação.
Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz
comunhão: de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e
suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago
das minhas raízes crianceiras a visão comungante e
oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro
me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que
eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem
de eu ter sido criança em algum lugar perdido onde
havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era
o menino e os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino
e o rio. Era o menino e as árvores.
Manoel de Barros, em "Meu quintal é maior do que o mundo"
ermo não fui um menino peralta. Agora tenho saudade
do que não fui. Acho que o que faço agora é o que não
pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem.
Quando era criança eu deveria pular muro do vizinho
para catar goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de
peraltagem eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra
era lagarto. Que lata era navio. Que sabugo era um
serzinho mal resolvido e igual a um filhote de gafanhoto.
Cresci brincando no chão, entre formigas. De uma
infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais
comunhão com as coisas do que comparação.
Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz
comunhão: de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e
suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago
das minhas raízes crianceiras a visão comungante e
oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro
me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que
eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem
de eu ter sido criança em algum lugar perdido onde
havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era
o menino e os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino
e o rio. Era o menino e as árvores.
Manoel de Barros, em "Meu quintal é maior do que o mundo"
Assinar:
Comentários (Atom)