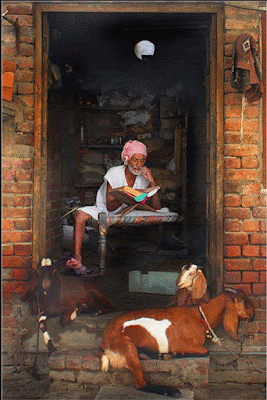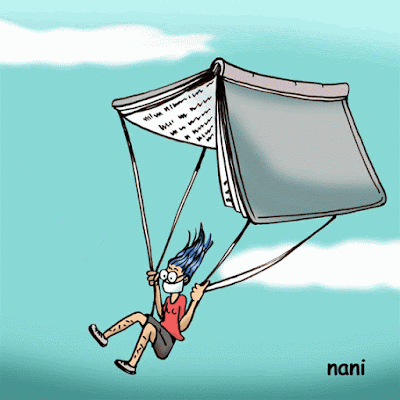segunda-feira, maio 31
A morte dos românticos
 |
Lorser Feitelson |
Se houvesse justiça para os poetas, os da escola romântica mereceriam morrer pelo menos três vezes, todas por amor.
***
Nos livros eróticos antigos há metáforas curiosas. Uma das mais recorrentes é a das espadas que gotejam mel.
***
Não temam, eu serei breve. Sou um tipo ultrapassado, sou uma voz do passado, sou um defunto que escreve.
***
O haicai é uma espécie de milagre envergonhado, um fiozinho de sol que quase pede desculpas por se demorar um instante a mais numa árvore, quando todas as outras do pomar estão já entregues à noite.
***
Conhecemos já, pelo menos de ouvir falar, a gramática histórica, a gramática expositiva, a gramática normativa e a gramática punitiva. Estamos esperando a gramática permissiva.
***
É um daqueles gramáticos autoritários que, em qualquer situação cotidiana, como uma briga de bar, sacam como argumento definitivo a mais mal-encarada crase do seu estoque.
***
A viúva Seixas acha que o fantasma que começou a visitá-la nas noites de sexta-feira é uma versão semelhante ao falecido, com duas notáveis diferenças: tem mãos mais frias e fala inglês.
***
Depois de três meses de visitas à viúva Seixas, o fantasma pela primeira vez foi indelicado, o que a arguta senhora atribuiu a uma agulhada de ciúme: ele quebrou a moldura de uma foto na qual, na sala, o extinto marido segura virilmente um enorme peixe puxado para dentro de um barco.
***
Querer ainda ser artista, assim como outros quereres, não é uma coisa sobre a qual eu possa estar certo como estive outrora.
***
Cada vez que me reanaliso, encontro uma pessoa pior. E entendo, com maior nitidez, que meus esforços literários foram sempre uma tentativa de, advogando em causa própria, absolver-me sob a alegação de ter buscado a beleza.
Raul Drewnick
Fogo morto
— José Passarinho, onde foi que você aprendeu esta história que estava cantando?
— Com um cego de Itambé, mestre Zé. Andei com este homem feito guia um tempão. Depois me pus homem e ele não me quis mais.
— Ah! Já sei, era aquele cego de nascença que mataram para roubar, no Oratório? Era um homem malcriado, cheio de novidades.
— Não era mau, mestre Zé. Meu pai me deu a ele, quando eu tinha sete anos. Eu digo ao senhor, foi homem bom que me ensinou muita coisa. A gente aprende muita coisa, mestre, mas só enxada é que dá feijão e farinha.
Era dia de feira em São Miguel e pela estrada começava a passar gente para as vendagens. Passou o cego Torquato e parou na porta para pedir esmola. Gostava, sempre que o cego passava pela sua porta, de puxar conversa com ele.
O mestre José Amaro naquele dia queria falar. Nunca se vira na sua cara uma satisfação igual.
— Então, seu Torquato, como vai a vida?
— Que vida, mestre. Que vida pode ter um pobre cego! Ando por este mundo contando os dias. Se não fosse o amor de Deus e a caridade dos homens, já me tinha acabado, seu mestre.
— Qual, seu Torquato, o senhor ainda tem a sua família.
— Uma mãe entrevada, seu mestre, um irmão quase cego como eu...
— E o povo de Gurinhém, seu Torquato? Estão dizendo que a feira de lá está se acabando.
— É medo da tropa, seu mestre, é medo da tropa. O povo arrepunou com o tenente. É um dar sem conta. O homem é brabo mesmo. Acredite o senhor que até o padre Antônio já sofreu uma desfeita. O pobre do padre dá tudo aos necessitados. Foram dizer ao tenente que o padre andava com conversa com o homem. Ora, o padre Antônio não é criatura para esconder o que faz. Contou tudo. Estivera com o bando, conversara com o capitão, e foi por aí afora. O tenente deu o mal dentro e disse o diabo para o reverendo. E ouviu o diabo. O padre Antônio é manso assim, como se vê, mas na hora ninguém faz dele o que quer. Gritou para o tenente, o tenente gritou para ele. Eu só sei é que ele tomou o trem no Pilar, e foi à cidade. As folhas da Paraíba deram. Eu ouvi no Pilar um sujeito lendo uma crítica do jornal. O padre é duro. O tenente está fazendo o diabo. É por isto que o povo está correndo da feira. Surra de tropa não é brincadeira.
— Eu quero ver esta valentia é com o capitão. No Ingá foi aquilo que se viu.
— Eu não sei de nada não, seu mestre. Sou um pobre cego, vivo do coração dos outros. Uma coisa porém eu digo: este capitão nunca me fez mal. Uma vez eu vinha com o meu guia na estrada nova. Era na boca da noite. Voltava do Sapé e, quase chegando no Maraú, me senti cercado de gente. O meu guia me disse baixinho: “É cangaceiro, seu Torquato.” E era mesmo. Me deram dinheiro. Nunca tive tanto dinheiro na mão. O capitão Antônio Silvino me chamou de parte para saber o que se falava dele na feira do Sapé. Eu disse tudo. Falei de Cazuza Trombone que estava com muitas praças dentro de casa. E de Simplício Coelho que contava goga na loja, dizendo a Deus e ao mundo que na mesa dele cangaceiro não se sentava. Ah!, contei. Este Simplício Coelho uma vez eu estava sentado na calçada dele, tocando a minha viola, e mandou um caixeiro dizer para o pobre cego sair. Bicho malvado.
— Foi por isto que o capitão fez aquela desgraça na loja quando atacou o Sapé?
— Eu não sei por que foi. Agora, seu mestre, o senhor acha direito tratar um pobre cego como cachorro?
Apareceu a velha Sinhá com uma coité de farinha e o guia abriu o saco.
— Deus vos pague, Deus vos dê o santo reino da glória.
— Com um cego de Itambé, mestre Zé. Andei com este homem feito guia um tempão. Depois me pus homem e ele não me quis mais.
— Ah! Já sei, era aquele cego de nascença que mataram para roubar, no Oratório? Era um homem malcriado, cheio de novidades.
— Não era mau, mestre Zé. Meu pai me deu a ele, quando eu tinha sete anos. Eu digo ao senhor, foi homem bom que me ensinou muita coisa. A gente aprende muita coisa, mestre, mas só enxada é que dá feijão e farinha.
◦◦◦
Era dia de feira em São Miguel e pela estrada começava a passar gente para as vendagens. Passou o cego Torquato e parou na porta para pedir esmola. Gostava, sempre que o cego passava pela sua porta, de puxar conversa com ele.
O mestre José Amaro naquele dia queria falar. Nunca se vira na sua cara uma satisfação igual.
— Então, seu Torquato, como vai a vida?
— Que vida, mestre. Que vida pode ter um pobre cego! Ando por este mundo contando os dias. Se não fosse o amor de Deus e a caridade dos homens, já me tinha acabado, seu mestre.
— Qual, seu Torquato, o senhor ainda tem a sua família.
— Uma mãe entrevada, seu mestre, um irmão quase cego como eu...
— E o povo de Gurinhém, seu Torquato? Estão dizendo que a feira de lá está se acabando.
— É medo da tropa, seu mestre, é medo da tropa. O povo arrepunou com o tenente. É um dar sem conta. O homem é brabo mesmo. Acredite o senhor que até o padre Antônio já sofreu uma desfeita. O pobre do padre dá tudo aos necessitados. Foram dizer ao tenente que o padre andava com conversa com o homem. Ora, o padre Antônio não é criatura para esconder o que faz. Contou tudo. Estivera com o bando, conversara com o capitão, e foi por aí afora. O tenente deu o mal dentro e disse o diabo para o reverendo. E ouviu o diabo. O padre Antônio é manso assim, como se vê, mas na hora ninguém faz dele o que quer. Gritou para o tenente, o tenente gritou para ele. Eu só sei é que ele tomou o trem no Pilar, e foi à cidade. As folhas da Paraíba deram. Eu ouvi no Pilar um sujeito lendo uma crítica do jornal. O padre é duro. O tenente está fazendo o diabo. É por isto que o povo está correndo da feira. Surra de tropa não é brincadeira.
— Eu quero ver esta valentia é com o capitão. No Ingá foi aquilo que se viu.
— Eu não sei de nada não, seu mestre. Sou um pobre cego, vivo do coração dos outros. Uma coisa porém eu digo: este capitão nunca me fez mal. Uma vez eu vinha com o meu guia na estrada nova. Era na boca da noite. Voltava do Sapé e, quase chegando no Maraú, me senti cercado de gente. O meu guia me disse baixinho: “É cangaceiro, seu Torquato.” E era mesmo. Me deram dinheiro. Nunca tive tanto dinheiro na mão. O capitão Antônio Silvino me chamou de parte para saber o que se falava dele na feira do Sapé. Eu disse tudo. Falei de Cazuza Trombone que estava com muitas praças dentro de casa. E de Simplício Coelho que contava goga na loja, dizendo a Deus e ao mundo que na mesa dele cangaceiro não se sentava. Ah!, contei. Este Simplício Coelho uma vez eu estava sentado na calçada dele, tocando a minha viola, e mandou um caixeiro dizer para o pobre cego sair. Bicho malvado.
— Foi por isto que o capitão fez aquela desgraça na loja quando atacou o Sapé?
— Eu não sei por que foi. Agora, seu mestre, o senhor acha direito tratar um pobre cego como cachorro?
Apareceu a velha Sinhá com uma coité de farinha e o guia abriu o saco.
— Deus vos pague, Deus vos dê o santo reino da glória.
José Lins do Rego
sábado, maio 29
Zé
Faz vinte anos que morreu o meu melhor amigo, o Zé, e a sua ausência continua a doer-me, como me dói o telefone não tocar às dez da manhã todos os dias e eu já saber que era ele antes de pegar no aparelho, como me dói não almoçarmos nem jantarmos nunca, como me dói não poder abraçá-lo. Encontrámo-nos pela primeira vez no aeroporto, quando íamos ambos apanhar o avião para o Brasil e ele, que eu nunca tinha visto mas conhecia de fotografias ou da televisão, dessas coisas, conforme tinha lido os seus livros
(eu começava a publicar nessa época)
fiquei a vê-lo aproximar-se, surpreendido. A sua única frase foi
– Olha que eu gosto de ti
e a nossa amizade surgiu de imediato, instantânea e absoluta, lembrei-me do João a chegar
(ainda vivíamos no mesmo quarto, ainda nenhum de nós saíra de casa dos pais)
com os primeiros livros de contos do Zé, o Anjo Ancorado, acho que o Hóspede de Job também, me dizer
– Comprei isto
porque partilhávamos quase tudo e eu a olhar as páginas, eu a ler, eu a perguntar, todo trocista
– Um escritor chamado Pires?
que era uma palavra que costumávamos usar para outras situações, devolvi-lhe os livros, voltei a pegar neles dias depois, achei a linguagem diferente daquilo que costumava ler nessa época, que era também, quase sempre, o João que trazia, eu andava mais por autores estrangeiros, os portugueses que descobrimos na altura foram descobertas do meu irmão, Manuel da Fonseca
(recordo-me, por exemplo, da Seara de Vento com a reprodução de um quadro de Vespeiro na capa)
Urbano, Namora, Vergílio Ferreira, e depois o João lia e estudava e eu lia e escrevia. Cada um tinha a sua estante de um lado do quarto e não me recordo de alguma vez havermos discutido. Bom, li o tal José Cardoso Pires, pareceu-me um bocado obnóxio em relação aos outros, depois fui gostando mais, depois apareceu-me o milagre de Blondin a juntar-se ao milagre de Céline, depois comecei a ficar farto de escritores portugueses que só me contavam histórias de operários bons e patrões maus, depois percebi que o Zé era diferente disso, depois fui crescendo, depois os outros escritores portugueses vivos foram desaparecendo mas o Zé ficou, o Zé e a Agustina, depois aquilo que eu escrevia desatou a mudar, depois fui-me aproximando de uma voz interior que não sabia que tinha, tudo isto lento, penoso, ganho palmo a palmo entre angústias e dúvidas, depois a Memória de Elefante e depois, aí pela Explicação dos Pássaros, o Zé e eu conhecemo-nos no aeroporto, chegámos ao Brasil, viemos do Brasil e na vinda do Brasil éramos amigos íntimos, depois cresci o que me faltava e já tinha o único irmão que os meus pais não me deram. Nunca existiu entre nós uma sombra, quanto mais uma zanga, e nenhum da gente os dois era fácil. Tão diferentes em muita coisa havia uma sintonia absoluta e gostávamos das nossas dissonâncias, que nos uniam ainda mais. Ambos pouco tolerantes aceitávamos sem qualquer dificuldade o feitio complicado do outro. O Zé costuma dizer
– Posso ser amigo de um pintor, de um pedreiro, de um médico. Para ser amigo de um escritor tenho que admirá-lo.
E, apesar dos desacordos, por exemplo eu era do Benfica e ele era só do Néné, aceitávamos o outro e criámos uma relação indestrutível. Se um ganhava um prémio exultávamos ambos. Recordo-me, por exemplo, de ele começar um telefonema assim:
– Quero dar-te os parabéns porque ganhei um prémio.
Era o Pessoa, acho eu, e fiquei todo contente. Levei-o para a minha editora, proibia-lhe o vinho, ele ralhava-me quando não concordava, discutíamos aceitando-nos sem custo, eu admirava nele, para além do talento, claro, a coragem e a bondade, encorajavamo-nos nos momentos de desânimo, acreditávamos na capacidade um do outro, lembro-me de trabalharmos juntos o seu De Profundis, lembro-me das infinitas correções que ele sugeria para os meus livros, éramos de uma franqueza absoluta, se necessário às vezes brutal, a nossa amizade nunca sofreu um pingo. Depois o Zé adoeceu, depois o Zé morreu e eis-me, de repente, orfão do meu irmão de alma, mais velho vinte anos do que eu umas vezes e tão meu filho outras. O que a gente vibrava com os triunfos do amigo, o que a gente sofria com as dores! Quando o Zé morreu pessoas que eu não conhecia vinham dar-me os pêsames. E ficou dentro de mim um vazio que nunca cicatrizou. Já tinha tido um irmão, cinco irmãos mais novos, tu eras o meu irmão mais velho. Eras não: és. Tu serás para sempre o meu irmão mais velho. Meu Deus o que eu podia escrever acerca de ti. Mas o que eu gostava mesmo era voltar a encontrar-te. Consolo-me pensando que, mesmo sem nos vermos agora, continuamos juntos. Há com certeza um aeroporto por aí à espera de nos cruzarmos de novo.
(eu começava a publicar nessa época)
fiquei a vê-lo aproximar-se, surpreendido. A sua única frase foi
– Olha que eu gosto de ti
e a nossa amizade surgiu de imediato, instantânea e absoluta, lembrei-me do João a chegar
(ainda vivíamos no mesmo quarto, ainda nenhum de nós saíra de casa dos pais)
com os primeiros livros de contos do Zé, o Anjo Ancorado, acho que o Hóspede de Job também, me dizer
– Comprei isto
porque partilhávamos quase tudo e eu a olhar as páginas, eu a ler, eu a perguntar, todo trocista
– Um escritor chamado Pires?
que era uma palavra que costumávamos usar para outras situações, devolvi-lhe os livros, voltei a pegar neles dias depois, achei a linguagem diferente daquilo que costumava ler nessa época, que era também, quase sempre, o João que trazia, eu andava mais por autores estrangeiros, os portugueses que descobrimos na altura foram descobertas do meu irmão, Manuel da Fonseca
(recordo-me, por exemplo, da Seara de Vento com a reprodução de um quadro de Vespeiro na capa)
Urbano, Namora, Vergílio Ferreira, e depois o João lia e estudava e eu lia e escrevia. Cada um tinha a sua estante de um lado do quarto e não me recordo de alguma vez havermos discutido. Bom, li o tal José Cardoso Pires, pareceu-me um bocado obnóxio em relação aos outros, depois fui gostando mais, depois apareceu-me o milagre de Blondin a juntar-se ao milagre de Céline, depois comecei a ficar farto de escritores portugueses que só me contavam histórias de operários bons e patrões maus, depois percebi que o Zé era diferente disso, depois fui crescendo, depois os outros escritores portugueses vivos foram desaparecendo mas o Zé ficou, o Zé e a Agustina, depois aquilo que eu escrevia desatou a mudar, depois fui-me aproximando de uma voz interior que não sabia que tinha, tudo isto lento, penoso, ganho palmo a palmo entre angústias e dúvidas, depois a Memória de Elefante e depois, aí pela Explicação dos Pássaros, o Zé e eu conhecemo-nos no aeroporto, chegámos ao Brasil, viemos do Brasil e na vinda do Brasil éramos amigos íntimos, depois cresci o que me faltava e já tinha o único irmão que os meus pais não me deram. Nunca existiu entre nós uma sombra, quanto mais uma zanga, e nenhum da gente os dois era fácil. Tão diferentes em muita coisa havia uma sintonia absoluta e gostávamos das nossas dissonâncias, que nos uniam ainda mais. Ambos pouco tolerantes aceitávamos sem qualquer dificuldade o feitio complicado do outro. O Zé costuma dizer
– Posso ser amigo de um pintor, de um pedreiro, de um médico. Para ser amigo de um escritor tenho que admirá-lo.
E, apesar dos desacordos, por exemplo eu era do Benfica e ele era só do Néné, aceitávamos o outro e criámos uma relação indestrutível. Se um ganhava um prémio exultávamos ambos. Recordo-me, por exemplo, de ele começar um telefonema assim:
– Quero dar-te os parabéns porque ganhei um prémio.
Era o Pessoa, acho eu, e fiquei todo contente. Levei-o para a minha editora, proibia-lhe o vinho, ele ralhava-me quando não concordava, discutíamos aceitando-nos sem custo, eu admirava nele, para além do talento, claro, a coragem e a bondade, encorajavamo-nos nos momentos de desânimo, acreditávamos na capacidade um do outro, lembro-me de trabalharmos juntos o seu De Profundis, lembro-me das infinitas correções que ele sugeria para os meus livros, éramos de uma franqueza absoluta, se necessário às vezes brutal, a nossa amizade nunca sofreu um pingo. Depois o Zé adoeceu, depois o Zé morreu e eis-me, de repente, orfão do meu irmão de alma, mais velho vinte anos do que eu umas vezes e tão meu filho outras. O que a gente vibrava com os triunfos do amigo, o que a gente sofria com as dores! Quando o Zé morreu pessoas que eu não conhecia vinham dar-me os pêsames. E ficou dentro de mim um vazio que nunca cicatrizou. Já tinha tido um irmão, cinco irmãos mais novos, tu eras o meu irmão mais velho. Eras não: és. Tu serás para sempre o meu irmão mais velho. Meu Deus o que eu podia escrever acerca de ti. Mas o que eu gostava mesmo era voltar a encontrar-te. Consolo-me pensando que, mesmo sem nos vermos agora, continuamos juntos. Há com certeza um aeroporto por aí à espera de nos cruzarmos de novo.
Assim começa ...
Está bem, mãe. Vou fazer a sua vontade. Vou escrever a história do que aconteceu aqui desde a chegada de tio Baltazar. Sei que esse pedido insistente é um truque para me prender em casa, a senhora acha perigoso eu ficar andando por aí mesmo hoje, quando os fiscais já não fiscalizam com tanto rigor. Talvez
seja mesmo uma boa maneira de passar o tempo, já estou cansado de bater pernas pelos lugares de sempre e só ver essa tristeza de casas vazias, janelas e portas batendo ao vento, mato crescendo nos pátios antes tão bem tratados, lagartixas passeando atrevidas até em cima dos móveis, gambás fazendo ninho nos fogões apagados, se vingando do tempo em que corriam perigo até no fundo dos quintais.
Pensei que ia ser fácil escrever a nossa história, estando os acontecimentos ainda vivos na minha lembrança. Mas foi só eu me sentar aqui, pegar o lápis e o caderno, e ficar parado sem saber como começar. Mamãe diz que não vai ler os meus escritos porque não tem cabeça para leitura e também porque já sabe
tudo melhor do que eu. Está claro que é mais um truque para me deixar à vontade. Ela é esperta, pensa em tudo. Preciso ter muito cuidado para não deixar o caderno esquecido por aí, principalmente se eu resolver falar no meu procedimento em casa de tio Baltazar.
Será que eu estaria aqui escrevendo se tio Baltazar não tivesse vindo para cá com a ideia de fundar a Companhia? Não estou pensando que a culpa foi dele; a ideia era boa e entusiasmou todo mundo. Mas a história que vou contar começa mesmo é com a chegada de tio Baltazar. Quem podia imaginar naquele tempo de alegria e festa que um sonho tão bonito ia degenerar nessa calamitosa Companhia Melhoramentos de Taitara? Pobre tio Baltazar, como estaria sofrendo se ainda vivesse. Acho que foi pensando no sofrimento dele que mamãe não chorou muito quando finalmente recebemos a notícia.
seja mesmo uma boa maneira de passar o tempo, já estou cansado de bater pernas pelos lugares de sempre e só ver essa tristeza de casas vazias, janelas e portas batendo ao vento, mato crescendo nos pátios antes tão bem tratados, lagartixas passeando atrevidas até em cima dos móveis, gambás fazendo ninho nos fogões apagados, se vingando do tempo em que corriam perigo até no fundo dos quintais.
Pensei que ia ser fácil escrever a nossa história, estando os acontecimentos ainda vivos na minha lembrança. Mas foi só eu me sentar aqui, pegar o lápis e o caderno, e ficar parado sem saber como começar. Mamãe diz que não vai ler os meus escritos porque não tem cabeça para leitura e também porque já sabe
tudo melhor do que eu. Está claro que é mais um truque para me deixar à vontade. Ela é esperta, pensa em tudo. Preciso ter muito cuidado para não deixar o caderno esquecido por aí, principalmente se eu resolver falar no meu procedimento em casa de tio Baltazar.
Será que eu estaria aqui escrevendo se tio Baltazar não tivesse vindo para cá com a ideia de fundar a Companhia? Não estou pensando que a culpa foi dele; a ideia era boa e entusiasmou todo mundo. Mas a história que vou contar começa mesmo é com a chegada de tio Baltazar. Quem podia imaginar naquele tempo de alegria e festa que um sonho tão bonito ia degenerar nessa calamitosa Companhia Melhoramentos de Taitara? Pobre tio Baltazar, como estaria sofrendo se ainda vivesse. Acho que foi pensando no sofrimento dele que mamãe não chorou muito quando finalmente recebemos a notícia.
Eu tinha onze anos quando tio Baltazar chegou da primeira
vez. Estava casado de novo, mas veio sozinho e com fama de
muito rico. Relembrando aqueles tempos, meu pai me disse que
depois de alguns dias aqui tio Baltazar pensou em desistir da
Companhia e voltar. Agora eu pergunto de novo: se ele tivesse
voltado naquela ocasião, será que ainda estaria vivo? E se ele não
tivesse fundado a Companhia, será que teríamos passado por tudo o que passamos? Mas perguntar essas coisas agora é o mesmo
que dizer que se o bezerro da vizinha não tivesse morrido ainda
estaria vivo. Estou aqui para falar do que aconteceu, e não do
que deixou de acontecer.
Tio Baltazar. Um nome, a fama, muitas fotografias — assim
era que eu o conhecia. Parece que ele achava absolutamente
necessário a pessoa tirar retrato todo mês, ou toda semana. Frequentemente mamãe recebia uma fotografia dele tirada em estúdio de retratista ou ao ar livre por algum amigo.
Lembro-me especialmente de uma, tirada ao volante de um
lustroso carro esporte que os entendidos aqui diziam ser de fabricação italiana e muito caro: tio Baltazar aparecia com o braço
esquerdo descansando na porta do carro, o cabelo repartido no
meio, camisa de gola aberta dobrada sobre o paletó xadrez igual
aos que os artistas de cinema estavam usando, piteira com cigarro
na boca, sorriso de rico no rosto simpático. Essa fotografia, com
dedicatória para mamãe, fez o maior sucesso entre nossos amigos, além de vê-la muitos queriam mostrar a outros. Entre zelosa
e vaidosa, mamãe emprestava; mas se a pessoa demorava a devolver, eu recebia a missão de ir buscá-la, um documento daquela
importância não podia passar muito tempo em mãos profanas.
Se estou aqui para contar a verdade não posso esconder o
meu desapontamento quando vi tio Baltazar descendo do carro
em nossa porta. No primeiro momento pensei que fosse outra
pessoa, um amigo ou empregado. O cabelo era bem mais ralo e
não estava mais repartido ao meio, acho que porque essa moda
já tinha passado. E o rosto não era tão moço como o das fotografias. Mas o que me decepcionou mesmo, até me assustou, foi a
falta de um braço. Onde estava o braço esquerdo que descansava
na porta do carro na fotografia famosa? Vendo-o sair do carro
ajudado pelo chofer, a manga vazia do paletó metida no bolso, a
bela imagem de um tio campeão em muitos esportes virou fumaça ali mesmo. Eu já tinha visto pessoas sem perna, sem braço,
sem mão, até um homem sem nariz eu vi de joelhos ao meu lado na igreja na Semana Santa: mas não eram meus tios. Fiquei
tão decepcionado que fui me esconder no porão e nem apareci
para o jantar. É difícil entender, mas pensando no meu procedimento naquele dia parece que eu acusava tio Baltazar de ter
cortado o braço só para me humilhar diante de meus amigos.
sexta-feira, maio 28
Escrito no Holocausto, romance esquecido vira best-seller na Europa
Der Reisende ("O viajante", em tradução livre), um romance de 1938 escrito por Ulrich Alexander Boschwitz, conta a história do empresário Otto Silbermann, que foge de Berlim logo após a Noite dos Cristais, evento de perseguição aos judeus que marcou o início do Holocausto.
Muitos de seus amigos judeus haviam sido levados pelos nazistas. E Silbermann decidiu pegar uma série de trens através da Alemanha, na tentativa, sem sucesso, de deixar o país.
O autor do romance, cujo pai era judeu e a mãe protestante, na verdade fugiu da Alemanha nazista em 1935. Foi primeiro para a Suécia, depois para a Noruega e, em seguida, para a Inglaterra. Isso foi logo após a promulgação das leis antissemitas e racistas de Nurembergue, em 15 de setembro de 1935. O pai de Boschwitz havia morrido durante a Primeira Guerra Mundial, e sua irmã, emigrado para os territórios palestinos em 1933.
Boschwitz escreveu o romance no exílio. Publicado pela primeira vez no Reino Unido em 1939 sob o título The Man Who Took Trains (O homem que pegava trens), o livro não teve muito impacto na época e saiu de circulação. Ulrich Boschwitz morreu em 1942, aos 27 anos, quando o navio em que viajava foi torpedeado por um submarino alemão no Atlântico Norte.
Mas quando a primeira edição em língua alemã saiu, em 2018, foi aclamada como uma descoberta literária.
Com base no manuscrito original em alemão e nas próprias notas do autor, uma nova tradução foi publicada em inglês e em cerca de 20 idiomas (uma versão em português ainda não está disponível).
The Pessenger (O passageiro), como foi titulado em inglês, está na lista de mais vendidos do jornal Sunday Times do Reino Unido.
O editor alemão Peter Graf tem contribuído para este ressurgimento literário. Nos últimos anos, ele especializou-se em desenvolver novas edições de livros esquecidos ou negligenciados em seu tempo.
Uma das publicações mais destacadas é Blutsbrüder (irmãos de sangue, em tradução livre), de Ernst Haffner. O romance, publicado pela primeira vez em 1932, mostra um grupo de jovens sem-teto, durante a República de Weimar, que vivem de roubos, tráfico de mercadorias roubadas e prostituição em Berlim.
A notável reportagem social contemporânea foi republicada em 2013, e é graças a esse livro que O viajante também obteve nova vida.
Após a publicação de Irmãos de sangue em hebraico, Reuella Sachaf, sobrinha de Boschwitz que vive em Israel, leu uma entrevista com Graf em um jornal e entrou em contato com ele. Ela contou sobre o romance de seu tio e o manuscrito, que foi mantido no Arquivo do Exílio Alemão da Biblioteca Nacional em Frankfurt.
Graf diz ter passado dois dias lendo o livro na própria biblioteca e que rapidamente soube que o romance tinha grande potencial.
Com sua agência (Walde + Graf), ele projeta livros para clientes. Ele também é editor de romances como O viajante, publicado em cooperação com outras editoras, e é diretor administrativo de uma pequena editora berlinense, "Das kulturelle Gedächtnis”, especializada em redescobrir obras de diferentes épocas.
Além de Berliner Briefe (cartas de Berlim), de Susanne Kerckhoff, de 1948, seu catálogo também inclui obras de Dante e Voltaire. Sua seleção anual de publicações é restrita a oito livros. Um trabalho de nicho, admite Graf - sua seleção curatorial foi premiada na Alemanha em 2020.
Graf rapidamente percebeu que O viajante seria grande demais para sua própria editora, razão pela qual a publicação foi administrada pela editora Stuttgart Klett-Cotta, que também publicou o romance de estreia de Boschwitz, Menschen neben dem Leben (pessoas em paralelo à vida, em tradução livre), um ano mais tarde.
Junto com sua linguagem poderosa, diz Graf, O viajante é "o mais antigo confronto literário com os pogroms de novembro".
Além de ampliar o conhecimento histórico sobre o que aconteceu na era nazista, o romance oferece uma descrição concreta que ajuda os leitores a visualizar o passado. Atrocidades envolvendo vários milhões de vítimas são frequentemente abstratas demais, diz Graf, mas "a história de Boschwitz, embora fictícia, permite ao leitor desenvolver um sentimento mais forte de empatia" com as vítimas do nazismo.
Carlos Ruiz Zafón criou um monumento para livros esquecidos ou negligenciados com seu sucesso mundial, A sombra do vento, e o cemitério de livros esquecidos descrito nele. Mas por que os livros são esquecidos?
O mercado já estava inundado de novas publicações no final do século 19 e durante a República de Weimar, o que tornava impossível o sucesso de todos os títulos, explica Graf.
O homem que pegava trens, por exemplo, não surgiu como um livro de interesse quando foi publicado pela primeira vez no Reino Unido no final dos anos 30; o valor documental do romance se desenvolveu ao longo do tempo.
É crucial publicar o "livro certo no momento certo", diz Peter Graf, que descobriu que Heinrich Böll já havia tentado publicar o romance de Boschwitz nos anos 60. "Talvez este confronto com o Holocausto tenha chegado muito cedo na jovem República Federal da Alemanha", comenta.
A história por trás da redescoberta de O viajante, com a sobrinha do autor contatando ativamente a editora, foi um golpe de sorte para Graf - mas também um caso excepcional.
Para encontrar livros esquecidos que merecem ser reeditados, Graf pesquisa arquivos literários, às vezes encontrando referências em bibliografias, e lê resenhas dos anos 20.
Para contribuir para sua relevância, novas edições precisam de links com o presente, diz Peter Graf. O viajante, por exemplo, apresenta paralelos com o atual problema de migração do mundo. A pandemia, por sua vez, leva a questões existenciais. "Vivemos em tempos difíceis e temos que deixar nossa zona de conforto", aponta o editor.
Em períodos de incerteza, muitos leitores recorrem a material histórico, talvez na tentativa de melhor compreender as dificuldades da experiência humana.
"Não creio que a literatura mude o mundo", diz Graf, "mas ela pode sensibilizar os leitores por um momento".
Muitos de seus amigos judeus haviam sido levados pelos nazistas. E Silbermann decidiu pegar uma série de trens através da Alemanha, na tentativa, sem sucesso, de deixar o país.
O autor do romance, cujo pai era judeu e a mãe protestante, na verdade fugiu da Alemanha nazista em 1935. Foi primeiro para a Suécia, depois para a Noruega e, em seguida, para a Inglaterra. Isso foi logo após a promulgação das leis antissemitas e racistas de Nurembergue, em 15 de setembro de 1935. O pai de Boschwitz havia morrido durante a Primeira Guerra Mundial, e sua irmã, emigrado para os territórios palestinos em 1933.
Boschwitz escreveu o romance no exílio. Publicado pela primeira vez no Reino Unido em 1939 sob o título The Man Who Took Trains (O homem que pegava trens), o livro não teve muito impacto na época e saiu de circulação. Ulrich Boschwitz morreu em 1942, aos 27 anos, quando o navio em que viajava foi torpedeado por um submarino alemão no Atlântico Norte.
Mas quando a primeira edição em língua alemã saiu, em 2018, foi aclamada como uma descoberta literária.
Com base no manuscrito original em alemão e nas próprias notas do autor, uma nova tradução foi publicada em inglês e em cerca de 20 idiomas (uma versão em português ainda não está disponível).
The Pessenger (O passageiro), como foi titulado em inglês, está na lista de mais vendidos do jornal Sunday Times do Reino Unido.
O editor alemão Peter Graf tem contribuído para este ressurgimento literário. Nos últimos anos, ele especializou-se em desenvolver novas edições de livros esquecidos ou negligenciados em seu tempo.
Uma das publicações mais destacadas é Blutsbrüder (irmãos de sangue, em tradução livre), de Ernst Haffner. O romance, publicado pela primeira vez em 1932, mostra um grupo de jovens sem-teto, durante a República de Weimar, que vivem de roubos, tráfico de mercadorias roubadas e prostituição em Berlim.
A notável reportagem social contemporânea foi republicada em 2013, e é graças a esse livro que O viajante também obteve nova vida.
Após a publicação de Irmãos de sangue em hebraico, Reuella Sachaf, sobrinha de Boschwitz que vive em Israel, leu uma entrevista com Graf em um jornal e entrou em contato com ele. Ela contou sobre o romance de seu tio e o manuscrito, que foi mantido no Arquivo do Exílio Alemão da Biblioteca Nacional em Frankfurt.
Graf diz ter passado dois dias lendo o livro na própria biblioteca e que rapidamente soube que o romance tinha grande potencial.
Com sua agência (Walde + Graf), ele projeta livros para clientes. Ele também é editor de romances como O viajante, publicado em cooperação com outras editoras, e é diretor administrativo de uma pequena editora berlinense, "Das kulturelle Gedächtnis”, especializada em redescobrir obras de diferentes épocas.
Além de Berliner Briefe (cartas de Berlim), de Susanne Kerckhoff, de 1948, seu catálogo também inclui obras de Dante e Voltaire. Sua seleção anual de publicações é restrita a oito livros. Um trabalho de nicho, admite Graf - sua seleção curatorial foi premiada na Alemanha em 2020.
Graf rapidamente percebeu que O viajante seria grande demais para sua própria editora, razão pela qual a publicação foi administrada pela editora Stuttgart Klett-Cotta, que também publicou o romance de estreia de Boschwitz, Menschen neben dem Leben (pessoas em paralelo à vida, em tradução livre), um ano mais tarde.
Junto com sua linguagem poderosa, diz Graf, O viajante é "o mais antigo confronto literário com os pogroms de novembro".
Além de ampliar o conhecimento histórico sobre o que aconteceu na era nazista, o romance oferece uma descrição concreta que ajuda os leitores a visualizar o passado. Atrocidades envolvendo vários milhões de vítimas são frequentemente abstratas demais, diz Graf, mas "a história de Boschwitz, embora fictícia, permite ao leitor desenvolver um sentimento mais forte de empatia" com as vítimas do nazismo.
Carlos Ruiz Zafón criou um monumento para livros esquecidos ou negligenciados com seu sucesso mundial, A sombra do vento, e o cemitério de livros esquecidos descrito nele. Mas por que os livros são esquecidos?
O mercado já estava inundado de novas publicações no final do século 19 e durante a República de Weimar, o que tornava impossível o sucesso de todos os títulos, explica Graf.
O homem que pegava trens, por exemplo, não surgiu como um livro de interesse quando foi publicado pela primeira vez no Reino Unido no final dos anos 30; o valor documental do romance se desenvolveu ao longo do tempo.
É crucial publicar o "livro certo no momento certo", diz Peter Graf, que descobriu que Heinrich Böll já havia tentado publicar o romance de Boschwitz nos anos 60. "Talvez este confronto com o Holocausto tenha chegado muito cedo na jovem República Federal da Alemanha", comenta.
A história por trás da redescoberta de O viajante, com a sobrinha do autor contatando ativamente a editora, foi um golpe de sorte para Graf - mas também um caso excepcional.
Para encontrar livros esquecidos que merecem ser reeditados, Graf pesquisa arquivos literários, às vezes encontrando referências em bibliografias, e lê resenhas dos anos 20.
Para contribuir para sua relevância, novas edições precisam de links com o presente, diz Peter Graf. O viajante, por exemplo, apresenta paralelos com o atual problema de migração do mundo. A pandemia, por sua vez, leva a questões existenciais. "Vivemos em tempos difíceis e temos que deixar nossa zona de conforto", aponta o editor.
Em períodos de incerteza, muitos leitores recorrem a material histórico, talvez na tentativa de melhor compreender as dificuldades da experiência humana.
"Não creio que a literatura mude o mundo", diz Graf, "mas ela pode sensibilizar os leitores por um momento".
O sonho de viver dentro de uma crônica de Rubem Braga
Estava voltando com meus filhos de uma caminhada quando nos deparamos com um beija-flor na calçada. Marrom, do tamanho de uma sujeirinha, coisinha de nada que a gente quase não vê e passa por cima. Avançamos um passo, e ele não se mexeu. Tinha a asa machucada, e era muito manso ou muito corajoso. Agachei-me junto ao bichinho.
Mas que cena tão condizente com uma crônica do Rubem Braga, pensei. Um entardecer, duas crianças, uma mulher com o joelho tocando o chão, as mãos em concha guardando um beija-flor.
Na crônica do Rubem poderia aparecer uma senhora com embrulho e bolsa, que gritaria Beija-Flor!, como se fosse um meteorito. E os passantes, cientes da irrelevância de seus destinos, descobririam a vocação para multidão, ao se aglomerar em torno do passarinho. Isso despertaria a atenção da polícia, que chegaria para também averiguar os boatos de um comunista cuspidor da bandeira nacional no cerne do povaréu.
Nesta crônica a rua permanece vazia e faz um frio de torturar carioca (dezesseis graus). Passarinho protegido pelas minhas mãos, caminhamos os três em silêncio para a casa, cientes de um prazer aconchegante, a ilusão de salvar o mundo através do resgate de um beija-flor.
Na crônica do Rubem poderia aparecer uma senhora com embrulho e bolsa, que gritaria Beija-Flor!, como se fosse um meteorito. E os passantes, cientes da irrelevância de seus destinos, descobririam a vocação para multidão, ao se aglomerar em torno do passarinho. Isso despertaria a atenção da polícia, que chegaria para também averiguar os boatos de um comunista cuspidor da bandeira nacional no cerne do povaréu.
Nesta crônica a rua permanece vazia e faz um frio de torturar carioca (dezesseis graus). Passarinho protegido pelas minhas mãos, caminhamos os três em silêncio para a casa, cientes de um prazer aconchegante, a ilusão de salvar o mundo através do resgate de um beija-flor.
Numa crônica do Rubem, as duas crianças colariam as cabeças em cima do bichinho, disputando o controle do conta-gotas com água e açúcar. A disputa ficaria guardada por anos, para retornar como consolo doído, pedaço de infância que se manifesta porque há contraste, na vida sem a graça certa dos adultos.
Nesta crônica a menina enjoa do beija-flor e se tranca no quarto, onde liga o iPad e procede com a formação em música ruim americana. O menino perambula pela sala, pensando no que mais pode bagunçar.
Nesta crônica a menina enjoa do beija-flor e se tranca no quarto, onde liga o iPad e procede com a formação em música ruim americana. O menino perambula pela sala, pensando no que mais pode bagunçar.
“Gabriel, se você não subir para tomar um banho eu vou dar um grito” grita a mulher com a mão na cintura, a essa altura já sem combinar com uma crônica do Rubem, e junto à panela suja, pia cheia, pacote de biscoito aberto, quinze copos de água na sala e um rastro de meias e sapatos como um tapete conceitual.
Se reencarnação existir, se eu puder escolher qualquer coisa para voltar, eu gostaria de ser mulher ou criança numa crônica do Rubem Braga. Uma vida breve – uma dúzia de parágrafos – mas envolta em lirismo, e sem conter sequer uma faca suja de manteiga. Na vida seguinte eu pegaria pesado, voltaria, sei lá, presidente do Brasil ou delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher.
Numa crônica, as duas crianças colariam as cabeças em cima do bichinho, disputando o controle do conta-gotas com água e açúcar.
Não se fazem mais lirismos como antigamente, mas eu aceito de bom grado esse que me tocou, o de um beija-flor machucado se recuperando numa caixa de sapatos da Vans, junto à louça acumulada e de um telefone pessimista, que só me informa do pior. Banho tomado, as crianças colaram as cabeças sobre a caixa de sapatos e fizeram cafuné no beija-flor. E eu pensei, olha ali de novo, uma cena de uma crônica do Rubem, alegrando o meu fim de dia.
Numa crônica, as duas crianças colariam as cabeças em cima do bichinho, disputando o controle do conta-gotas com água e açúcar.
Não se fazem mais lirismos como antigamente, mas eu aceito de bom grado esse que me tocou, o de um beija-flor machucado se recuperando numa caixa de sapatos da Vans, junto à louça acumulada e de um telefone pessimista, que só me informa do pior. Banho tomado, as crianças colaram as cabeças sobre a caixa de sapatos e fizeram cafuné no beija-flor. E eu pensei, olha ali de novo, uma cena de uma crônica do Rubem, alegrando o meu fim de dia.
quinta-feira, maio 27
Sonho
Você corria por dentro, eu corria por fora; você em pista de grama, eu em pista de areia. Você era uma égua de raça, meu amor, e se chamava Helena de Troia, eu era um cavalo de criação nacional e meu nome era Black & White. Você era do vermelho-castanho daquela rosa de veludo chamada príncipe-negro; eu era todo preto, manchado de branco no pescoço. Éramos dois belos animais, e estávamos emparelhados na frente, numa atropelada cheia de ritmo, muito longe dos outros que nos perseguiam inutilmente, num corpo a corpo incomparável.
Não, ninguém nos montava: corríamos libertos por uma campina, desaparecemos debaixo das árvores de um bosque, chegamos a uma planície onde existia apenas um anúncio de gasolina americana. E além desse descampado, sentimos, sem dizer nada, com os nossos olhos ternos e grossos de cavalo, que o mar ao longe estava batendo e tremia, as ondas se empinavam em desafio, crinas de espuma eriçadas, relinchando no vento. Era um mar mais estranho que o mar, cavalos de água se erguiam e desmanchavam, nós corríamos de encontro a ele em um galope igual.
Ah, o mar não deteve a nossa corrida, mas avançamos sobre as ondas, as nossas patas mal tocando a água verde, livres sobre o mar livre, focinho com focinho, ilharga contra ilharga, passamos debaixo do arco-íris e decolamos. Voávamos perto das vagas que molhavam as nossas bocas com suas gotas salgadas quando de repente anoiteceu sem qualquer solidão. Apenas o teu olhar manso e rutilante de animal na escuridão. Sentia o calor de teu grande corpo e meu coração me feria como se um punho fechado batesse com força em meu peito.
Sim, sei perfeitamente, qualquer Freud de porta de venda pode explicar o meu sonho; mas nunca poderá roubá-lo.
Houve um momento em que nos envolvemos num turbilhão de estrelas pequeninas. E nada mais.
Não, ninguém nos montava: corríamos libertos por uma campina, desaparecemos debaixo das árvores de um bosque, chegamos a uma planície onde existia apenas um anúncio de gasolina americana. E além desse descampado, sentimos, sem dizer nada, com os nossos olhos ternos e grossos de cavalo, que o mar ao longe estava batendo e tremia, as ondas se empinavam em desafio, crinas de espuma eriçadas, relinchando no vento. Era um mar mais estranho que o mar, cavalos de água se erguiam e desmanchavam, nós corríamos de encontro a ele em um galope igual.
Ah, o mar não deteve a nossa corrida, mas avançamos sobre as ondas, as nossas patas mal tocando a água verde, livres sobre o mar livre, focinho com focinho, ilharga contra ilharga, passamos debaixo do arco-íris e decolamos. Voávamos perto das vagas que molhavam as nossas bocas com suas gotas salgadas quando de repente anoiteceu sem qualquer solidão. Apenas o teu olhar manso e rutilante de animal na escuridão. Sentia o calor de teu grande corpo e meu coração me feria como se um punho fechado batesse com força em meu peito.
Sim, sei perfeitamente, qualquer Freud de porta de venda pode explicar o meu sonho; mas nunca poderá roubá-lo.
Houve um momento em que nos envolvemos num turbilhão de estrelas pequeninas. E nada mais.
quarta-feira, maio 26
E tinha a cabeça cheia deles
 |
| Robert Duncan |
Os dedos ágeis conheciam sua tarefa. Como se vissem, patrulhavam a cabeleira separando mechas, esquadrinhando entre os fios, expondo o claro azulado do couro. E na alternância ritmada de suas pontas macias, procuravam os minúsculos inimigos, levemente arranhando com as unhas, em carícia de cafuné.
Com o rosto metido no escuro pano da saia da mãe, vertidos os cabelos sobre a testa, a filha deixava-se ficar enlanguescida, enquanto a massagem tamborilada daqueles dedos parecia penetrar-lhe a cabeça, e o calor crescente da manhã lhe entrefechava os olhos.
Foi talvez devido à modorra que a invadia, entrega prazerosa de quem se submete a outros dedos, que nada percebeu naquela manhã – a não ser, talvez, uma leve pontada – quando a mãe, devassando gulosa o secreto reduto da nuca, segurou seu achado entre polegar e indicador e, puxando-o ao longo do fio negro e lustroso em gesto de vitória, extraiu-lhe o primeiro pensamento.
Marina Colasanti
Escrever
Aos cinco anos a minha mãe ensinou-me a ler e passadas semanas comecei a ensinar-me a escrever, trabalho que continua porque, às vezes, sou um aluno difícil de mim mesmo e tenho que estar constantemente a meter-me na ordem. Apresento-me as páginas, respondo
– Ainda não é isso
e começo de novo até me ordenar
– Volta a fazer
de modo que torno à mesma frase, danado comigo, furioso que ser espontâneo dê tanto trabalho como dizia o Manel da Fonseca. Não trabalho na quinta ou na décima versão, trabalho para conseguir a primeira, a única que interessa e que, às vezes, surge depois da oitava, outras no meio da décima sétima, outras ainda, mais frequentes, não surge nunca. Um livro é um milagre estranho, com regras por vezes aparentemente contraditórias, ou absurdas, ou as duas coisas juntas, o sucesso e o fracasso sempre indistintos, a solução questionável, o resultado aleatório e a qualidade duvidosa. Se calhar o máximo que é possível não passa de uma satisfação transitória: portanto relê, relê, relê, volta ao início, principia de novo: trabalhas no escuro, à espera de uma pequena luz que tarda em chegar. Como Hipócrates dizia acerca do trabalho do médico, a Arte é longa, a Vida breve, a experiência enganadora, o juízo difícil e a oportunidade fugidia. Mas, se não fosse assim, que interesse tinha? Nada é vulgar, tudo é excepcional. Escreve outra vez. Tenta de novo. Como dizia o meu amigo Eugénio isto é um ofício de paciência e o escritor não passa de um relojoeiro das emoções, digo eu, a tentar fazer coincidir os ponteiros da alma com os do tempo. E o livro uma natureza-morta de emoções. Sopra-lhe vida, tu. Sopra-lhe tudo o que és, segundo a técnica de Deus com o barro inicial. Faz as personagens de uma costela tua, dá-lhes o teu tamanho e a tua esperança. E tenta transformar a vitória numa gloriosa derrota. Até agora, no trabalho em que estou, suado e aflito, consegui dois capítulos. Talvez o primeiro me sirva de apoio, talvez tenha começado a voar no segundo. Como voar agora? Como dar a isto a dimensão de um homem? Gloriosas derrotas? Goethe sustentava que não alcançar era a nossa única grandeza. De modo que a vitória possível é uma resplandecente humilhação. Com isto bem presente talvez possas continuar. Talvez o dedo da tua mãe te auxilie, apontando um espaço branco no livro de leitura:
– Diz-me esta frase aqui
de modo que repete em voz alta para ela as palavras que começam a lá estar, e surgindo devagarinho, uma após outra, da brancura do papel. Continua a avançar tacteando, continua a avançar. Espera por ti na esquina de uma página, tropeça, levanta-te, não pares. Já tens o título do livro, as cores dele, uma espécie de clima que começa a ser-te familiar: é o teu rosto de homem nu e desfigurado, o melhor que podes conseguir é o teu rosto vivo e, nele, todos os rostos da tua vida, até ao último, que só terás quando não puderes ganhá-lo porque já não és e, ao não seres, continuas. Goethe ainda: é o não chegares que faz a tua verdadeira grandeza. E então pede
– Mais luz
como ele fez ao morrer. Pede
– Mais luz
enquanto te transformas em trevas que têm a forma do teu corpo. Depois levanta-te e continua sozinho dado que ninguém te ajuda. Estás de facto sozinho. Os ruídos da casa desapareceram. A presença dos outros desapareceu. O tempo é apenas um ponteiro que não aponta nada ou aponta mil caminhos, o que é a mesma coisa. E o caminho não passa de um vazio cheio de sons que se torna necessário encontrar o único som autêntico, o som inicial, a tua voz oculta por mil ecos aliás indecifráveis ou aparentemente sem nexo. Tudo é irreal, tudo é misterioso e é necessário transformar esse tudo num fiozinho, quase invisível, de água pura. Um livro não é o que está escrito nele, é o que está escrito em ti, um livro é o teu sangue ao longo das páginas. O teu sangue, o teu olhar e o teu gesto, como queria Rilke, tornares-te um pássaro quase mortal de alma, o título que pretendes dar ao que agora escreves e encontraste numa elegia do Duíno, como um grito do Poeta enterrado na água. Não como: o grito
(sem como)
do Poeta enterrado na água e, com esse grito usado como bengala na mão, caminha ao teu próprio encontro, que é tudo aquilo que poderás achar, ou seja um infinito nada com vozes. Escuta-te. Tropeça na tua sombra e escuta-te porque tens que deixar de escutar-te para poderes ouvir. E então as palavras principiam, uma a uma, a chegar. Ninguém desce vivo de uma cruz, a não ser que já haja nascido. Ainda estás, ainda és. A tua mãe chama-te com um livro aberto nos joelhos, ela que explicava tão bem a forma como ensinara os filhos a lerem. A gente ia e vinha e ela continuava à espera, ela, uma rapariga de vinte e tal anos com todas as palavras deste mundo no colo, quietas, prontas a correrem para ti ao aprenderes-lhes os nomes. Escrever é nomear apenas, uma tentativa de ordenação do confuso vazio interior, és tu a aproximares-te de ti mesmo. Digo isto e ilumino-me dos olhos verdes dela, à minha procura entre o seu sorriso e o mundo. Ocupava tão pouco espaço e no entanto a vida inteira cabia-lhe lá dentro. Vieste dali e é a esse ali que tens de voltar. Diz
– Mãe
porque aliás nunca te foste embora. Pois não?
– Ainda não é isso
e começo de novo até me ordenar
– Volta a fazer
de modo que torno à mesma frase, danado comigo, furioso que ser espontâneo dê tanto trabalho como dizia o Manel da Fonseca. Não trabalho na quinta ou na décima versão, trabalho para conseguir a primeira, a única que interessa e que, às vezes, surge depois da oitava, outras no meio da décima sétima, outras ainda, mais frequentes, não surge nunca. Um livro é um milagre estranho, com regras por vezes aparentemente contraditórias, ou absurdas, ou as duas coisas juntas, o sucesso e o fracasso sempre indistintos, a solução questionável, o resultado aleatório e a qualidade duvidosa. Se calhar o máximo que é possível não passa de uma satisfação transitória: portanto relê, relê, relê, volta ao início, principia de novo: trabalhas no escuro, à espera de uma pequena luz que tarda em chegar. Como Hipócrates dizia acerca do trabalho do médico, a Arte é longa, a Vida breve, a experiência enganadora, o juízo difícil e a oportunidade fugidia. Mas, se não fosse assim, que interesse tinha? Nada é vulgar, tudo é excepcional. Escreve outra vez. Tenta de novo. Como dizia o meu amigo Eugénio isto é um ofício de paciência e o escritor não passa de um relojoeiro das emoções, digo eu, a tentar fazer coincidir os ponteiros da alma com os do tempo. E o livro uma natureza-morta de emoções. Sopra-lhe vida, tu. Sopra-lhe tudo o que és, segundo a técnica de Deus com o barro inicial. Faz as personagens de uma costela tua, dá-lhes o teu tamanho e a tua esperança. E tenta transformar a vitória numa gloriosa derrota. Até agora, no trabalho em que estou, suado e aflito, consegui dois capítulos. Talvez o primeiro me sirva de apoio, talvez tenha começado a voar no segundo. Como voar agora? Como dar a isto a dimensão de um homem? Gloriosas derrotas? Goethe sustentava que não alcançar era a nossa única grandeza. De modo que a vitória possível é uma resplandecente humilhação. Com isto bem presente talvez possas continuar. Talvez o dedo da tua mãe te auxilie, apontando um espaço branco no livro de leitura:
– Diz-me esta frase aqui
de modo que repete em voz alta para ela as palavras que começam a lá estar, e surgindo devagarinho, uma após outra, da brancura do papel. Continua a avançar tacteando, continua a avançar. Espera por ti na esquina de uma página, tropeça, levanta-te, não pares. Já tens o título do livro, as cores dele, uma espécie de clima que começa a ser-te familiar: é o teu rosto de homem nu e desfigurado, o melhor que podes conseguir é o teu rosto vivo e, nele, todos os rostos da tua vida, até ao último, que só terás quando não puderes ganhá-lo porque já não és e, ao não seres, continuas. Goethe ainda: é o não chegares que faz a tua verdadeira grandeza. E então pede
– Mais luz
como ele fez ao morrer. Pede
– Mais luz
enquanto te transformas em trevas que têm a forma do teu corpo. Depois levanta-te e continua sozinho dado que ninguém te ajuda. Estás de facto sozinho. Os ruídos da casa desapareceram. A presença dos outros desapareceu. O tempo é apenas um ponteiro que não aponta nada ou aponta mil caminhos, o que é a mesma coisa. E o caminho não passa de um vazio cheio de sons que se torna necessário encontrar o único som autêntico, o som inicial, a tua voz oculta por mil ecos aliás indecifráveis ou aparentemente sem nexo. Tudo é irreal, tudo é misterioso e é necessário transformar esse tudo num fiozinho, quase invisível, de água pura. Um livro não é o que está escrito nele, é o que está escrito em ti, um livro é o teu sangue ao longo das páginas. O teu sangue, o teu olhar e o teu gesto, como queria Rilke, tornares-te um pássaro quase mortal de alma, o título que pretendes dar ao que agora escreves e encontraste numa elegia do Duíno, como um grito do Poeta enterrado na água. Não como: o grito
(sem como)
do Poeta enterrado na água e, com esse grito usado como bengala na mão, caminha ao teu próprio encontro, que é tudo aquilo que poderás achar, ou seja um infinito nada com vozes. Escuta-te. Tropeça na tua sombra e escuta-te porque tens que deixar de escutar-te para poderes ouvir. E então as palavras principiam, uma a uma, a chegar. Ninguém desce vivo de uma cruz, a não ser que já haja nascido. Ainda estás, ainda és. A tua mãe chama-te com um livro aberto nos joelhos, ela que explicava tão bem a forma como ensinara os filhos a lerem. A gente ia e vinha e ela continuava à espera, ela, uma rapariga de vinte e tal anos com todas as palavras deste mundo no colo, quietas, prontas a correrem para ti ao aprenderes-lhes os nomes. Escrever é nomear apenas, uma tentativa de ordenação do confuso vazio interior, és tu a aproximares-te de ti mesmo. Digo isto e ilumino-me dos olhos verdes dela, à minha procura entre o seu sorriso e o mundo. Ocupava tão pouco espaço e no entanto a vida inteira cabia-lhe lá dentro. Vieste dali e é a esse ali que tens de voltar. Diz
– Mãe
porque aliás nunca te foste embora. Pois não?
terça-feira, maio 25
Pedaço de pau
Domingo, manhã de sol, na beira do Sena. Faço um passeio vagabundo e olho com preguiça as gravuras de um bouquiniste. Há um homem pescando, um casal a remar em uma canoa, o menino sentado no do barco. Há muita luz no céu, nas grandes árvores de pequenas folhas trêmulas, na água do rio. Junto de mim passa um casal de mãos dadas. O rapaz e a moça se parecem, ambos têm os olhos claros, o jeito simples a cara mansa. Vão calados, distraídos, devem ter vindo de alguma província; dão uma ideia de sossego e felicidade tão grande. Parece que a vida será sempre essa manhã de domingo; eles terão sempre essas roupas humildes e limpas, essas mãos dadas sem desejo nem fastio, doçura vaga. Ficarão sempre assim, tranquilos e sem história, bem-comportados; a calçada em que andam parece estimá-los e eles estimam as árvores, a ponte, a água. São tão singelos como dizer 'bon jour'.
À sombra de uma árvore, junto ao Pont Royal, vejo um velho gordo, em mangas de camisa; pôs uma cadeira na calçada e olha o rio, o palácio do outro lado, a mancha branca do Sacré-Coeur lá no fundo. Deve ser um burguês, um comerciante, que se dispõe a gozar da maneira simples o seu domingo. Passo perto dele e tenho uma surpresa: sob os cabelos despenteados a cara gorda é revolta e amarga, como a de um general mexicano que perdeu a revolução e o cavalo, ficou a pé e desacreditado. Reparo melhor: ele é cego. Está com uma camisa limpa, goza o vento leve na sombra e não vê nada dessa festa de luz que vibra em tudo. Imagino que essa luz é tanta que ele deve sentir sua vibração de algum modo, e não apenas pelo calor, alguma vaga sensação na pele, na ouvidos, nas mãos. Talvez seja isso que ele exprima, mexendo vagamente os lábios.
Como tive vontade de dizer 'bon jour' ao casal, tenho vontade de me sentar ao lado do cego, fazer com ele uma longa conversa preguiçosa. Falar de quê? Talvez de cavalos; cavalos de general, cavalos de carroça, cavalos de meu tio; casos simples de cavalos.
Ou quem sabe ele prefira conversar sobre frutas; provavelmente diria como eram grandes os morangos antigamente, numa chácara da infância. Também sei algumas histórias de baleias; mesmo já vi uma baleia. Todo mundo gosta de conversar sobre baleias. Hesito um segundo, e subitamente penso que se parar ou diminuir o passo, agora que estou a um metro de distância, ele voltará para mim os olhos cegos e inquietos.
— Um cego tem bem direito ao seu sossego no domingo.
Formulo esse pensamento, e uma vez que ele está mentalmente arrumado em palavras, eu o acho sólido, simples e gratuito como um pedaço de pau. Sim, há um pedaço de pau sobre o muro. Jogo-o lá embaixo, na água quase parada. Parece que joguei dentro d'água meu pensamento; fico vagamente vendo os círculos de água, com a alma tão simples e tão feliz como... como, não sei. Como um pedaço de pau. Um pedaço de pau repousando na manhã de domingo.
Rubem Braga, Paris, Junho de 1950
À sombra de uma árvore, junto ao Pont Royal, vejo um velho gordo, em mangas de camisa; pôs uma cadeira na calçada e olha o rio, o palácio do outro lado, a mancha branca do Sacré-Coeur lá no fundo. Deve ser um burguês, um comerciante, que se dispõe a gozar da maneira simples o seu domingo. Passo perto dele e tenho uma surpresa: sob os cabelos despenteados a cara gorda é revolta e amarga, como a de um general mexicano que perdeu a revolução e o cavalo, ficou a pé e desacreditado. Reparo melhor: ele é cego. Está com uma camisa limpa, goza o vento leve na sombra e não vê nada dessa festa de luz que vibra em tudo. Imagino que essa luz é tanta que ele deve sentir sua vibração de algum modo, e não apenas pelo calor, alguma vaga sensação na pele, na ouvidos, nas mãos. Talvez seja isso que ele exprima, mexendo vagamente os lábios.
Como tive vontade de dizer 'bon jour' ao casal, tenho vontade de me sentar ao lado do cego, fazer com ele uma longa conversa preguiçosa. Falar de quê? Talvez de cavalos; cavalos de general, cavalos de carroça, cavalos de meu tio; casos simples de cavalos.
Ou quem sabe ele prefira conversar sobre frutas; provavelmente diria como eram grandes os morangos antigamente, numa chácara da infância. Também sei algumas histórias de baleias; mesmo já vi uma baleia. Todo mundo gosta de conversar sobre baleias. Hesito um segundo, e subitamente penso que se parar ou diminuir o passo, agora que estou a um metro de distância, ele voltará para mim os olhos cegos e inquietos.
— Um cego tem bem direito ao seu sossego no domingo.
Formulo esse pensamento, e uma vez que ele está mentalmente arrumado em palavras, eu o acho sólido, simples e gratuito como um pedaço de pau. Sim, há um pedaço de pau sobre o muro. Jogo-o lá embaixo, na água quase parada. Parece que joguei dentro d'água meu pensamento; fico vagamente vendo os círculos de água, com a alma tão simples e tão feliz como... como, não sei. Como um pedaço de pau. Um pedaço de pau repousando na manhã de domingo.
Rubem Braga, Paris, Junho de 1950
domingo, maio 23
Um escritor, uma paixão
O Hélio Pellegrino tinha um jeito especial de brincar com as palavras. Jubileu, por exemplo. Assim que topou com jubileu, num texto do ginásio, cismou que não podia ter o sentido que está no dicionário. Se a gente para diante de uma palavra e diz sílaba por sílaba, como se a visse pela primeira vez, ela fica logo esquisita. Jubileu entã nem se fala. É nome de gente, garantia o Hélio. E daí apareceu o Jubileu de Almeida.
Mas esta é outra história, que conto outro dia. Hoje quero falar é de um jubileu mesmo. A palavra vem do hebraico e a princípio designava uma trombeta que só tocava de 50 em 50 anos. Daí, jubileu é um período de 50 anos. Uma data redonda e festiva. Bastaria o decurso do tempo para lhe dar valor. Afinal, é meio século. Antes que acabe 1991, quero recuar a 1941. Não tenho arquivo. Tenho um papelório amontoado numa canastra.
Remotos, dramáticos, presentíssimos anos verdes. Edição Pongetti. Foi paga, claro. "A meus pais" ‒ diz a dedicatória. É até bom eu não ter à mão o papelório grampeado. E as fotos. Assim não cito esta ou aquela palavra. Nem releio os dois artigos adolescentes que escrevi. Louvei o jovem estreante com um severo distanciamento. Estava fingindo de crítico de verdade. Era um artigo só, que o João Etienne Filho publicou de duas vezes. O Etienne nos botava pra frente com aquele entusiasmo meio irresponsável.
Mas esta é outra história, que conto outro dia. Hoje quero falar é de um jubileu mesmo. A palavra vem do hebraico e a princípio designava uma trombeta que só tocava de 50 em 50 anos. Daí, jubileu é um período de 50 anos. Uma data redonda e festiva. Bastaria o decurso do tempo para lhe dar valor. Afinal, é meio século. Antes que acabe 1991, quero recuar a 1941. Não tenho arquivo. Tenho um papelório amontoado numa canastra.
Verdadeiro cafarnaum. Mas assim como há um anjo das bibliotecas, que indica o livro que a gente está procurando, assim também há um anjo que, entre mil papéis, põe o dedo no papel que interessa. Outro dia dei com os documentos de uma festa de 1941. Depois tudo sumiu de novo. Lá estava o cardápio do jantar na Pampulha. O discurso do Murilo Rubião, chamando o homenageado de Benjamim. Sim, era um garoto de 17 anos que tinha publicado o seu livro de estreia: "Os grilos não cantam mais". 133 páginas para 13 contos. Bonitos números. Título da primeira história: "Anos verdes".
Remotos, dramáticos, presentíssimos anos verdes. Edição Pongetti. Foi paga, claro. "A meus pais" ‒ diz a dedicatória. É até bom eu não ter à mão o papelório grampeado. E as fotos. Assim não cito esta ou aquela palavra. Nem releio os dois artigos adolescentes que escrevi. Louvei o jovem estreante com um severo distanciamento. Estava fingindo de crítico de verdade. Era um artigo só, que o João Etienne Filho publicou de duas vezes. O Etienne nos botava pra frente com aquele entusiasmo meio irresponsável.
50 anos! Volvido este tempão, sou insuspeitíssimo para enaltecer, agora bem de perto, o escritor de 1941. Ninguém o supera na consciência literária. Os mais velhos logo reconheceram o recém-chegado. Teve sempre a amizade e a admiração dos melhores. Merecida. Hoje toco a minha trombeta cinquentenária com o orgulho de continuar ao seu lado. Sou testemunha, ontem e hoje. Ninguém foi mais fiel á sua vocação do que Fernando Sabino. E à sua paixão realizada: a literatura.
sábado, maio 22
Cheirar os livros
(...) Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como uma grande sede de saber cruelmente insatisfeita e queria que eu aprendesse a ler já aos quatros anos, sendo demovido a muito custo, por uma pedagoga amiga nossa. Mas, depois que completei seis anos, ele não aguentou, fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las e, além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada e um caderno e me levou à casa de D. Gilete.
— D. Gilete — disse ele, apresentando-me a uma senhora de cabelos presos na nuca, óculos redondos e ar severo —, este rapaz já está um homem e ainda não sabe ler. Aplique as regras.
"Aplicar as regras", soube eu muito depois, com um susto retardado, significava, entre outras coisas, usar a palmatória para vencer qualquer manifestação de falta de empenho ou burrice por parte do aluno. Felizmente D. Gilete nunca precisou me aplicar as regras, mesmo porque eu de fato já conhecia a maior parte das letras e juntá-las me pareceu facílimo, de maneira que, quando voltei para casa nesse mesmo dia, já estava começando a poder ler. Fui a uma das estantes do corredor para selecionar um daqueles livrões com retratos de homens carrancudos e cenas de batalhas, mas meu pai apareceu subitamente à porta do gabinete, carregando uma pilha de mais de vinte livros infantis.
— Esses daí agora não — disse ele. — Primeiro estes, para treinar. Estas livrarias daqui são umas porcarias, só achei estes. Mas já encomendei mais, esses daí devem durar uns dias.
— D. Gilete — disse ele, apresentando-me a uma senhora de cabelos presos na nuca, óculos redondos e ar severo —, este rapaz já está um homem e ainda não sabe ler. Aplique as regras.
"Aplicar as regras", soube eu muito depois, com um susto retardado, significava, entre outras coisas, usar a palmatória para vencer qualquer manifestação de falta de empenho ou burrice por parte do aluno. Felizmente D. Gilete nunca precisou me aplicar as regras, mesmo porque eu de fato já conhecia a maior parte das letras e juntá-las me pareceu facílimo, de maneira que, quando voltei para casa nesse mesmo dia, já estava começando a poder ler. Fui a uma das estantes do corredor para selecionar um daqueles livrões com retratos de homens carrancudos e cenas de batalhas, mas meu pai apareceu subitamente à porta do gabinete, carregando uma pilha de mais de vinte livros infantis.
— Esses daí agora não — disse ele. — Primeiro estes, para treinar. Estas livrarias daqui são umas porcarias, só achei estes. Mas já encomendei mais, esses daí devem durar uns dias.
Duraram bem pouco, sim, porque de repente o mundo mudou e aquelas paredes cobertas de livros começaram a se tornar vivas, frequentadas por um número estonteante de maravilhas, escritas de todos os jeitos e capazes de me transportar a todos os cantos do mundo e a todos os tipos de vida possíveis. Um pouco febril às vezes, chegava a ler dois ou três livros num só dia, sem querer dormir e sem querer comer porque não me deixavam ler à mesa — e, pela primeira vez em muitas, minha mãe disse a meu pai que eu estava maluco, preocupação que até hoje volta e meia ela manifesta.
— Seu filho está doido — disse ela, de noite, na varanda, sem saber que eu estava escutando.
— Ele não larga os livros. Hoje ele estava abrindo os livros daquela estante que vai cair para cheirar.
— Que é que tem isso? É normal, eu também cheiro muito os livros daquela estante. São livros velhos, alguns têm um cheiro ótimo.
— Ele ontem passou a tarde inteira lendo um dicionário.
— Normalíssimo .Eu também leio dicionários, distrai muito. Que dicionário ele estava lendo?
— O Lello.
— Ah, isso é que não pode. Ele tem que ler o Laudelino Freire, que é muito melhor. Eu vou ter uma conversa com esse rapaz, ele não entende nada de dicionários. Ele está cheirando os livros certos, mas lendo o dicionário errado, precisa de orientação.
João Ubaldo Ribeiro, "Um Brasileiro em Berlim”
João Ubaldo Ribeiro, "Um Brasileiro em Berlim”
sexta-feira, maio 21
Aspas
Enquanto que "ler" pode ser uma mera distração, ler é um compromisso. "Ler" prescinde da presença que ler exige. "Ler" é muito parecido com ler mas, ao mesmo tempo, é bastante diferente. "Ler" é quase o oposto de ler.
"Ler" pode ser este encontro breve: passar os olhos por estas colunas, sobrevoá-las sem reparar mesmo em cada palavra, assimilar as primeiras linhas, apanhar pedaços aleatórios do meio, colheradas, fragmentos daqui e dali, e alcançar o fim na diagonal, para ver como acaba.
Ler é outra coisa. Quem lê já chegou onde queria ir, não tem pressa. Ler, parece-me, acontece com mais facilidade nas páginas de livros. Ler é uma tarefa de horas ou, melhor, de tempo que não pode realmente ser medido. Apesar da progressão nos capítulos, apesar do ponto final, ler é uma atividade sem fim. Suponho que ler seja comparável a navegar num oceano: horizonte em todas as direções.
Quem leva ideias preconcebidas e vai em busca das suas próprias justificações não lê, apenas "lê".
As palavras não resistem a ser repetidas com desdém. Se uma criança mal disposta as arranca do seu tom e as repete com troça, as palavras sofrem como qualquer vítima de bullying. Da mesma forma, nenhum texto resiste a uma leitura com desdém. Quem lê não impõe uma voz às palavras, prefere escutá-las.
Ler requer humildade, generosidade e confiança.
Para ler faz falta uma certa paz e, ao mesmo tempo, uma certa inquietação. Esse é um equilíbrio rigoroso, uma forma de respirar que não se ensina e que, no entanto, se pode aprender.
Há momentos em que ler é vozes em uníssono, palavras sobrepostas, dentro e fora de nós: verdades que conhecemos de dentro a chegarem de fora e a falarem-nos, recordações vivas de um passado que está a acontecer pela primeira vez naquele momento. Como uma organização súbita, o mundo unificado, um sentido integral, a coerência plena, um génesis. Não existia, passou a existir. Da escuridão absoluta à luz também absoluta. E, no entanto, tudo simples, natural.
Quem lê não faz exigências, apenas quer estar ali.
José Luís Peixoto
"Ler" pode ser este encontro breve: passar os olhos por estas colunas, sobrevoá-las sem reparar mesmo em cada palavra, assimilar as primeiras linhas, apanhar pedaços aleatórios do meio, colheradas, fragmentos daqui e dali, e alcançar o fim na diagonal, para ver como acaba.
 |
| Rita Cardelli |
Ler é outra coisa. Quem lê já chegou onde queria ir, não tem pressa. Ler, parece-me, acontece com mais facilidade nas páginas de livros. Ler é uma tarefa de horas ou, melhor, de tempo que não pode realmente ser medido. Apesar da progressão nos capítulos, apesar do ponto final, ler é uma atividade sem fim. Suponho que ler seja comparável a navegar num oceano: horizonte em todas as direções.
Quem leva ideias preconcebidas e vai em busca das suas próprias justificações não lê, apenas "lê".
As palavras não resistem a ser repetidas com desdém. Se uma criança mal disposta as arranca do seu tom e as repete com troça, as palavras sofrem como qualquer vítima de bullying. Da mesma forma, nenhum texto resiste a uma leitura com desdém. Quem lê não impõe uma voz às palavras, prefere escutá-las.
Ler requer humildade, generosidade e confiança.
Para ler faz falta uma certa paz e, ao mesmo tempo, uma certa inquietação. Esse é um equilíbrio rigoroso, uma forma de respirar que não se ensina e que, no entanto, se pode aprender.
Há momentos em que ler é vozes em uníssono, palavras sobrepostas, dentro e fora de nós: verdades que conhecemos de dentro a chegarem de fora e a falarem-nos, recordações vivas de um passado que está a acontecer pela primeira vez naquele momento. Como uma organização súbita, o mundo unificado, um sentido integral, a coerência plena, um génesis. Não existia, passou a existir. Da escuridão absoluta à luz também absoluta. E, no entanto, tudo simples, natural.
Quem lê não faz exigências, apenas quer estar ali.
José Luís Peixoto
quinta-feira, maio 20
Apostar no pano verde alheio
Os livreiros venderão ou não o seu manuscrito. Para eles, é esse o problema. Para eles, um livro representa um capital a arriscar. Quanto melhor for o livro, menos hipóteses terá de ser vendido. Todo o homem superior se eleva acima das massas, o seu sucesso está, pois, na razão directa do tempo necessário para apreciar a obra. Nenhum livreiro gosta de esperar. O livro de hoje terá de ser vendido amanhã. Neste sistema, os livreiros rejeitam livros substanciais que exigem um elevado e lento reconhecimento.
(...) Na época em que começa esta história, o prelo de Stanhope e os rolos de distribuição de tinta ainda não haviam entrado em funcionamento nas pequenas tipografias de província. Não obstante a especialização que permite compará-las à tipografia parisiense, Angoulême continuava a usar prelos de madeira, que deram origem à expressão fazer gemer o prelo, caída em desuso. A imprensa antiga ainda utilizava almofadas de couro embebidas em tinta, nas quais o impressor esfregava os caracteres. O quadro móvel onde se coloca a forma repleta de letras sobre a qual se aplica a folha de papel ainda era de pedra e justificava o nome por que era conhecida, mármore. As devoradoras imprensas mecânicas conduziram tão rapidamente ao esquecimento deste mecanismo, ao qual devemos, apesar das imperfeições, os belos livros dos Elzevier, dos Plantin, dos Alde e dos Didot, que se torna necessário mencionar os velhos instrumentos aos quais Jérôme-Nicolas Séchard votava um supersticioso afecto; na verdade, eles têm um papel a desempenhar nesta pequena história.
Séchard era um antigo oficial impressor, que os operários encarregados de alinhar as letras designavam por urso em linguagem tipográfica. O movimento de vaivém, muito semelhante ao de um urso enjaulado, executado pelos impressores que se deslocavam do tinteiro ao prelo e do prelo ao tinteiro, esteve com certeza na origem da alcunha. Por outro lado, os ursos chamaram macacos aos compositores tipográficos, por causa do exercício contínuo que estes homens realizam para retirar os tipos dos cento e cinquenta e dois caixotins em que se encontram arrumados.
(…) A casa Fendant e Cavalier era uma dessas editoras livreiras estabelecidas sem nenhuma espécie de capital, como então se viam muitas, e como sempre se verão, enquanto a papelaria e a tipografia continuarem a conceder créditos aos livreiros, durante o lapso de tempo em que se publicam umas tantas obras. Então como hoje, as obras eram compradas aos autores por meio de letras passadas a seis, nove e doze meses, pagamento baseado na natureza da venda que se salda entre livreiros em prazos mais dilatados. Estes livreiros pagavam na mesma moeda aos fornecedores de papel e às tipografias, que assim tinham nas mãos, grátis, durante um ano, toda uma livraria composta por uma dúzia ou uma vintena de obras. Admitindo dois ou três êxitos, o produto dos bons negócios pagava os maus, e eles sobreviviam apoiando uns livros nos outros. Se as operações fossem todas duvidosas, ou se, por um acaso, descobrissem bons livros, que só podiam vender-se depois de terem sido apreciados, saboreados pelo verdadeiro público, se os descontos sobre o seu valor fosse muito grande, se eles próprios perdessem dinheiro, abriam tranquilamente falência, previamente preparados para este resultado. Deste modo, todas as situações lhes eram favoráveis, apostavam no pano verde da especulação alheio, não o próprio.
Honoré de Balzac, "Ilusões Perdidas"
(...) Na época em que começa esta história, o prelo de Stanhope e os rolos de distribuição de tinta ainda não haviam entrado em funcionamento nas pequenas tipografias de província. Não obstante a especialização que permite compará-las à tipografia parisiense, Angoulême continuava a usar prelos de madeira, que deram origem à expressão fazer gemer o prelo, caída em desuso. A imprensa antiga ainda utilizava almofadas de couro embebidas em tinta, nas quais o impressor esfregava os caracteres. O quadro móvel onde se coloca a forma repleta de letras sobre a qual se aplica a folha de papel ainda era de pedra e justificava o nome por que era conhecida, mármore. As devoradoras imprensas mecânicas conduziram tão rapidamente ao esquecimento deste mecanismo, ao qual devemos, apesar das imperfeições, os belos livros dos Elzevier, dos Plantin, dos Alde e dos Didot, que se torna necessário mencionar os velhos instrumentos aos quais Jérôme-Nicolas Séchard votava um supersticioso afecto; na verdade, eles têm um papel a desempenhar nesta pequena história.
Séchard era um antigo oficial impressor, que os operários encarregados de alinhar as letras designavam por urso em linguagem tipográfica. O movimento de vaivém, muito semelhante ao de um urso enjaulado, executado pelos impressores que se deslocavam do tinteiro ao prelo e do prelo ao tinteiro, esteve com certeza na origem da alcunha. Por outro lado, os ursos chamaram macacos aos compositores tipográficos, por causa do exercício contínuo que estes homens realizam para retirar os tipos dos cento e cinquenta e dois caixotins em que se encontram arrumados.
(…) A casa Fendant e Cavalier era uma dessas editoras livreiras estabelecidas sem nenhuma espécie de capital, como então se viam muitas, e como sempre se verão, enquanto a papelaria e a tipografia continuarem a conceder créditos aos livreiros, durante o lapso de tempo em que se publicam umas tantas obras. Então como hoje, as obras eram compradas aos autores por meio de letras passadas a seis, nove e doze meses, pagamento baseado na natureza da venda que se salda entre livreiros em prazos mais dilatados. Estes livreiros pagavam na mesma moeda aos fornecedores de papel e às tipografias, que assim tinham nas mãos, grátis, durante um ano, toda uma livraria composta por uma dúzia ou uma vintena de obras. Admitindo dois ou três êxitos, o produto dos bons negócios pagava os maus, e eles sobreviviam apoiando uns livros nos outros. Se as operações fossem todas duvidosas, ou se, por um acaso, descobrissem bons livros, que só podiam vender-se depois de terem sido apreciados, saboreados pelo verdadeiro público, se os descontos sobre o seu valor fosse muito grande, se eles próprios perdessem dinheiro, abriam tranquilamente falência, previamente preparados para este resultado. Deste modo, todas as situações lhes eram favoráveis, apostavam no pano verde da especulação alheio, não o próprio.
Honoré de Balzac, "Ilusões Perdidas"
quarta-feira, maio 19
Ilha de tranquilidade
O canto com livros vai se tornando o único lugar da casa onde se pode estar tranquiloJulio Cortázar
Platero
Platero é pequeno, peludo, suave; tão macio por fora, que parece todo de algodão, parece não ter ossos. Só os espelhos de azeviche de seus olhos são duros como dois escaravelhos de cristal negro.
Deixo-o solto, e ele vai para o prado, e acaricia mansamente com o focinho, mal as tocando, as florzinhas cor-de-rosa, azul-celeste e amarelo ouro… Chamo-o docemente: “Platero!”, e ele vem até mim com um trotezinho alegre, como se viesse rindo, como que num desprendimento ideal.
Come o que lhe dou. Gosta de laranjas, tangerinas, uvas moscatéis, todas de âmbar, figos-roxos, com sua gotinha cristalina de mel…
É terno e mimoso como um menino, como uma menina…; mas forte e rijo por dentro, como de pedra. Quando, aos domingos, passo montado nele pelas últimas ruelas da aldeia, os homens do campo, de roupa limpa e vagarosos, ficam olhando:
– Ele tem aço…
Tem aço. Aço e, ao mesmo tempo, prata de luar.
Juan Ramón Jiménez,"Platero e Eu"
Deixo-o solto, e ele vai para o prado, e acaricia mansamente com o focinho, mal as tocando, as florzinhas cor-de-rosa, azul-celeste e amarelo ouro… Chamo-o docemente: “Platero!”, e ele vem até mim com um trotezinho alegre, como se viesse rindo, como que num desprendimento ideal.
Come o que lhe dou. Gosta de laranjas, tangerinas, uvas moscatéis, todas de âmbar, figos-roxos, com sua gotinha cristalina de mel…
É terno e mimoso como um menino, como uma menina…; mas forte e rijo por dentro, como de pedra. Quando, aos domingos, passo montado nele pelas últimas ruelas da aldeia, os homens do campo, de roupa limpa e vagarosos, ficam olhando:
– Ele tem aço…
Tem aço. Aço e, ao mesmo tempo, prata de luar.
Juan Ramón Jiménez,"Platero e Eu"
terça-feira, maio 18
Os livros
 |
| Susa Monteiro |
António Lobo Antunes
Décadas atrasado
Em coluna recente, desapontei alguns leitores ao revelar que nunca beijei Jane Fonda, nunca tolerei Bob Dylan, nunca dirigi um avião e não tenho celular, Instagram ou Facebook. As três primeiras deficiências foram magnanimamente absorvidas. Mas as três últimas me marcaram como um contemporâneo dos pterodáctilos, um inimigo da tecnologia.
É uma injustiça, sou fã da tecnologia. Mas, por mais que me empenhe, vivo correndo atrás. Assim que adoto uma de suas maravilhas, ela é cancelada por um dispositivo mais avançado e, enquanto estudo a possibilidade de aderir a este, fico sabendo que ele também foi superado e que já há outra novidade a caminho. É um turbilhão.
O orelhão, por exemplo. Durante décadas, sempre que na rua, fui seu grande usuário. Mas, nos anos 90, a ficha, com que ele funcionava tão bem, foi substituída por um suspeito cartão. Nunca mais falei neles.
Pouco depois, o orelhão foi sucedido pelo celular, que, no começo, não passava de um orelhão portátil. E, quando eu ainda estava analisando o bicho, eis que o celular se inspirou no Bom Bril e se tornou um produto de 1001 utilidades, todas muito complexas para mim.
O mesmo quanto ao computador. Escrevo exclusivamente em computadores desde 1988, quando eles ainda eram do tamanho de um fogão e gravavam nossos textos em disquetes flexíveis, de quase um palmo de altura.
De lá para cá, os computadores evoluíram muito, e eu com eles —mas sempre com um equipamento dez anos atrasado, para que ele não se meta a exigir operações além da minha capacidade.
Aliás, para que pressa? Sabendo que, um dia, tudo que se inventa acaba superado, limito-me a relaxar e tratar da vida.
Ouvi dizer que, daqui a dois anos, os grandes musts de hoje, WhatsApp, Zoom, Kindle, Bluetooth etc., estarão tão defasados que ninguém saberá mais para que serviam. Estou apenas me antecipando.
É uma injustiça, sou fã da tecnologia. Mas, por mais que me empenhe, vivo correndo atrás. Assim que adoto uma de suas maravilhas, ela é cancelada por um dispositivo mais avançado e, enquanto estudo a possibilidade de aderir a este, fico sabendo que ele também foi superado e que já há outra novidade a caminho. É um turbilhão.
O orelhão, por exemplo. Durante décadas, sempre que na rua, fui seu grande usuário. Mas, nos anos 90, a ficha, com que ele funcionava tão bem, foi substituída por um suspeito cartão. Nunca mais falei neles.
Pouco depois, o orelhão foi sucedido pelo celular, que, no começo, não passava de um orelhão portátil. E, quando eu ainda estava analisando o bicho, eis que o celular se inspirou no Bom Bril e se tornou um produto de 1001 utilidades, todas muito complexas para mim.
O mesmo quanto ao computador. Escrevo exclusivamente em computadores desde 1988, quando eles ainda eram do tamanho de um fogão e gravavam nossos textos em disquetes flexíveis, de quase um palmo de altura.
De lá para cá, os computadores evoluíram muito, e eu com eles —mas sempre com um equipamento dez anos atrasado, para que ele não se meta a exigir operações além da minha capacidade.
Aliás, para que pressa? Sabendo que, um dia, tudo que se inventa acaba superado, limito-me a relaxar e tratar da vida.
Ouvi dizer que, daqui a dois anos, os grandes musts de hoje, WhatsApp, Zoom, Kindle, Bluetooth etc., estarão tão defasados que ninguém saberá mais para que serviam. Estou apenas me antecipando.
domingo, maio 16
Assinar:
Postagens (Atom)