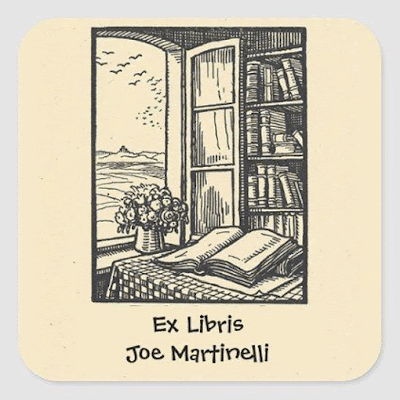Um amigo, músico, recomendara-me o evento. Havia sempre boas surpresas, assegurara: cantores muito conhecidos e outros estreantes, brasileiros, portugueses, africanos. A mim, o público interessava-me tanto quanto os artistas. Sentado na minha poltrona, estudava as pessoas, imaginando que profissão exerceriam e o que as teria trazido até ali. Esqueci-me que também elas me podiam observar.
– Reparei em ti – continuou a mulher –, porque os tímidos têm um sexto sentido que faz com que se reconheçam uns aos outros ao primeiro olhar.
É verdade, sou tímido. Festas constrangem-me. Sou uma daquelas pessoas a quem o confinamento não desagradou, muito pelo contrário. Ou, pelo menos, eu pensava assim – até ontem. Vivi muitos anos em estado de semirreclusão. A mulher chamava-se Ingrid.
– O que fazes? – perguntou-me.
– Adivinha…
– És professor de Matemática.
Neguei, divertido. No palco, o cantor contava uma piada. O público riu-se. Ingrid também se riu. Não parecia tímida, pelo contrário, a sua gargalhada era clara e exuberante. Disse-lhe a verdade, que era tradutor literário, do francês para o português. A minha resposta pareceu surpreendê-la. Interessou-se. Quis saber que autores eu já traduzira. Naquele momento o cantor reinventava uma das minhas canções preferidas. Ouvindo-o, ausentei-me por um instante. Velhas canções têm esse poder de transportar-nos para outro tempo, e outros lugares. Ingrid percebeu.
– Já não estás aqui – disse.
Tive a sensação de que o cantor me observava. Parecia cantar só para mim. Quando ele terminou, todos bateram palmas.
– E tu, o que fazes? – perguntei a Ingrid.
– Adivinha…
– És professora de Matemática.
Riu-se:
– É que sou mesmo.
– Mentira…
– Quando isto acabar, podíamos ir beber qualquer coisa…
Ri-me:
– Em que cidade estás?
– Berlim.
– Caramba, acho que não vai dar, eu estou em Lisboa. Estamos muito longe um do outro.
Tão longe. Tão perto. Toquei-lhe o rosto, no ecrã do computador. Devia haver quase 30 pessoas no público. Cada uma delas no seu quadradinho, algumas na cozinha, outras no quarto, na sala ou no escritório. Em baixo de cada quadradinho, estava o nome do espectador. No quadrado maior, via-se o artista. Por vezes chamava um parceiro, que podia estar em Luanda, em Lisboa ou no Rio de Janeiro, e logo o outro surgia ao lado dele, num quadrado idêntico, e então tocavam e cantavam juntos, como se partilhassem realmente o mesmo palco. Uma moça (Adriana) colocara o ecrã na casa de banho e acompanhava o show estendida na banheira, enquanto brincava com um patinho de plástico. As pessoas podiam enviar mensagens em aberto, para os artistas, ou trocar ideias umas com as outras, em privado.
Ingrid estava sentada numa cadeira de espaldar alto, diante de uma estante com livros. Tentei, mas não era possível ler os títulos. Quis saber se ela aceitaria sair comigo, na realidade, caso isso fosse possível.
– Realidade? Qual realidade? – perguntou, parecendo genuinamente surpreendida com a minha questão.
– Bem, sabes, a realidade…
– Esta é a realidade. Nenhum de nós está a sonhar.
– Sim, refiro-me à outra realidade, mais real do que esta. O mundo lá fora.
– Não existe isso, um mundo lá fora. Aliás, não te convidei para sair, o que seria absurdo, mas para tomar um copo.
– Cada um na sua casa?
– Cada um na sua casa e cada casa na casa do outro, sim, como haveria de ser?
Passou-me o endereço dela – no Skype. O show terminou. Aplaudimos os artistas e estes despediram-se com uma última canção. O ecrã ficou vazio. Desliguei o computador e fui tomar um banho. Que roupa deveria vestir para sair com Ingrid? Ou melhor, para entrar na casa de Ingrid?
Atirei o laptop pela janela. Escutei o barulhinho bom que fez ao quebrar-se em mil pedaços contra o asfalto, Depois abri a porta da rua e saí. A realidade ainda estava lá.
Tive a sensação de que o cantor me observava. Parecia cantar só para mim. Quando ele terminou, todos bateram palmas.
– E tu, o que fazes? – perguntei a Ingrid.
– Adivinha…
– És professora de Matemática.
Riu-se:
– É que sou mesmo.
– Mentira…
– Quando isto acabar, podíamos ir beber qualquer coisa…
Ri-me:
– Em que cidade estás?
– Berlim.
– Caramba, acho que não vai dar, eu estou em Lisboa. Estamos muito longe um do outro.
Tão longe. Tão perto. Toquei-lhe o rosto, no ecrã do computador. Devia haver quase 30 pessoas no público. Cada uma delas no seu quadradinho, algumas na cozinha, outras no quarto, na sala ou no escritório. Em baixo de cada quadradinho, estava o nome do espectador. No quadrado maior, via-se o artista. Por vezes chamava um parceiro, que podia estar em Luanda, em Lisboa ou no Rio de Janeiro, e logo o outro surgia ao lado dele, num quadrado idêntico, e então tocavam e cantavam juntos, como se partilhassem realmente o mesmo palco. Uma moça (Adriana) colocara o ecrã na casa de banho e acompanhava o show estendida na banheira, enquanto brincava com um patinho de plástico. As pessoas podiam enviar mensagens em aberto, para os artistas, ou trocar ideias umas com as outras, em privado.
Ingrid estava sentada numa cadeira de espaldar alto, diante de uma estante com livros. Tentei, mas não era possível ler os títulos. Quis saber se ela aceitaria sair comigo, na realidade, caso isso fosse possível.
– Realidade? Qual realidade? – perguntou, parecendo genuinamente surpreendida com a minha questão.
– Bem, sabes, a realidade…
– Esta é a realidade. Nenhum de nós está a sonhar.
– Sim, refiro-me à outra realidade, mais real do que esta. O mundo lá fora.
– Não existe isso, um mundo lá fora. Aliás, não te convidei para sair, o que seria absurdo, mas para tomar um copo.
– Cada um na sua casa?
– Cada um na sua casa e cada casa na casa do outro, sim, como haveria de ser?
Passou-me o endereço dela – no Skype. O show terminou. Aplaudimos os artistas e estes despediram-se com uma última canção. O ecrã ficou vazio. Desliguei o computador e fui tomar um banho. Que roupa deveria vestir para sair com Ingrid? Ou melhor, para entrar na casa de Ingrid?
Atirei o laptop pela janela. Escutei o barulhinho bom que fez ao quebrar-se em mil pedaços contra o asfalto, Depois abri a porta da rua e saí. A realidade ainda estava lá.