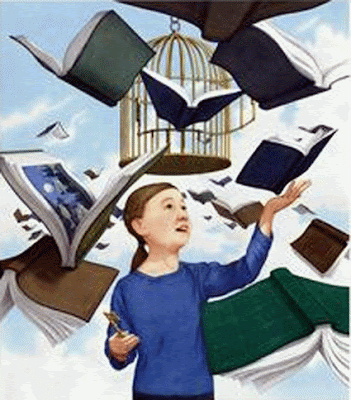terça-feira, janeiro 31
América! América!
Estudei em escolas públicas — públicas mesmo. Todo mundo estudou: os tagarelas, os tímidos, os atarracados, os varapaus, o futuro cientista eletrônico, o futuro policial que certa noite viria a chutar um diabético até a morte ao confundi-lo com um bêbado que precisava se acalmar um pouquinho; os pobres, cheirando a lã suja, ao bebê urinoso que tinha ficado em casa e à geleia geral; os mais ricos, com suas golas de pele puídas, anéis de opala e papais que tinham carro (“Quê que o seu pai faz?”, “Ele num trabaia, ele é motorista de ônibus.” Todos dão risada). Lá estava ela — a Educação —, oferecida sem custo a todos nós, uma grossa fatia da população americana em plena depressão. Nós não estávamos deprimidos, é claro. Deixávamos essa parte para os nossos pais, que se desdobravam para criar um filho ou dois e caíam pelos cantos depois do trabalho e de jantares frugais, sempre ao lado do rádio, para ouvir as notícias da “terra natal” e de um homem de bigode preto chamado Hitler.
Acima de tudo, nós de fato nos sentíamos americanos na agitada cidadezinha litorânea onde peguei, como se fosse piolho, o ritmo dos meus primeiros dez anos de escola — um grande e ruidoso balaio de gato de católicos irlandeses, judeus alemães, suecos, negros, italianos e aquele raro e puro cocô do navio Mayflower: alguém que fosse inglês. A essa pobre tripulação de cidadãos mirins, as doutrinas da Liberdade e Igualdade deveriam ser transmitidas por meio das escolas comunitárias e gratuitas. Embora quase nos considerássemos bostonianos (o aeroporto da cidade, com seus aviões e dirigíveis prateados que pairavam tão belos, rosnava e reluzia do outro lado da baía), eram os arranha-céus de Nova York os ícones colados nas paredes das salas de aula; Nova York e a grande rainha verde que estendia uma luminária como símbolo da liberdade.
Toda manhã, levando a mão ao coração, prometíamos lealdade às Estrelas e Listras, uma espécie de toalha de altar que ficava no alto da mesa do professor. E cantávamos as letras carregadas de fumaça de pólvora e patriotismo que acompanhavam melodias impensáveis, vacilantes, agudas. Uma nobre e bela canção, “pelas grandezas das montanhas roxas acima da planície fértil”, sempre levou às lágrimas a poeta em miniatura que havia em mim. Naquela época eu não sabia dizer o que era a planície fértil e o que era a grandeza da montanha, e confundia Deus com George Washington (cuja expressão de vovozinha meiga também nos iluminava do alto da parede da sala, entre persianas impecáveis de caracóis brancos), mas mesmo assim gorjeava, ao lado dos meus pequenos e catarrentos compatriotas: “América, América! Deus derramou Sua graça sobre ti, e coroou teu povo com a fraternidade que se estende pelo mar brilhante”.
Como acontecia com toda iniciada, me atribuíram uma Irmã Mais Velha que transformou em rotina a missão de destruir meu ego. Por uma semana inteira fui proibida de usar maquiagem, tomar banho, pentear os cabelos, trocar de roupa ou falar com os meninos. Quando amanhecia, eu ia a pé até a casa da minha Irmã Mais Velha para fazer seu café da manhã e arrumar sua cama. Depois, arrastando seus livros insuportavelmente pesados, além dos meus próprios, eu a seguia feito um cachorro até a escola. No caminho ela podia me mandar subir numa árvore e ficar pendurada num galho até cair, ou fazer perguntas grosseiras aos passantes, ou sair pelo comércio pedindo uvas podres e arroz mofado. Se eu sorrisse — isto é, se mostrasse qualquer traço de ironia ante à minha escravidão —, tinha de me ajoelhar na calçada e arrancar o sorriso do rosto. No instante em que o sinal do fim das aulas tocava, a Irmã Mais Velha assumia o controle. Quando anoitecia eu sentia dor e cheirava mal; a tarefa de casa zunia dentro de um cérebro embotado e zonzo. Estavam me moldando para ser Normal.
Sabe-se lá como, não funcionou — essa iniciação ao nihil do pertencimento. Talvez eu fosse estranha demais. O que essas representantes da feminilidade americana escolhidas a dedo faziam em suas reuniões da irmandade? Comiam bolo; comiam bolo e fofocavam sobre o encontro do sábado à noite. O privilégio de ser alguém começava a mostrar a outra face — a pressão de ser todo mundo; logo, ninguém.
Há pouco tempo espiei uma escola primária americana pelo vidro lateral da fachada: carteiras de tamanho infantil e mesas de madeira clara; fogões de brinquedo e bebedouros minúsculos. Luz do sol por todo lado. Em um quarto de século, a anarquia, o desconforto e a sujeira de que eu me lembrava com tanta ternura tinham sido amansados. Uma das turmas havia passado a manhã dentro de um ônibus para que os alunos aprendessem a pagar a passagem e perguntar sobre as paradas. Ler (na minha época se aprendia aos quatro anos com as caixas de sabão) se tornou uma arte tão traumática e imprevisível que o indivíduo tem sorte se conseguir dominá-la aos dez. Mas as crianças sorriam em seu pequeno círculo. Será que cheguei a ver, no armário de primeiros socorros, o reluzir dos frascos — calmantes e sedativos para o rebelde mirim, o artista, o diferente?
Sylvia Plath, "Johnny Panic e a Bíblia de Sonhos e outros textos em prosa"
Acima de tudo, nós de fato nos sentíamos americanos na agitada cidadezinha litorânea onde peguei, como se fosse piolho, o ritmo dos meus primeiros dez anos de escola — um grande e ruidoso balaio de gato de católicos irlandeses, judeus alemães, suecos, negros, italianos e aquele raro e puro cocô do navio Mayflower: alguém que fosse inglês. A essa pobre tripulação de cidadãos mirins, as doutrinas da Liberdade e Igualdade deveriam ser transmitidas por meio das escolas comunitárias e gratuitas. Embora quase nos considerássemos bostonianos (o aeroporto da cidade, com seus aviões e dirigíveis prateados que pairavam tão belos, rosnava e reluzia do outro lado da baía), eram os arranha-céus de Nova York os ícones colados nas paredes das salas de aula; Nova York e a grande rainha verde que estendia uma luminária como símbolo da liberdade.
Toda manhã, levando a mão ao coração, prometíamos lealdade às Estrelas e Listras, uma espécie de toalha de altar que ficava no alto da mesa do professor. E cantávamos as letras carregadas de fumaça de pólvora e patriotismo que acompanhavam melodias impensáveis, vacilantes, agudas. Uma nobre e bela canção, “pelas grandezas das montanhas roxas acima da planície fértil”, sempre levou às lágrimas a poeta em miniatura que havia em mim. Naquela época eu não sabia dizer o que era a planície fértil e o que era a grandeza da montanha, e confundia Deus com George Washington (cuja expressão de vovozinha meiga também nos iluminava do alto da parede da sala, entre persianas impecáveis de caracóis brancos), mas mesmo assim gorjeava, ao lado dos meus pequenos e catarrentos compatriotas: “América, América! Deus derramou Sua graça sobre ti, e coroou teu povo com a fraternidade que se estende pelo mar brilhante”.
Do mar sabíamos uma coisa ou outra. Término de quase todas as ruas, contorcia, sacudia e arremessava de seu cinza amorfo pratos de porcelana, macaquinhos de madeira, delicadas conchas e sapatos de homens que tinham morrido. Ventos salgados e úmidos varriam sem parar nossos parquinhos — aquelas composições góticas de cascalho, macadame, granito e terra remexida, maliciosamente projetadas para esfolar e polir os joelhos mais tenros. Lá trocávamos cartas de baralho (só pelos desenhos no verso) e histórias indecentes, pulávamos corda, brincávamos de bola de gude e encenávamos as emoções do rádio e dos quadrinhos da nossa época (“Quem conhece o mal que espreita no coração do homem? O Sombra conhece… Ha ha ha!” ou “Olhem lá no céu! É um pássaro? É um avião? Não, é o Super-Homem!”). Se estávamos destinados a algum fim especial — marcados, condenados, limitados, fadados —, não sabíamos. Sorríamos e saltávamos de nossas carteiras para jogar queimada, tão abertos e tão confiantes quanto o próprio mar.
Afinal, podíamos ser qualquer coisa. Se trabalhássemos. Se nos dedicássemos aos estudos. Nosso sotaque, nosso dinheiro e nossos pais não faziam diferença. Não havia advogados que saíam da família do carroceiro de carvão e médicos da lata do lixeiro? A educação era a resposta, e só Deus sabe como ela havia chegado a nós. Invisível, suponho, no início — um místico brilho infravermelho que saía das tabuadas, poemas pavorosos que exaltavam o céu azul do mês de outubro, um mundo de histórias que parecia começar e terminar com a Festa do Chá de Boston, em que os peregrinos e os índios eram, como o eohippus, pré-históricos.
Depois a obsessão da universidade chegaria para nos dominar feito um vírus sutil e aterrorizante. Todo mundo tinha que ir a alguma universidade. Fosse um curso de administração, um curso técnico, uma faculdade estadual, um curso de secretariado, uma universidade da Ivy League, um curso de agronomia. Primeiro os estudos, depois o trabalho. Quando nós (tanto o futuro policial quanto o futuro gênio da tecnologia) chegamos como uma explosão ao próspero segundo grau pós-guerra, orientadores vocacionais trabalhavam em período integral para nos estimular, com frequência cada vez maior, a discutir motivações, objetivos, assuntos escolares, empregos — e universidades. Professores excelentes caíam do céu como meteoros: professores de biologia exibiam cérebros humanos, professores de inglês nos inspiravam com seu apego ideológico por Tolstói e Platão, professores de arte nos conduziam pelos guetos de Boston e depois nos devolviam ao cavalete para que espalhássemos na tela a tinta guache da escola pública com consciência social e raiva. A excentricidade, o risco que se corre por ser especial demais, era negociada e afastada de nós como o polegar que uma criança deixa de chupar.
A orientadora vocacional das meninas diagnosticou meu problema logo de cara. Eu era perigosamente intelectual, só isso. Sem a combinação adequada de atividades extracurriculares, minha elevada e pura sucessão de notas dez perigava me levar direto para o abismo. Cada vez mais as universidades procuravam alunos versáteis. Àquela altura eu já tinha estudado Maquiavel nas aulas de história moderna. Peguei a deixa.
Mas, sem que eu soubesse, essa orientadora vocacional tinha uma irmã gêmea idêntica de cabelos brancos que eu sempre encontrava nos supermercados e no dentista. Com essa gêmea eu me abria sobre meu leque de atividades que crescia sem parar — coisas como comer gomos de laranja no alojamento dos jogos de basquete femininos (eu havia sido selecionada para o time), pintar Ferdinandos e Violetas gigantescos para os bailes da turma, fazer a diagramação dos bonecos do jornalzinho da escola à meia-noite, enquanto minha coeditora exausta lia as piadas no fim das colunas da New Yorker. A expressão vazia e estranhamente emudecida da gêmea da minha orientadora vocacional não me desencorajou, nem a aparente amnésia de sua sósia pálida e eficiente que ficava na sala da escola. Me tornei uma adepta adolescente e enfurecida do pragmatismo.
“O uso é a verdade, e a verdade é o uso”, devo ter resmungado, dobrando as meias soquete para ficar igual às minhas colegas de escola. Não havia uniforme, mas havia uniforme, sim — o corte de cabelo tigela, todo certinho, a saia com blusa de malha, os loafers, cópias pioradas dos mocassins dos indígenas. Chegamos até a fomentar, em nossa estrutura democrática, duas relíquias milenares do esnobismo — duas irmandades: Debutantes e Açúcar com Pimenta. No início de cada ano letivo, as veteranas mandavam convites para as novas alunas — as bonitas, as populares, as rivais em potencial. Uma semana de iniciação precedia nossa adequação arrogante à famigerada Norma. Os professores eram contra a semana de iniciação e os meninos tiravam sarro, mas ninguém podia nos impedir.
Como acontecia com toda iniciada, me atribuíram uma Irmã Mais Velha que transformou em rotina a missão de destruir meu ego. Por uma semana inteira fui proibida de usar maquiagem, tomar banho, pentear os cabelos, trocar de roupa ou falar com os meninos. Quando amanhecia, eu ia a pé até a casa da minha Irmã Mais Velha para fazer seu café da manhã e arrumar sua cama. Depois, arrastando seus livros insuportavelmente pesados, além dos meus próprios, eu a seguia feito um cachorro até a escola. No caminho ela podia me mandar subir numa árvore e ficar pendurada num galho até cair, ou fazer perguntas grosseiras aos passantes, ou sair pelo comércio pedindo uvas podres e arroz mofado. Se eu sorrisse — isto é, se mostrasse qualquer traço de ironia ante à minha escravidão —, tinha de me ajoelhar na calçada e arrancar o sorriso do rosto. No instante em que o sinal do fim das aulas tocava, a Irmã Mais Velha assumia o controle. Quando anoitecia eu sentia dor e cheirava mal; a tarefa de casa zunia dentro de um cérebro embotado e zonzo. Estavam me moldando para ser Normal.
Sabe-se lá como, não funcionou — essa iniciação ao nihil do pertencimento. Talvez eu fosse estranha demais. O que essas representantes da feminilidade americana escolhidas a dedo faziam em suas reuniões da irmandade? Comiam bolo; comiam bolo e fofocavam sobre o encontro do sábado à noite. O privilégio de ser alguém começava a mostrar a outra face — a pressão de ser todo mundo; logo, ninguém.
Há pouco tempo espiei uma escola primária americana pelo vidro lateral da fachada: carteiras de tamanho infantil e mesas de madeira clara; fogões de brinquedo e bebedouros minúsculos. Luz do sol por todo lado. Em um quarto de século, a anarquia, o desconforto e a sujeira de que eu me lembrava com tanta ternura tinham sido amansados. Uma das turmas havia passado a manhã dentro de um ônibus para que os alunos aprendessem a pagar a passagem e perguntar sobre as paradas. Ler (na minha época se aprendia aos quatro anos com as caixas de sabão) se tornou uma arte tão traumática e imprevisível que o indivíduo tem sorte se conseguir dominá-la aos dez. Mas as crianças sorriam em seu pequeno círculo. Será que cheguei a ver, no armário de primeiros socorros, o reluzir dos frascos — calmantes e sedativos para o rebelde mirim, o artista, o diferente?
Sylvia Plath, "Johnny Panic e a Bíblia de Sonhos e outros textos em prosa"
Saltar para o outro lado
Nós estávamos sentados naquela mesa, nervosos, tristes, e descobrimos um novo mundo que nos fez esquecer aqueles sentimentos
Orhan Pamuk
A psique é extensa e nada sabe
Sigmund Freud
Portanto, no início está a recepção e a voz. Ler, apropriar-se dos livros, é reencontrar o eco longínquo de uma voz amada na infância, o apoio de sua presença sensível para atravessar a noite, enfrentar a escuridão e a separação. Como para essas crianças no hospital, que dizem ouvir, enquanto dormem, a voz da pessoa que leu histórias para elas durante o dia. Ou para Florence, em missão humanitária em Ruanda, que enfrenta, dia após dia, o sofrimento dos sobreviventes do genocídio, reacendendo o luto que ela mesma conheceu. Quando está no quarto de hotel, ou à noite, antes de dormir, ela lê: “Nunca estive tão só como então. Quando não tinha mais livros, estava perdida. Comprei um livro, retomei o prumo. Era alguém, uma presença viva, como quando à noite meus parentes me telefonavam. Uma voz humana. Era físico, uma presença. Eu estava como que com um amigo, uma amiga, e já não esperava”.
Como escreve Pascal Quignard: “Diz-se que os dois primeiros medos, pré-humanos, estão relacionados à solidão e à escuridão. Nós amamos poder fazer surgir à vontade um pouco de companhia e de luz artificial. São as histórias que lemos e que à noite trazemos entre as mãos”. Ou Variam Chalámov: “[...] os livros são também um mundo que não nos trai nunca”. Mesmo sozinhos, o interior de nós mesmos estaria ocupado; ao longo da vida inteira, é possível se fazer acompanhar.
Ler é também tornar-se autônomo: o livro é feito de signos, de linguagem, do registro simbólico que os psicanalistas situam mais do lado do pai, de uma terceira instância separadora. E o ato de chegar à leitura é, às vezes, descrito como a incorporação de algo que é próprio da mãe, em que o pai, ou o ser amado pela mãe, aquele com quem ela sonha, sem dúvida não está ausente. E dizer o quanto, para o psiquismo, aquilo que é apropriado tem um status complexo, heterogêneo.
Michèle Petit, "A arte de ler: ou como resistir à adversidade"
A irrelevância ao alcance de todos
Pode crer: os livros brasileiros dominavam as listas dos mais vendidos nos anos 1960
Repassando outro dia no jornal as listas de livros mais vendidos, vi que nosso complexo de vira-lata continua ovante. Dos 10 mais, 9 são americanos e 1 é brasileiro. Não sei se lá fora também é assim. Como muitos países estão vivendo dias conturbados, imagino que, neles, o interesse pelos assuntos nacionais seja pelo menos equivalente ao fascínio pelas coisas dos EUA. A exemplo do Brasil de tempos mais nacionalistas.
Num jornal de 1964 que há pouco me caiu aos olhos, também havia uma lista de livros mais vendidos. Exceto por um ou outro sobre a Guerra Fria ou a fome na África, a maioria era de brasileiros. E, entre estes, um gênero então em voga: tratados “eruditos” sobre temas irrelevantes e vice-versa, com citações em latim, prefácios de gente séria e crítica feroz de tudo. Alguns: “A Ignorância ao Alcance de Todos” (1962), “O Puxa-Saquismo ao Alcance de Todos” (1963) e “Seja Você um Canibal” (1964), todos de Nestor de Hollanda, e “Tratado Geral dos Chatos” (1963), de Guilherme Figueiredo. Tenho-os até hoje, lidos, sublinhados e anotados.
Nestor de Hollanda (1921-1970) era radialista, humorista e comunista, mais ou menos nessa ordem. E Guilherme Figueiredo (1915-1997), um escritor respeitado, com largo trânsito no meio e dramaturgo levado à cena por Tonias, Procopios e Bibis (anos depois, para seu azar, seu irmão caçula, João Batista, seria o quinto presidente da ditadura).
“A Ignorância…” pregava a analfabetização compulsória do país, já que a alfabetização parecia impossível. “O Puxa-Saquismo…” era um manual da bajulação para políticos e populares. “Seja Você um Canibal” se compunha de receitas culinárias para levar ao fogo famosos e anônimos. E, “Tratado Geral…”, um guia para identificar, evitar e, se preciso, matar um eventual chato no nosso caminho.
Todos ficaram meses nas listas dos jornais e vários ao mesmo tempo. Outro Brasil.
Repassando outro dia no jornal as listas de livros mais vendidos, vi que nosso complexo de vira-lata continua ovante. Dos 10 mais, 9 são americanos e 1 é brasileiro. Não sei se lá fora também é assim. Como muitos países estão vivendo dias conturbados, imagino que, neles, o interesse pelos assuntos nacionais seja pelo menos equivalente ao fascínio pelas coisas dos EUA. A exemplo do Brasil de tempos mais nacionalistas.
Num jornal de 1964 que há pouco me caiu aos olhos, também havia uma lista de livros mais vendidos. Exceto por um ou outro sobre a Guerra Fria ou a fome na África, a maioria era de brasileiros. E, entre estes, um gênero então em voga: tratados “eruditos” sobre temas irrelevantes e vice-versa, com citações em latim, prefácios de gente séria e crítica feroz de tudo. Alguns: “A Ignorância ao Alcance de Todos” (1962), “O Puxa-Saquismo ao Alcance de Todos” (1963) e “Seja Você um Canibal” (1964), todos de Nestor de Hollanda, e “Tratado Geral dos Chatos” (1963), de Guilherme Figueiredo. Tenho-os até hoje, lidos, sublinhados e anotados.
Nestor de Hollanda (1921-1970) era radialista, humorista e comunista, mais ou menos nessa ordem. E Guilherme Figueiredo (1915-1997), um escritor respeitado, com largo trânsito no meio e dramaturgo levado à cena por Tonias, Procopios e Bibis (anos depois, para seu azar, seu irmão caçula, João Batista, seria o quinto presidente da ditadura).
“A Ignorância…” pregava a analfabetização compulsória do país, já que a alfabetização parecia impossível. “O Puxa-Saquismo…” era um manual da bajulação para políticos e populares. “Seja Você um Canibal” se compunha de receitas culinárias para levar ao fogo famosos e anônimos. E, “Tratado Geral…”, um guia para identificar, evitar e, se preciso, matar um eventual chato no nosso caminho.
Todos ficaram meses nas listas dos jornais e vários ao mesmo tempo. Outro Brasil.
sábado, janeiro 28
O jegue cego
Na Serra de Ibiapaba, numa das encostas mais altas, encontrei um jegue. Estava voltado para o lado leste e me pareceu que descortinava o panorama. Mas quando me aproximei, percebi que era cego!
Perguntei-lhe o que fazia nas encostas daquela serra. Ele me respondeu que sempre tivera vontade de ficar ali, parado, descortinando o panorama árido. Mas o homem não permitia que ele abandonasse o trabalho e se dirigisse àquele sítio. Só houve um meio de o homem deixá-lo ir: era tornando-se inútil. E ele se tornou cego e ali estava.
— Mas você não pode ver o panorama — eu lhe disse.
— Não tem importância — ele respondeu—, eu posso imaginá-lo.
Perguntei-lhe o que fazia nas encostas daquela serra. Ele me respondeu que sempre tivera vontade de ficar ali, parado, descortinando o panorama árido. Mas o homem não permitia que ele abandonasse o trabalho e se dirigisse àquele sítio. Só houve um meio de o homem deixá-lo ir: era tornando-se inútil. E ele se tornou cego e ali estava.
— Mas você não pode ver o panorama — eu lhe disse.
— Não tem importância — ele respondeu—, eu posso imaginá-lo.
Oswaldo França Júnior
Carta ao Futuro
O que há a redimir é a adequação deste milagre brutal de nos sabermos uma evidência iluminada, de nos sentirmos este ser que é vivo, se reconhece único no corpo que é ele, na lúcida realidade que o preenche, o identifica nas mãos que prendem, na boca que mastiga, nos pés que firmam, de nos descobrirmos como uma entidade plena, indispensável, porque ela é de si mesma um mundo único, porque tudo existe através dela e é impossível que esse tudo deixe de existir, porque ela irrompe de nós como a pura manifestação de ser, e o «ser» é a única realidade pensável — o que há a redimir é a adequação desta fantástica evidência que nos cega e a certeza de que ela está prometida à morte, de que o seu destino é a impossível e absoluta certeza do não-ser, da pura ausência, da totalidade nula, da pura irrealidade. Colaborar com a vida, aceitar a validade de uma norma, forjar uma regra para a distribuição da nossa acção e interesse - sim. Mas é impossível, antes disso, desviarmos os nossos olhos da fascinação da vertigem , e vermos , vermos bem, de que fundas raízes gostaríamos de entender tudo quando realizássemos. É uma tentativa absurda , meu amigo, toda a gente no-lo diz - toda a gente que desconhece essa força que nos fascina. Mas eu sei que só se é homem , plenamente , quando se sabe . A escala de tudo quanto povoa a terra estabelece-se-nos aí, no saber. A ilusão da plenitude , a ficção de uma quotidiana divindade, essa que se define por uma certa instalação na permanência, forja-se apenas de uma inconsciência animal. Somos homens, não somos deuses nem pedras. Se a grandeza que nos coube foi essa ao menos de saber , conquistemo-la até onde , nos limites das evidências primeiras , ela se nos anuncia. E se o "absurdo" é a face desses limites , assumamo-lo como quem não rejeita nada do que é ainda nós próprios. A cobardia não está em assumir esses limites , mas em recusá-los , como o não está em reconhecer uma doença, mas em não fitá-la de frente. Só se é justo, »corajoso, pela assunção consciente do que nos ameaça e por isso o bruto não é heróico. O "para quê" que nos antepõem todos os homens sensatos implica um programa utilitário de todo o instinto prático e animal. Mas nós , contra tudo o que povoa a terra, temos o fulminante poder de sabermos quem somos. É aí que cabe a nossa interrogação, fascinante e sem limite.
Vergílio Ferreira, "Carta ao Futuro"
Vergílio Ferreira, "Carta ao Futuro"
sexta-feira, janeiro 27
Gide no armário
Minha empregada entra no escritório para espanar as estantes. É uma mulher silenciosa e digna, que parece invisível. De repente, dou com ela a me observar pelas costas. “O senhor olha para o computador como se estivesse em uma janela”, me diz. “Parece que vê alguma coisa muito distante. O que é?”
Em uma pergunta, ela capturou a grande agonia dos que escrevem. Que ideias atormentam os escritores enquanto eles trabalham? Antes de sair do armário com a obra pronta, no longo período que precede a exposição do texto à luz do dia, que visões os atormentam?
Que aconteceria se, nos intervalos da batalha, os escritores anotassem em um caderno as experiência da luta? Em Os moedeiros falsos, um dos mais importantes romances de André Gide, o personagem-escritor, Édouard, registra em um caderno a crítica precoce do romance que está a escrever – chamado, justamente, Os moedeiros falsos.
Escreve Édouard: “Imaginem o interesse que teria para nós semelhante caderno mantido por Dickens, ou Balzac. (...) A história da obra, de sua gestação!”. Ele mesmo se arrisca a responder: “Seria arrebatador... mais interessante que a própria obra”.
O lançamento da edição brasileira do Diário faz parte de um pacote quádruplo, que inclui, além de Os moedeiros falsos, outros dois importantes livros de Gide: os romances Os porões do Vaticano, de 1948, e o inédito O pombo-torcaz, então inédito.
Na parte final de seu diário, Gide relata um sonho que teve com Marcel Proust. Está na biblioteca de Proust, que o convidou para um chá. Proust só lhe aparece de costas, escondido pelas grandes orelhas da bergère. Surpreso, Gide nota que um barbante lhe prende as mãos. O longo fio atravessa a sala e se liga a dois livros nas prateleiras da biblioteca.
Não se controla: puxa o barbante com delicadeza mas determinação, até que dois livros despencam no chão. O barulho da queda interrompe uma história que Proust lhe contava. Não chegamos a saber de que história se trata, sabemos apenas que foi interrompida.
Proust se retira. Um mordomo entra na sala para recolocar os livros no lugar. Gide confessa: “Sabia que puxando o cordão eu os derrubaria, e o puxei assim mesmo. Foi mais forte do que eu”.
Não é por acaso que André Gide registra o sonho em seu Diário de trabalho. Na aparência, ele está deslocado, fora do lugar. Na verdade, carrega em seu coração aquilo de que, desde a primeira linha (o primeiro barbante de palavras), Gide tenta falar. Enquanto escreve, o escritor está sempre a manejar fios que não controla e a seguir instruções cuja origem lhe escapam.
Os fatos só interessam a um escritor se ele puder manipulá-los – como um fantoche com seus fios. Outra história ilustra bem isso. Em uma manhã do ano de 1921, Gide observa a vitrine de uma livraria de Paris. Vê um garoto que, atrapalhado, furta um livro. O menino aproveita um momento em que o vigia lhe dá as costas (do mesmo modo que Proust dá as costas a Gide) e enfia o livro no bolso. Ato contínuo, percebe que um estranho, à distância, o observa.
Com medo de ser denunciado, o garoto recoloca o livro em seu lugar. Comovido, Gide se aproxima e lhe pergunta que livro tentava roubar. “Um guia da Argélia. Mas custa caro demais.” O escritor lhe dá alguns francos para que o compre.
O garoto exibe seu livro, feliz. Para espanto de Gide, é uma edição de 1871. De cinquenta anos antes! “É velho à beça. Não lhe servirá”, o escritor comenta. O rapaz se surpreende: “Oh! Sim; tem os mapas. A mim o que mais me diverte é a geografia”. Não tentou roubar um guia de viagem. No interior do velho guia, guarda-se uma chave para o sonho, isto é, uma obra de ficção! Livros são máquinas de sonhar.
O escritor, diz Gide, navega dias a fio sem nada à vista. Escrever é atravessar essa “vertigem do espaço vazio”. Espaço disforme e sem sentido em que ele se engolfa. Durante a travessia, um escritor (qualquer escritor, eu mesmo) se parece com o Gide que, na biblioteca de Proust, em vez de ouvir as palavras do mestre ou de se deliciar com suas lições, prefere – imitando uma criança travessa – derrubar dois livros no chão.
Foi o que minha empregada percebeu quando me viu olhando “através” da tela do computador. Eu não olhava as palavras. Não revia o texto ou assinalava correções. Não pensava no estilo ou na sintaxe – nenhuma dessas questões técnicas que, em geral, supomos que atormentam os escritores. Eu experimentava minha pequena vertigem.
Buscava fios (barbantes) que segurassem o sujeito disperso e inquieto que sou. Até que, finalmente, comecei a escrever. O resultado é esse pequeno texto que agora vocês leem. Não é grande coisa, mas é isso.
“Escritores são navegadores de cabotagem que acreditam estar perdidos”, diz Gide. São homens, diz ainda, que decidem “tomar deliberadamente o partido de sua estranheza”. Minha empregada soube ver isso em mim. Não julgou que eu estivesse blefando ou fazendo pose, tampouco que estivesse louco.
Por isso escritores estão quase sempre sozinhos. Não é fácil forçar as portas de seu armário interior. Estão sempre afastados, inclusive, da parca sabedoria que, a duras penas, acumularam. Distante, inclusive, de si mesmos. Anota Gide: “Nunca aproveitar o impulso já adquirido – tal é a regra do meu jogo”.
José Castello, "Sábados inquietos"
Em uma pergunta, ela capturou a grande agonia dos que escrevem. Que ideias atormentam os escritores enquanto eles trabalham? Antes de sair do armário com a obra pronta, no longo período que precede a exposição do texto à luz do dia, que visões os atormentam?
Que aconteceria se, nos intervalos da batalha, os escritores anotassem em um caderno as experiência da luta? Em Os moedeiros falsos, um dos mais importantes romances de André Gide, o personagem-escritor, Édouard, registra em um caderno a crítica precoce do romance que está a escrever – chamado, justamente, Os moedeiros falsos.
Escreve Édouard: “Imaginem o interesse que teria para nós semelhante caderno mantido por Dickens, ou Balzac. (...) A história da obra, de sua gestação!”. Ele mesmo se arrisca a responder: “Seria arrebatador... mais interessante que a própria obra”.
Pois, enquanto escrevia Os moedeiros falsos, o próprio André Gide seguiu o procedimento sugerido por seu personagem. O resultado, Diário dos Moedeiros falsos (Estação Liberdade, tradução de Mário Laranjeira), confirma a impressão de Édouard. Ou será o contrário?
O lançamento da edição brasileira do Diário faz parte de um pacote quádruplo, que inclui, além de Os moedeiros falsos, outros dois importantes livros de Gide: os romances Os porões do Vaticano, de 1948, e o inédito O pombo-torcaz, então inédito.
Na parte final de seu diário, Gide relata um sonho que teve com Marcel Proust. Está na biblioteca de Proust, que o convidou para um chá. Proust só lhe aparece de costas, escondido pelas grandes orelhas da bergère. Surpreso, Gide nota que um barbante lhe prende as mãos. O longo fio atravessa a sala e se liga a dois livros nas prateleiras da biblioteca.
Não se controla: puxa o barbante com delicadeza mas determinação, até que dois livros despencam no chão. O barulho da queda interrompe uma história que Proust lhe contava. Não chegamos a saber de que história se trata, sabemos apenas que foi interrompida.
Proust se retira. Um mordomo entra na sala para recolocar os livros no lugar. Gide confessa: “Sabia que puxando o cordão eu os derrubaria, e o puxei assim mesmo. Foi mais forte do que eu”.
Não é por acaso que André Gide registra o sonho em seu Diário de trabalho. Na aparência, ele está deslocado, fora do lugar. Na verdade, carrega em seu coração aquilo de que, desde a primeira linha (o primeiro barbante de palavras), Gide tenta falar. Enquanto escreve, o escritor está sempre a manejar fios que não controla e a seguir instruções cuja origem lhe escapam.
Os fatos só interessam a um escritor se ele puder manipulá-los – como um fantoche com seus fios. Outra história ilustra bem isso. Em uma manhã do ano de 1921, Gide observa a vitrine de uma livraria de Paris. Vê um garoto que, atrapalhado, furta um livro. O menino aproveita um momento em que o vigia lhe dá as costas (do mesmo modo que Proust dá as costas a Gide) e enfia o livro no bolso. Ato contínuo, percebe que um estranho, à distância, o observa.
Com medo de ser denunciado, o garoto recoloca o livro em seu lugar. Comovido, Gide se aproxima e lhe pergunta que livro tentava roubar. “Um guia da Argélia. Mas custa caro demais.” O escritor lhe dá alguns francos para que o compre.
O garoto exibe seu livro, feliz. Para espanto de Gide, é uma edição de 1871. De cinquenta anos antes! “É velho à beça. Não lhe servirá”, o escritor comenta. O rapaz se surpreende: “Oh! Sim; tem os mapas. A mim o que mais me diverte é a geografia”. Não tentou roubar um guia de viagem. No interior do velho guia, guarda-se uma chave para o sonho, isto é, uma obra de ficção! Livros são máquinas de sonhar.
O episódio me remete a uma observação que André Gide anota durante uma temporada de descanso em Dudelange: “Às voltas com nuvens por horas a fio. Este esforço de projetar para fora uma criação interior, de objetivar o sujeito (antes de sujeitar o objeto) é extenuante”. A anotação resume, de modo cru, as ideias que movem o Diário. O mais difícil não é a escrita, mas o trabalho interior que a precede e do qual ela não passa de um resto. Uma sobra (fezes?), que mal e porcamente registra aquilo que se perseguiu.
O escritor, diz Gide, navega dias a fio sem nada à vista. Escrever é atravessar essa “vertigem do espaço vazio”. Espaço disforme e sem sentido em que ele se engolfa. Durante a travessia, um escritor (qualquer escritor, eu mesmo) se parece com o Gide que, na biblioteca de Proust, em vez de ouvir as palavras do mestre ou de se deliciar com suas lições, prefere – imitando uma criança travessa – derrubar dois livros no chão.
Foi o que minha empregada percebeu quando me viu olhando “através” da tela do computador. Eu não olhava as palavras. Não revia o texto ou assinalava correções. Não pensava no estilo ou na sintaxe – nenhuma dessas questões técnicas que, em geral, supomos que atormentam os escritores. Eu experimentava minha pequena vertigem.
Buscava fios (barbantes) que segurassem o sujeito disperso e inquieto que sou. Até que, finalmente, comecei a escrever. O resultado é esse pequeno texto que agora vocês leem. Não é grande coisa, mas é isso.
“Escritores são navegadores de cabotagem que acreditam estar perdidos”, diz Gide. São homens, diz ainda, que decidem “tomar deliberadamente o partido de sua estranheza”. Minha empregada soube ver isso em mim. Não julgou que eu estivesse blefando ou fazendo pose, tampouco que estivesse louco.
Carinhosamente, soube ver minha pequena solidão.
Por isso escritores estão quase sempre sozinhos. Não é fácil forçar as portas de seu armário interior. Estão sempre afastados, inclusive, da parca sabedoria que, a duras penas, acumularam. Distante, inclusive, de si mesmos. Anota Gide: “Nunca aproveitar o impulso já adquirido – tal é a regra do meu jogo”.
José Castello, "Sábados inquietos"
A borboleta preta
No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra, e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera, e ri-me; entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudi-a, ela foi pousar na vidraça; e, porque eu sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai.
Era negra como a noite; e o gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho, uma espécie de ironia mefistofélica, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto; mas tornando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu.
Não caiu morta; ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me; tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado.
– Também por que diabo não era ela azul? disse eu comigo.
A ideia subjugou-a, aterrou-a; mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa, e ela beijou-me na testa.
Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e voou a pedir-lhe misericórdia.
Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, dois palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas! Porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul, ou cor de laranja, não teria mais segura a vida; não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio dos olhos.
Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação; uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo; aí vinham já as próvidas formigas…
Não, volto à primeira ideia; creio que para ela era melhor ter nascido azul.
Machado de Assis, "Memórias Póstumas de Brás Cubas"
Era negra como a noite; e o gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho, uma espécie de ironia mefistofélica, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto; mas tornando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu.
Não caiu morta; ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me; tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado.
– Também por que diabo não era ela azul? disse eu comigo.
E esta reflexão, – uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, – me consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver, com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. A manhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices, sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul, para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem; não sabia, portanto, o que era o homem; descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo, e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal.
Então disse consigo: “Este é provavelmente o inventor das borboletas.”
A ideia subjugou-a, aterrou-a; mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa, e ela beijou-me na testa.
Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e voou a pedir-lhe misericórdia.
Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, dois palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas! Porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul, ou cor de laranja, não teria mais segura a vida; não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio dos olhos.
Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação; uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo; aí vinham já as próvidas formigas…
Não, volto à primeira ideia; creio que para ela era melhor ter nascido azul.
Machado de Assis, "Memórias Póstumas de Brás Cubas"
Luz de lanterna, sopro de vento
Tendo o marido partido para a guerra, na primeira noite da sua ausência a mulher acendeu uma lanterna e pendurou-a do lado de fora da casa. “Para trazê-lo de volta”, murmurou. E foi dormir.
Mas, ao abrir a porta na manhã seguinte, deparou-se com a lanterna apagada. “Foi o vento da madrugada”, pensou olhando para o alto como se pudesse vê-lo soprar.
À noite, antes de deitar, novamente acendeu a lanterna que, a distância, haveria de indicar ao seu homem o caminho de casa.
Ventou de madrugada. Mas era tão tarde e ela estava tão cansada que nada ouviu, nem o farfalhar das árvores, nem o gemido das frestas, nem o ranger da argola da lanterna. E de manhã surpreendeu-se ao encontrar a luz apagada.
Naquela noite, antes de acender a lanterna, demorou-se estudando o céu límpido, as claras estrelas. “Na certa não ventará”, disse em voz alta, quase dando uma ordem. E encostou a chama do fósforo no pavio.
Se ventou ou não, ela não saberia dizer. Mas antes que o dia raiasse não havia mais nenhuma luz, a casa desaparecia nas trevas.
Assim foi durante muitos e muitos dias, a mulher sem nunca desistir acendendo a lanterna que o vento, com igual constância, apagava.
Talvez meses tivessem passado quando num entardecer, ao acender a lanterna, a mulher viu ao longe, recortada contra a luz que lanhava em sangue no horizonte, a escura silhueta de um homem a cavalo. Um homem a cavalo que galopava na sua direção.
Aos poucos, apertando os olhos para ver melhor, distinguiu a lança erguida ao lado da sela, os duros contornos da couraça. Era um soldado que vinha. Seu coração hesitou entre o medo e a esperança. O fôlego se reteve por instantes entre os lábios abertos. E já podia ouvir os cascos batendo sobre a terra, quando começou a sorrir. Era seu marido que vinha.
Apeou o marido. Mas só com um braço rodeou- -lhe os ombros. A outra mão pousou na empunhadura da espada. Nem fez menção de encaminhar-se para a casa.
Que não se iludisse. A guerra não havia acabado. Sequer havia acabado a batalha que deixara pela manhã. Coberto de poeira e sangue, ainda assim não havia vindo para ficar. “Vim porque a luz que você acende à noite não me deixa dormir”, disse-lhe quase ríspido. “Brilha por trás das minhas pálpebras fechadas, como se me chamasse. Só de madrugada, depois que o vento sopra, posso adormecer.”
A mulher nada disse. Nada pediu. Encostou a mão no peito do marido, mas o coração dele parecia distante, protegido pelo couro da couraça. “Deixe-me fazer o que tem que ser feito, mulher”, disse sem beijá-la. De um sopro apagou a lanterna. Montou a cavalo, partiu. Adensavam-se as sombras, e ela não pôde sequer vê-lo afastar-se recortado contra o céu.
A partir daquela noite, a mulher não acendeu mais nenhuma luz. Nem mesmo a vela dentro de casa, não fosse a chama acender-se por trás das pálpebras do marido.
No escuro, as noites se consumiam rápidas. E com elas carregavam os dias, que a mulher nem contava. Sem saber ao certo quanto tempo havia passado, ela sabia porém que era tanto.
E, passado outro tanto, num final de tarde em que à soleira da porta despedia-se da última luz do horizonte, viu desenhar-se lá longe a silhueta de um homem. Um homem a pé que caminhava na sua direção. Protegeu os olhos com a mão para ver melhor e aos poucos, porque o homem avançava devagar, começou a distinguir a cabeça baixa, o contorno dos ombros cansados. Contorno doce, sem couraça. Hesitou seu coração, retendo o sorriso nos lábios — tantos homens haviam passado sem que nenhum fosse o que ela esperava. Ainda não podia ver-lhe o rosto, oculto entre barba e chapéu, quando deu o primeiro passo e correu ao seu encontro, liberando o coração. Era seu marido que voltava da guerra.
Não precisou perguntar-lhe se havia vindo para ficar. Caminharam até a casa. Já iam entrar, quando ele se reteve. Sem pressa voltou-se, e, embora a noite ainda não tivesse chegado, acendeu a lanterna. Só então entrou com a mulher. E fechou a porta.
Marina Colasanti, "Um espinho de marfim e outras histórias"
Mas, ao abrir a porta na manhã seguinte, deparou-se com a lanterna apagada. “Foi o vento da madrugada”, pensou olhando para o alto como se pudesse vê-lo soprar.
À noite, antes de deitar, novamente acendeu a lanterna que, a distância, haveria de indicar ao seu homem o caminho de casa.
Ventou de madrugada. Mas era tão tarde e ela estava tão cansada que nada ouviu, nem o farfalhar das árvores, nem o gemido das frestas, nem o ranger da argola da lanterna. E de manhã surpreendeu-se ao encontrar a luz apagada.
Naquela noite, antes de acender a lanterna, demorou-se estudando o céu límpido, as claras estrelas. “Na certa não ventará”, disse em voz alta, quase dando uma ordem. E encostou a chama do fósforo no pavio.
Se ventou ou não, ela não saberia dizer. Mas antes que o dia raiasse não havia mais nenhuma luz, a casa desaparecia nas trevas.
Assim foi durante muitos e muitos dias, a mulher sem nunca desistir acendendo a lanterna que o vento, com igual constância, apagava.
Talvez meses tivessem passado quando num entardecer, ao acender a lanterna, a mulher viu ao longe, recortada contra a luz que lanhava em sangue no horizonte, a escura silhueta de um homem a cavalo. Um homem a cavalo que galopava na sua direção.
Aos poucos, apertando os olhos para ver melhor, distinguiu a lança erguida ao lado da sela, os duros contornos da couraça. Era um soldado que vinha. Seu coração hesitou entre o medo e a esperança. O fôlego se reteve por instantes entre os lábios abertos. E já podia ouvir os cascos batendo sobre a terra, quando começou a sorrir. Era seu marido que vinha.
Apeou o marido. Mas só com um braço rodeou- -lhe os ombros. A outra mão pousou na empunhadura da espada. Nem fez menção de encaminhar-se para a casa.
Que não se iludisse. A guerra não havia acabado. Sequer havia acabado a batalha que deixara pela manhã. Coberto de poeira e sangue, ainda assim não havia vindo para ficar. “Vim porque a luz que você acende à noite não me deixa dormir”, disse-lhe quase ríspido. “Brilha por trás das minhas pálpebras fechadas, como se me chamasse. Só de madrugada, depois que o vento sopra, posso adormecer.”
A mulher nada disse. Nada pediu. Encostou a mão no peito do marido, mas o coração dele parecia distante, protegido pelo couro da couraça. “Deixe-me fazer o que tem que ser feito, mulher”, disse sem beijá-la. De um sopro apagou a lanterna. Montou a cavalo, partiu. Adensavam-se as sombras, e ela não pôde sequer vê-lo afastar-se recortado contra o céu.
A partir daquela noite, a mulher não acendeu mais nenhuma luz. Nem mesmo a vela dentro de casa, não fosse a chama acender-se por trás das pálpebras do marido.
No escuro, as noites se consumiam rápidas. E com elas carregavam os dias, que a mulher nem contava. Sem saber ao certo quanto tempo havia passado, ela sabia porém que era tanto.
E, passado outro tanto, num final de tarde em que à soleira da porta despedia-se da última luz do horizonte, viu desenhar-se lá longe a silhueta de um homem. Um homem a pé que caminhava na sua direção. Protegeu os olhos com a mão para ver melhor e aos poucos, porque o homem avançava devagar, começou a distinguir a cabeça baixa, o contorno dos ombros cansados. Contorno doce, sem couraça. Hesitou seu coração, retendo o sorriso nos lábios — tantos homens haviam passado sem que nenhum fosse o que ela esperava. Ainda não podia ver-lhe o rosto, oculto entre barba e chapéu, quando deu o primeiro passo e correu ao seu encontro, liberando o coração. Era seu marido que voltava da guerra.
Não precisou perguntar-lhe se havia vindo para ficar. Caminharam até a casa. Já iam entrar, quando ele se reteve. Sem pressa voltou-se, e, embora a noite ainda não tivesse chegado, acendeu a lanterna. Só então entrou com a mulher. E fechou a porta.
Marina Colasanti, "Um espinho de marfim e outras histórias"
quinta-feira, janeiro 26
Triste
Triste foi ninguém ter avisado o pato solitário no lago para onde foram todos. Foi você ter emprestado, entre tantos livros, justo aquele. Triste é a alegria do desavisado a um minuto de receber a notícia.
Tristes eram as fogueiras das festas de São João que um tio fazia: um fogo murcho, acanhado, produto de quatro lenhas desanimadas, que nem fumaça para arder os olhos soltavam. Como triste era sua desculpa: “fogo grande não, vai que bate um vento e leva fagulha ao canavial”.
Triste é sentir frio num país cinza e triste. De doer é ser adolescente e não receber correspondência. Ter de se levantar da cama ainda escuro. É não ouvir de ninguém “Feliz Natal” na noite de Natal. É quando chega o dia, depois de tantos anos, em que sua tia mais querida não te reconhece mais.
É perder a hora ao ver o rádio-relógio piscando a hora em que a luz faltou de madrugada. Um botão faltando na camisa preferida. A morte do seu cachorro, tristeza que se repete – com sorte – de 15 em 15 anos. Estudar onde pendurar o quadro e fazer um furo na parede da sala para em seguida se arrepender. Triste é um bar fechado. É o fim do Carnaval, nem que você nem ligue mais para Carnaval.
É alguém ficar rico e nada mais, apenas rico. É a lágrima de uma dor não física. É repetir de ano e ouvir as velhas piadas dos mesmos professores. São os passageiros olhando para o nada, disfarçando, buscando ignorar o pedinte no ônibus. É sair do banho e se dar conta de que deixou a toalha secando na área de serviço. Tristes são as folhas de rúcula, couve e alface jogadas na calçada no fim da feira.
É alguém perguntar “como vai fulana?”, sem saber que ela partiu (claro que fulana ter ido embora é mais triste, mas ter de explicar o motivo também é). Mais triste ainda é você mentir, dizendo que todos vão bem, obrigado.
Tristes são 78% das fotos nas carteiras de identidade. A bocada no doce que aciona a dor da cárie. São todos os domingos de noite, mesmo que você não tenha que trabalhar no dia seguinte. É uma passeata de cinco pessoas. Um 0 a 0 num estádio vazio. Triste é a risada de quem não entendeu a piada. O recado que você anotou com tanta pressa que não consegue ler o recado. São os palhaços sem nenhuma vocação. A pele marcada por uma tatuagem que não tem nada a ver com a pessoa.
Tem coisa mais triste que lojinha de rodoviária? Olhar-se no espelho e constatar que o corte de cabelo ficou ridículo? O silêncio no jantar do último dia de férias? Talvez só mesmo procurar, e não encontrar, uma foto sequer dos irmãos juntos.
Agora, triste, triste mesmo, é o fim do amor. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz – e eu sou doido de contradizer Vinicius de Moraes?
Cássio Zanatta
Tristes eram as fogueiras das festas de São João que um tio fazia: um fogo murcho, acanhado, produto de quatro lenhas desanimadas, que nem fumaça para arder os olhos soltavam. Como triste era sua desculpa: “fogo grande não, vai que bate um vento e leva fagulha ao canavial”.
Triste é sentir frio num país cinza e triste. De doer é ser adolescente e não receber correspondência. Ter de se levantar da cama ainda escuro. É não ouvir de ninguém “Feliz Natal” na noite de Natal. É quando chega o dia, depois de tantos anos, em que sua tia mais querida não te reconhece mais.
É perder a hora ao ver o rádio-relógio piscando a hora em que a luz faltou de madrugada. Um botão faltando na camisa preferida. A morte do seu cachorro, tristeza que se repete – com sorte – de 15 em 15 anos. Estudar onde pendurar o quadro e fazer um furo na parede da sala para em seguida se arrepender. Triste é um bar fechado. É o fim do Carnaval, nem que você nem ligue mais para Carnaval.
 |
| Pheona Kerr |
Tristíssimo é o pôr do sol do dia em que o Brasil é eliminado da Copa.
É alguém ficar rico e nada mais, apenas rico. É a lágrima de uma dor não física. É repetir de ano e ouvir as velhas piadas dos mesmos professores. São os passageiros olhando para o nada, disfarçando, buscando ignorar o pedinte no ônibus. É sair do banho e se dar conta de que deixou a toalha secando na área de serviço. Tristes são as folhas de rúcula, couve e alface jogadas na calçada no fim da feira.
É alguém perguntar “como vai fulana?”, sem saber que ela partiu (claro que fulana ter ido embora é mais triste, mas ter de explicar o motivo também é). Mais triste ainda é você mentir, dizendo que todos vão bem, obrigado.
Tristes são 78% das fotos nas carteiras de identidade. A bocada no doce que aciona a dor da cárie. São todos os domingos de noite, mesmo que você não tenha que trabalhar no dia seguinte. É uma passeata de cinco pessoas. Um 0 a 0 num estádio vazio. Triste é a risada de quem não entendeu a piada. O recado que você anotou com tanta pressa que não consegue ler o recado. São os palhaços sem nenhuma vocação. A pele marcada por uma tatuagem que não tem nada a ver com a pessoa.
Tem coisa mais triste que lojinha de rodoviária? Olhar-se no espelho e constatar que o corte de cabelo ficou ridículo? O silêncio no jantar do último dia de férias? Talvez só mesmo procurar, e não encontrar, uma foto sequer dos irmãos juntos.
Agora, triste, triste mesmo, é o fim do amor. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz – e eu sou doido de contradizer Vinicius de Moraes?
Cássio Zanatta
O verbo matar
Quem se espanta com o espetáculo de horror diversificado que o mundo de hoje oferece faria bem se tivesse o dicionário como livro de leitura diurna e noturna. Pois ali está, na letra M, a chave do temperamento homicida, que convive no homem com suas tendências angélicas, e convive em perfeita harmonia de namorados.
A ideia de matar é de tal modo inerente ao homem, que, à falta de atentados sanguinolentos a cometer, ele mata calmamente o tempo. Sua linguagem o trai. Por que não diz, nas horas de ócio e recreação ingênua, que está vivendo o tempo? Prefere matá-lo.
Todos os dias, mais de uma vez, matamos a fome, em vez de satisfazê-la. Não é preciso lembrar como um número infinito de pessoas perpetra essa morte: através da morte efetiva de rebanhos inteiros, praticada tecnicamente em lugar de horror industrial, denominado matadouro. Aí, matar já não é expressão metafórica: é matar mesmo.
O estudante que falta à classe confessa que matou a aula, o que implica matança do professor, da matéria e, consequentemente, de parte do seu acervo individual de conhecimento, morta antes de chegar a destino. No jogo mais intelectual que se conhece, pretende-se não apenas vencer o competidor, mas liquidá-lo pela aplicação de xeque-mate. Não admira que, nas discussões, o argumento mais poderoso se torne arma de fogo de grande eficácia letal: mata na cabeça.
Beber um gole no botequim, ato de aparência gratuita, confortador e pacificante, envolve sinistra conotação. É o mata-bicho, indiscriminado. E quantos bichos se matam, em pensamento, a cada instante! Até para definir as coisas naturais adotamos ponto de vista de morte violenta. Essa planta convolvulácea é apresentada por sua propriedade maléfica: mata-cabras. Nasceu para isso, para dizimar determinada espécie de mamíferos? Não. Assim a batizamos. Outra é mata-cachorro. Uma terceira, mata-cavalo, e o dicionarista acrescenta o requinte: “goza da fama de produzir frutos venenosos”. Certo peixe fluvial atende (ou devia atender) por mata-gato, como se pulasse d’água para caçar felinos por aí, ou se estes mergulhassem com intenção de ajustar contas com ele. Em Santa Catarina, o vento de inverno que sopra lá dos Andes é recebido com a exclamação: “Chegou o mata-baiano”.
Já não se usa, mas usou-se muito um processo de secar a tinta em cartas e documentos quaisquer: botar por cima um papel grosso, chupão, que se chamava mata-borrão e matava mesmo, sugando o sangue azul da vítima, qual vampiro de escritório.
A carreta necessita de correia de couro que una seu eixo ao leito. O nome que se arranjou para identificá-la, com sadismo, é mata-boi. Mata-cachorro não é só planta flacurtiácea, que acumula o título de mata-calado. É também alcunha de soldado de polícia estadual, e do pobre-diabo que, no circo, estende o tapete e prepara o picadeiro para a função.
Matar charadas constitui motivo de orgulho intelectual para o matador. Há um matador profissional, remunerado pelos cofres públicos: o mata-mosquito, que pouca gente conhece como guarda sanitário. Mata-junta? É a fasquia usada para vedar juntas entre tábuas. O sujeito vulgarmente conhecido como chato, ao repetir a mesma cantilena, “mata o bicho do ouvido”. Certa espécie de algodoeiro é mata-mineiro, certa árvore é matamatá, ninguém no interior ignora o que seja mata-burro, mata-cobra tanto é marimbondo como porrete e formiga. Ferida em lombo de animal chama-se matadura. Nosso admirável dedo polegar, só lhe reconhecem uma prestança: a de mata-piolhos.
Mandioca mata-negro. Peixe matante. Vegetal mata-olho. Mata-pulga, planta de que se fazem vassouras. Mata-rato, cigarro ordinário. Enfeites e atavios, meios especiais para atingir certos fins, são matadores. “Ela veio com todos os matadores” provoca admiração e êxtase. “Eunice com seus olhos matadores”, decassílabo de vítima jubilosa.
Se a linguagem espelha o homem, e se o homem adorna a linguagem com tais subpensamentos de matar, não admira que os atos de banditismo, a explosão intencional de aviões, o fuzilamento de reféns, o bombardeio aéreo de alvos residenciais, os pogroms, o napalm, as bombas A e H, a variada tragédia dos dias modernos se revele como afirmação cotidiana do lado perverso do ser humano. Admira é que existam a pesquisa de antibióticos, Cruz Vermelha Internacional, Mozart, o amor.
Carlos Drummond de Andrade, "De notícias e não notícias faz-se a crônica"
terça-feira, janeiro 24
Disse um campônio a sua amada
Se o dinheiro não bastar, eu aposto o coração. É uma moeda que também tem preço. Arranco do peito e fresco ainda jogo ele sobre a mesa para juntos ouvirmos as batidas de um órgão que me fez te amar desde a manhã até o anoitecer, para ao teu lado comover-me com as lágrimas que hás de derramar, sem dúvida, pelo meu sacrifício. Mas, se ainda assim achares que nem um coração despeja o sangue com que esperavas nutrir-te por muitos anos, podemos ir em busca de outras partes do meu corpo, não me importo que justamente você me tome os pedaços, não há ali o que já não te cedi adiantado.
E isto desde o primeiro dia em que te conheci. Veio-me então da boca um grunhido de raiva por conta da perdição com que teus olhos me ameaçavam. Primeiro fingindo não me ter visto, depois já não podendo mais disfarçar, ruborizou-se de modo a que tua inocência me envolvesse com fios de lã e arame. Senti-me um bucaneiro destronado, com algas e polvos nas mãos. Em ti eu enxergava ao mesmo tempo, e isto apesar das adversidades, um ombro amigo e um ninho onde esconder a cabeça das intempéries.
Não sei qual terá sido seu primeiro passo em falso. Sei que a mim mesmo proclamei imperativo que o inimigo era você e não eu. Pois não tem a criatura o direito de sucumbir ao que lhe arrasta a alma pelo chão sem ao menos resistir, usando para isto cota de ferro, gritando por socorro. Só porque lhe oferecem à porta uma vida de aventuras que excede aos próprios sonhos. A loteria do amor.
Se ela é a minha perdição, há de perder-se comigo, escrevi no bilhete que até hoje arrasto na carteira, para não esquecer. O papel desfaz-se entre os meus dedos do mesmo modo como evitas entregar-te às minhas mãos.
Desde o início tudo em mim organizava-se para uma paixão sem limites. O amor cravava- me ao solo, tinha ambições de viajar ao centro da terra. Obrigando-me a caçadas onde buscasse, além de bisões extintos, uma flora esquecida, um mundo mineral em abandono, os sentimentos enfim que as trevas e as normas proíbem. Ia o bem- querer me iluminando, enquanto este amor detonava a ordem das estações.
Com os olhos eu te dizia, seja bem-vinda à casa dos meus sentimentos, a esta casa secreta feita de sal, folhas, açúcar, cacos de vidro. Mas eu sabia das dificuldades. Todos os gestos e palavras fortes estavam proibidos. O teu próprio nome, enigma de ti mesma, escapava- me, era um dardo no meu corpo. E eu o seguia, como hoje ainda. Só para pronunciá-lo, que sua sonoridade ressoasse em mim. Uma vez que você é o território das coisas e das pessoas. E não identifico o que não cabe nos teus limites. Talvez por isso cerco-me de armas, já pelas manhãs, os teus cabelos sobre o travesseiro. Sei que és implacável, o teu objetivo é o centro do meu corpo. Ali acampas e ali transgrides. Exerces o poder de que necessitas. A vida ali está, e você bem sabe. Caminhas firmes, mastigas os obstáculos, em minha direção. Te suplico, não, não avances mais. Peço libera nos a malo, mas você é de uma geração que não aprendeu latim, nasceu com a missa traduzida para um português sem encanto, desprovido de magia, carvão e fogo.
Lembro-me de quando entraste no meu carro pela primeira vez, logo pediste a direção. Até então eu havia sido o timoneiro do próprio destino. Mas, o que querias, a velocidade, o desmando, ou a minha morte? A vista escureceu-me, solidário eu com a minha própria sorte. Felizmente, o calor da tua chegada devolveu-me a vida ao mesmo tempo. Eu me dizia, acaso morro e vivo unicamente para testemunhar um amor que se quero pronuncio seu nome, dou-lhe endereço, e junto seguirão flores?
E, no entanto, quanto mais te via, jamais te enxergava toda. Devia sempre completar o que faltava, uma vez que tanto havia que eu, sim, mal sabia onde encontrar-me. O passeio pelo teu corpo tornou- se o caminho da terra. Mal me refazia dos teus precipícios, e lá esbarrava contra os seios. Pequenos, sólidos, neles minhas mãos pousaram a primeira vez por muito tempo. Lembra-se? E quando depois de não sei quantos dias consumidos nesta travessia completei a coleção do teu rosto, que pelos detalhes ricos e luminosos compunham um dicionário, descobri ali faltar o verbete amor. Socorri-me rápido no Aurélio, que também não me salvou. O Mestre não te previra, amor. Desde, então, passei a te inventar com um direito conquistado por um corpo que se vem deixando ficar em pedaços pelo caminho.
Quantas vezes você me chama de selvagem. Embora hesite em enumerar as tribos brasileiras, por falha de memória, ou claudique o seu orgulho nacional. Agride-me com a certeza de que jamais receberá batismo cristão quem ainda mergulha nas entranhas maternas com o propósito de não esquecer a doçura do primeiro leite. Justamente este leite que me impulsiona a seguir-te pelas ruas, só para você se recordar que, pisando a terra, esta terra será em seguida decifrada pelos meus passos.
Quem sabe me chamas de selvagem porque te beijo como você quer, o que te impede de reclamar a própria custódia. E que culpa tenho, vamos, admita, ah, e sou selvagem ainda porque fecho os olhos bebendo champanha enquanto arrebatos verbais esgotam a última gota no cristal de vinte e três vibrações. Medito, então, ser selvagem para ela é um alívio, e para mim uma carga. Ou será para ela o retrato do seu amor, e a certeza do meu destino.
Claro que origino de uma montanha onde se apascentam ovelhas e cabras, sempre sob a proteção do cajado, maçãs, e do pão de milho, e enquanto dura a luz natural da terra. Posso pois arrancar meu coração para satisfazer a tua vaidade. E o que não faria para afirmar a tua beleza? Não quero dúvidas quando te olhes no espelho, este lago traiçoeiro que por mim dispensarias, para se consultar unicamente em meus olhos, amigos, sofredores, e mais velhos.
Você ri quando lhe asseguro ser a única referência do teu corpo. Meu corpo é meu corpo, diz você querendo falar, isto sim, domínio. Finjo não perceber, peço reconsideres, como admitir o próprio corpo se o meu não te confirma a pele, o gosto de sal, as pulsações da vida nos extremos nervosos, os olhos que se cerram com estremecimentos repentinos. Você resiste, não insista, não importa o que conquistes em mim no futuro, sou a única a avaliar a própria beleza, mesmo porque há muito você está perdido pelo amor. Não, não é pelo amor que me perdi, te enganas muito. Estou no mundo refazendo-me graças ao nascimento familiar. Sou de raça antiga, esta é a verdade, os nossos tonéis de carvalho abrigavam vinho tão espesso, que bastava bebê-lo para os lábios inscreverem na parede palavras imperecíveis. Entre nós a brincadeira era decifre e não me devore. Você ri dos meus exageros. Acusa de ser a fantasia o meu alimento, a forma de resistir ainda quando me querem queimar. Sempre urrei no meio da noite como um cão, divisando sombras mentirosas, apesar dos fios dourados do teu cabelo.
Esta paixão pela terra chegou-me com a límpida água da fonte, eu que a cuspia para limpar os dentes. O avô foi o primeiro a ensinar-me a perder partes do corpo com elegância, especialmente se justa fosse a causa. Dizia sorrindo que nem as emendas do destino podiam transformar um homem. Eu era de pedra e junco, devia assim ficar. Eu cedia-lhe o sorriso que o fizesse saber que havia compreendido. Com você, porém, é diferente. Rio temeroso de não rir na manhã seguinte. Embora teu rosto se ilumine quando pulo inesperadamente as janelas, corro ao seu encalço numa esquina distante da que havíamos combinado encontrar, quebro o vidro do teu carro, só para deixar-te bilhetes e gerânios, flor de pouca estima.
E beijando teus dentes impecáveis pergunto, onde está a minha alegria se da boca me vêm igualmente suspiros, palavras tristes aos borbulhões. Você não acredita, diz como pode ser triste quem amanhece amando vorazmente a terra. E é verdade, mesmo se te perco, a terra é minha, foi presente de berço. Tomo-a pelas manhãs no braço, para a terra e eu sentirmos os impulsos deste amor. Mas, não te entristeças, que te amo também, e tanto que o coração está à disposição, para o teu garfo e a tua faca, para o serviço de prata, para o sacrifício e o prazer, sei bem que a caminhada em tua companhia é longa e áspera.
Não pense que vou perder-te. Se você sair correndo, eu tomo o bonde e vou atrás. Todo meio de transporte é acessível ao amor. Só voltaria derrotado se você gritasse cansei de te amar. Nunca mais me verias. Ia me esconder atrás de um rio que te tivesse na outra margem. E ainda que falassem de teu nome, eu te pensaria morta, porque você me teria matado primeiro. E não adiantaria tocar-me o ombro cm tabernas amigas, onde o repasto uma vez foi comum a nós dois. Eu te olharia talvez, não poderia evitar que se fizesse a nossa história, mas desmancharia qualquer enredo pedindo licença para instalar-se, para todos os efeitos cu não havia estado na mesma sala, apesar do cheiro arrebatado do teu perfume que teimoso instalou-se cm minhas narinas.
Não ria, por favor, se me perderes uma vez, perderás para sempre. Eu nunca voltei igual para os objetos quebrados. Ajudo a reconstruí-los, para benefício de minha memória e de meu futuro, mas aos meus olhos são jarros enterrados na terra. Mas eu te tenho pensando em não perder-te. A minha paixão reconstitui a morte e a transfiguração. Uma falta de ar que deixa a memória entrar, quando necessita que a vida me invada.
Tudo me arde, sou uma sarça ardente. Então te arremeto bilhetes pelo correio, alguns seguem direto para o teu regaço, ali os deposito enquanto dormes. Penso, como sou leviano não cuidando do que escrevo se ela toma a si a tarefa de valorizá-los. Eu porém me descuido da escritura. Só cuido do amor, este sentimento carnívoro, gordo, de vísceras fartas, dentro cabem farinha, feijão, pimenta, lágrimas, ah, os teus beijos e o cheiro da agonia. Tenho vontade de furar com alfinete o balão do sentimento. Porque é uma esfera de gás, sabia? Sobrevoa os obstáculos da terra. Pois tudo é geografia. E não será o amor também um acidente geográfico, um istmo, um conjunto de ilhas a quem chamam península?
Ah, amor, não fique triste, que este mundo é todo teu, de todas as ilhas você é a mais bela, intransigente, cercada de amorosas silvestres. De rochedos difíceis, eu te vejo, como os de Dover, impecavelmente brancos. Eu passo perto como alado, dando-lhes bicadas, estralando os dentes, me desplumo, quero armar ninho e sou expulso. E você gargalha para o mar, porção generosa do teu signo.
Por natureza, você é amiga das águas, enquanto alio-me à terra. E sempre que ingênuo penso-te em terra firme, qual o quê, envias bilhete rabiscado sobre a líquida superfície da tua baía amada, e que jamais recebo.
Como ler a tua ortografia marítima, quando a palavra se forma de sonho, devaneio e infinita indecisão pelo futuro. O futuro é a tua obsessão. Eu me contento com o presente, ainda que mergulhe no passado para caçar algumas imagens que me cede ele em troca de alimentá-lo com as sobras mal vividas do dia de hoje. Só que não posso, sinto muito. Se recorro ao passado é para despertar pelas manhãs sem súplicas, quando teço um cotidiano de rendas, bordado, em que tudo cabe, nada dele seja expulso. Ao passado, vou sim, como a um cinema, vejo a fita, cada filme, ainda que o mesmo, parece-me sempre diferente. Aí decido viajar, emplumado e novo. Você irrita-se que eu desapareça cumprindo fielmente a minha palavra de ausentar-me tantos dias. Não regresso senão no prazo determinado. Não quero jamais que você desconfie de minha palavra. Apesar de líquida, e nadar exaustivamente nos fins de semana, você anseia pelas coisas firmes, quer sejam pedras, casa, tijolo, ou o olhar direto que surpreendes em mim.
Você finge não ligar quando te traem, te mentem. Diz, a vida é assim mesmo, acaso não sou adulta para compreender, acaso não traí e escarrei em rostos incautos? A verdade é que você quer o meu peito rasgado todas as noites, pela alegria de ver-me em brasa, certa de que o seu barco ancorado em mim vê a palavra minha cumprir-se. Exiges de mim muito mais que confessas. Eu te entendo, me queres padecendo em troca da segurança. Deste modo, disponho- me ao sacrifício, para modelar o leito em que repousarás aliviada. E talvez porque devas aprender a sofrer enquanto choro. Não me chame de mesquinho. Afinal, você quis diluir os meus sentimentos, fez-me crer que eles ocupam modestos aposentos da casa, sem direito ao teu salão, onde me ofereçam o cafezinho.
E, no entanto, basta que me olhes com esta mirada de mel, com que as abelhas te regalaram visando à corrupção, e com a qual nutres c envenenas ao mesmo tempo, para que te siga e admire. Como me fascina este poder que me faz buscar as vitrines que vendem pedaços de minha alma. Quero a perdição que só você me assegura. Da qual emerjo com a volúpia de te decifrar. O que há com o amor primaveril que o verão espreme entre os dedos? Sob o império da tua inocência, alimento-me ao longo da semana.
Ana acusa-nos de sermos criaturas da caverna simulando elegância. O certo é que o amor impõe excessos, assim não indagues até quando existiremos um para o outro. Assusta-me esta luz filtrada pelo sol. Não consigo ver à distância, para te responder. Intuo que esta ânsia de mutilar pedaços do corpo, como prova de amor, corresponde à incerteza do dia de amanhã. Um amor ferido combatendo os anos.
Às vezes, abandonas a terra firme a nado. Suplico então que voltes, não vês que sou o único a alimentar o teu grande sonho. A trovoada traça o roteiro de nossas almas, a chuva sempre foi delicada conosco. Será que a tua vigília é para não perder o amor que consideras delicado, o arrebato que nos obriga a madrugarmos, e nos levará à queda final?
Jogamos com a dor, ambos sabendo que a tua sombra há de soterrar-me por muito tempo. Meus escombros te seguirão ainda que vivas num palácio de cristal, de cristal para que passando ao largo eu te enxergue através da transparência mantida a álcool e algodão. Como contrariar este seu riso de medo? Se você quiser o coração, em pedaços que seja, eu te oferto. Lamento que brinques com um rosto que na quarta-feira será uma terna lembrança.
Quando me ameaçaste deixar, eu te escrevi. Todas as palavras incluí na carta. Não cuidei de corrigir o estilo. O estilo não é o homem, é a sua dor. Deixei-a na casa de Ana, portadora do meu agravo até o teu peito. Em casa, aboli os roteiros que me levariam a você. E vigiava-me para ter orgulho. Até que rasguei as cordas com os dentes e exigi de Ana a carta de volta. Quero o pergaminho, o texto morreu, por muito tempo as palavras não terão sentido. E disse lhe, aceitas o tesouro do meu apartamento, constituído da acquavit com que ela e eu forjamos fantasias? E que nos amamentou por uma estação, e qual terá sido, meu Deus?
Ana pediu paciência, a carta por si solucionaria o amor desastroso. E recusou o fel da bebida que celebrou o sentimento humano. Foi então que no meu destino de camponês consenti que a garrafa ficasse no apartamento, para testemunhar esta carta.
Não sei onde você está agora, daí te propor o coração. Você diz que volta, acho porém que está a nadar em qualquer enseada, com veleiro à distância. Ah, sempre me faltou carta marítima com que medir os anseios das tuas correntes atlânticas. Como imaginar para onde segue quem usa braços e pernas para fugir, e recusa as árvores e as dunas humanas, o nosso silêncio. Amanhã é sexta-feira, talvez regresses para tomar meu coração. Como das outras vezes. Só que a cada volta tua, e sempre que te oferto o coração, sinto que te tenho como se te perdesse. Tenho-te apenas o tempo de acostumar-me a perder-te para sempre. Assim, te faço discreto pedido, não me arraste contigo quando te fores. Ou não me aceites, ainda que te peça para seguir o teu caminho. Não quero despojar-me de um coração que te ofereci com tanta opu- lência. Mas, se o quiseres realmente levar contigo, deixes ao menos algumas de suas fibras em minha casa. Com elas apenas hei de encontrar um outro retrato vivo que, sem me desprover, há de me fazer derramar lágrimas de alegria, enquanto eu lhe esteja propondo os últimos pedaços de coração que meu corpo sedento de amor ainda produzirá.
Do teu camponês que se despede sem saber que é para sempre.
E isto desde o primeiro dia em que te conheci. Veio-me então da boca um grunhido de raiva por conta da perdição com que teus olhos me ameaçavam. Primeiro fingindo não me ter visto, depois já não podendo mais disfarçar, ruborizou-se de modo a que tua inocência me envolvesse com fios de lã e arame. Senti-me um bucaneiro destronado, com algas e polvos nas mãos. Em ti eu enxergava ao mesmo tempo, e isto apesar das adversidades, um ombro amigo e um ninho onde esconder a cabeça das intempéries.
Não sei qual terá sido seu primeiro passo em falso. Sei que a mim mesmo proclamei imperativo que o inimigo era você e não eu. Pois não tem a criatura o direito de sucumbir ao que lhe arrasta a alma pelo chão sem ao menos resistir, usando para isto cota de ferro, gritando por socorro. Só porque lhe oferecem à porta uma vida de aventuras que excede aos próprios sonhos. A loteria do amor.
Se ela é a minha perdição, há de perder-se comigo, escrevi no bilhete que até hoje arrasto na carteira, para não esquecer. O papel desfaz-se entre os meus dedos do mesmo modo como evitas entregar-te às minhas mãos.
Desde o início tudo em mim organizava-se para uma paixão sem limites. O amor cravava- me ao solo, tinha ambições de viajar ao centro da terra. Obrigando-me a caçadas onde buscasse, além de bisões extintos, uma flora esquecida, um mundo mineral em abandono, os sentimentos enfim que as trevas e as normas proíbem. Ia o bem- querer me iluminando, enquanto este amor detonava a ordem das estações.
Com os olhos eu te dizia, seja bem-vinda à casa dos meus sentimentos, a esta casa secreta feita de sal, folhas, açúcar, cacos de vidro. Mas eu sabia das dificuldades. Todos os gestos e palavras fortes estavam proibidos. O teu próprio nome, enigma de ti mesma, escapava- me, era um dardo no meu corpo. E eu o seguia, como hoje ainda. Só para pronunciá-lo, que sua sonoridade ressoasse em mim. Uma vez que você é o território das coisas e das pessoas. E não identifico o que não cabe nos teus limites. Talvez por isso cerco-me de armas, já pelas manhãs, os teus cabelos sobre o travesseiro. Sei que és implacável, o teu objetivo é o centro do meu corpo. Ali acampas e ali transgrides. Exerces o poder de que necessitas. A vida ali está, e você bem sabe. Caminhas firmes, mastigas os obstáculos, em minha direção. Te suplico, não, não avances mais. Peço libera nos a malo, mas você é de uma geração que não aprendeu latim, nasceu com a missa traduzida para um português sem encanto, desprovido de magia, carvão e fogo.
Lembro-me de quando entraste no meu carro pela primeira vez, logo pediste a direção. Até então eu havia sido o timoneiro do próprio destino. Mas, o que querias, a velocidade, o desmando, ou a minha morte? A vista escureceu-me, solidário eu com a minha própria sorte. Felizmente, o calor da tua chegada devolveu-me a vida ao mesmo tempo. Eu me dizia, acaso morro e vivo unicamente para testemunhar um amor que se quero pronuncio seu nome, dou-lhe endereço, e junto seguirão flores?
E, no entanto, quanto mais te via, jamais te enxergava toda. Devia sempre completar o que faltava, uma vez que tanto havia que eu, sim, mal sabia onde encontrar-me. O passeio pelo teu corpo tornou- se o caminho da terra. Mal me refazia dos teus precipícios, e lá esbarrava contra os seios. Pequenos, sólidos, neles minhas mãos pousaram a primeira vez por muito tempo. Lembra-se? E quando depois de não sei quantos dias consumidos nesta travessia completei a coleção do teu rosto, que pelos detalhes ricos e luminosos compunham um dicionário, descobri ali faltar o verbete amor. Socorri-me rápido no Aurélio, que também não me salvou. O Mestre não te previra, amor. Desde, então, passei a te inventar com um direito conquistado por um corpo que se vem deixando ficar em pedaços pelo caminho.
Quantas vezes você me chama de selvagem. Embora hesite em enumerar as tribos brasileiras, por falha de memória, ou claudique o seu orgulho nacional. Agride-me com a certeza de que jamais receberá batismo cristão quem ainda mergulha nas entranhas maternas com o propósito de não esquecer a doçura do primeiro leite. Justamente este leite que me impulsiona a seguir-te pelas ruas, só para você se recordar que, pisando a terra, esta terra será em seguida decifrada pelos meus passos.
Quem sabe me chamas de selvagem porque te beijo como você quer, o que te impede de reclamar a própria custódia. E que culpa tenho, vamos, admita, ah, e sou selvagem ainda porque fecho os olhos bebendo champanha enquanto arrebatos verbais esgotam a última gota no cristal de vinte e três vibrações. Medito, então, ser selvagem para ela é um alívio, e para mim uma carga. Ou será para ela o retrato do seu amor, e a certeza do meu destino.
Claro que origino de uma montanha onde se apascentam ovelhas e cabras, sempre sob a proteção do cajado, maçãs, e do pão de milho, e enquanto dura a luz natural da terra. Posso pois arrancar meu coração para satisfazer a tua vaidade. E o que não faria para afirmar a tua beleza? Não quero dúvidas quando te olhes no espelho, este lago traiçoeiro que por mim dispensarias, para se consultar unicamente em meus olhos, amigos, sofredores, e mais velhos.
Você ri quando lhe asseguro ser a única referência do teu corpo. Meu corpo é meu corpo, diz você querendo falar, isto sim, domínio. Finjo não perceber, peço reconsideres, como admitir o próprio corpo se o meu não te confirma a pele, o gosto de sal, as pulsações da vida nos extremos nervosos, os olhos que se cerram com estremecimentos repentinos. Você resiste, não insista, não importa o que conquistes em mim no futuro, sou a única a avaliar a própria beleza, mesmo porque há muito você está perdido pelo amor. Não, não é pelo amor que me perdi, te enganas muito. Estou no mundo refazendo-me graças ao nascimento familiar. Sou de raça antiga, esta é a verdade, os nossos tonéis de carvalho abrigavam vinho tão espesso, que bastava bebê-lo para os lábios inscreverem na parede palavras imperecíveis. Entre nós a brincadeira era decifre e não me devore. Você ri dos meus exageros. Acusa de ser a fantasia o meu alimento, a forma de resistir ainda quando me querem queimar. Sempre urrei no meio da noite como um cão, divisando sombras mentirosas, apesar dos fios dourados do teu cabelo.
Esta paixão pela terra chegou-me com a límpida água da fonte, eu que a cuspia para limpar os dentes. O avô foi o primeiro a ensinar-me a perder partes do corpo com elegância, especialmente se justa fosse a causa. Dizia sorrindo que nem as emendas do destino podiam transformar um homem. Eu era de pedra e junco, devia assim ficar. Eu cedia-lhe o sorriso que o fizesse saber que havia compreendido. Com você, porém, é diferente. Rio temeroso de não rir na manhã seguinte. Embora teu rosto se ilumine quando pulo inesperadamente as janelas, corro ao seu encalço numa esquina distante da que havíamos combinado encontrar, quebro o vidro do teu carro, só para deixar-te bilhetes e gerânios, flor de pouca estima.
E beijando teus dentes impecáveis pergunto, onde está a minha alegria se da boca me vêm igualmente suspiros, palavras tristes aos borbulhões. Você não acredita, diz como pode ser triste quem amanhece amando vorazmente a terra. E é verdade, mesmo se te perco, a terra é minha, foi presente de berço. Tomo-a pelas manhãs no braço, para a terra e eu sentirmos os impulsos deste amor. Mas, não te entristeças, que te amo também, e tanto que o coração está à disposição, para o teu garfo e a tua faca, para o serviço de prata, para o sacrifício e o prazer, sei bem que a caminhada em tua companhia é longa e áspera.
Não pense que vou perder-te. Se você sair correndo, eu tomo o bonde e vou atrás. Todo meio de transporte é acessível ao amor. Só voltaria derrotado se você gritasse cansei de te amar. Nunca mais me verias. Ia me esconder atrás de um rio que te tivesse na outra margem. E ainda que falassem de teu nome, eu te pensaria morta, porque você me teria matado primeiro. E não adiantaria tocar-me o ombro cm tabernas amigas, onde o repasto uma vez foi comum a nós dois. Eu te olharia talvez, não poderia evitar que se fizesse a nossa história, mas desmancharia qualquer enredo pedindo licença para instalar-se, para todos os efeitos cu não havia estado na mesma sala, apesar do cheiro arrebatado do teu perfume que teimoso instalou-se cm minhas narinas.
Não ria, por favor, se me perderes uma vez, perderás para sempre. Eu nunca voltei igual para os objetos quebrados. Ajudo a reconstruí-los, para benefício de minha memória e de meu futuro, mas aos meus olhos são jarros enterrados na terra. Mas eu te tenho pensando em não perder-te. A minha paixão reconstitui a morte e a transfiguração. Uma falta de ar que deixa a memória entrar, quando necessita que a vida me invada.
Tudo me arde, sou uma sarça ardente. Então te arremeto bilhetes pelo correio, alguns seguem direto para o teu regaço, ali os deposito enquanto dormes. Penso, como sou leviano não cuidando do que escrevo se ela toma a si a tarefa de valorizá-los. Eu porém me descuido da escritura. Só cuido do amor, este sentimento carnívoro, gordo, de vísceras fartas, dentro cabem farinha, feijão, pimenta, lágrimas, ah, os teus beijos e o cheiro da agonia. Tenho vontade de furar com alfinete o balão do sentimento. Porque é uma esfera de gás, sabia? Sobrevoa os obstáculos da terra. Pois tudo é geografia. E não será o amor também um acidente geográfico, um istmo, um conjunto de ilhas a quem chamam península?
Ah, amor, não fique triste, que este mundo é todo teu, de todas as ilhas você é a mais bela, intransigente, cercada de amorosas silvestres. De rochedos difíceis, eu te vejo, como os de Dover, impecavelmente brancos. Eu passo perto como alado, dando-lhes bicadas, estralando os dentes, me desplumo, quero armar ninho e sou expulso. E você gargalha para o mar, porção generosa do teu signo.
Por natureza, você é amiga das águas, enquanto alio-me à terra. E sempre que ingênuo penso-te em terra firme, qual o quê, envias bilhete rabiscado sobre a líquida superfície da tua baía amada, e que jamais recebo.
Como ler a tua ortografia marítima, quando a palavra se forma de sonho, devaneio e infinita indecisão pelo futuro. O futuro é a tua obsessão. Eu me contento com o presente, ainda que mergulhe no passado para caçar algumas imagens que me cede ele em troca de alimentá-lo com as sobras mal vividas do dia de hoje. Só que não posso, sinto muito. Se recorro ao passado é para despertar pelas manhãs sem súplicas, quando teço um cotidiano de rendas, bordado, em que tudo cabe, nada dele seja expulso. Ao passado, vou sim, como a um cinema, vejo a fita, cada filme, ainda que o mesmo, parece-me sempre diferente. Aí decido viajar, emplumado e novo. Você irrita-se que eu desapareça cumprindo fielmente a minha palavra de ausentar-me tantos dias. Não regresso senão no prazo determinado. Não quero jamais que você desconfie de minha palavra. Apesar de líquida, e nadar exaustivamente nos fins de semana, você anseia pelas coisas firmes, quer sejam pedras, casa, tijolo, ou o olhar direto que surpreendes em mim.
Você finge não ligar quando te traem, te mentem. Diz, a vida é assim mesmo, acaso não sou adulta para compreender, acaso não traí e escarrei em rostos incautos? A verdade é que você quer o meu peito rasgado todas as noites, pela alegria de ver-me em brasa, certa de que o seu barco ancorado em mim vê a palavra minha cumprir-se. Exiges de mim muito mais que confessas. Eu te entendo, me queres padecendo em troca da segurança. Deste modo, disponho- me ao sacrifício, para modelar o leito em que repousarás aliviada. E talvez porque devas aprender a sofrer enquanto choro. Não me chame de mesquinho. Afinal, você quis diluir os meus sentimentos, fez-me crer que eles ocupam modestos aposentos da casa, sem direito ao teu salão, onde me ofereçam o cafezinho.
E, no entanto, basta que me olhes com esta mirada de mel, com que as abelhas te regalaram visando à corrupção, e com a qual nutres c envenenas ao mesmo tempo, para que te siga e admire. Como me fascina este poder que me faz buscar as vitrines que vendem pedaços de minha alma. Quero a perdição que só você me assegura. Da qual emerjo com a volúpia de te decifrar. O que há com o amor primaveril que o verão espreme entre os dedos? Sob o império da tua inocência, alimento-me ao longo da semana.
Ana acusa-nos de sermos criaturas da caverna simulando elegância. O certo é que o amor impõe excessos, assim não indagues até quando existiremos um para o outro. Assusta-me esta luz filtrada pelo sol. Não consigo ver à distância, para te responder. Intuo que esta ânsia de mutilar pedaços do corpo, como prova de amor, corresponde à incerteza do dia de amanhã. Um amor ferido combatendo os anos.
Às vezes, abandonas a terra firme a nado. Suplico então que voltes, não vês que sou o único a alimentar o teu grande sonho. A trovoada traça o roteiro de nossas almas, a chuva sempre foi delicada conosco. Será que a tua vigília é para não perder o amor que consideras delicado, o arrebato que nos obriga a madrugarmos, e nos levará à queda final?
Jogamos com a dor, ambos sabendo que a tua sombra há de soterrar-me por muito tempo. Meus escombros te seguirão ainda que vivas num palácio de cristal, de cristal para que passando ao largo eu te enxergue através da transparência mantida a álcool e algodão. Como contrariar este seu riso de medo? Se você quiser o coração, em pedaços que seja, eu te oferto. Lamento que brinques com um rosto que na quarta-feira será uma terna lembrança.
Quando me ameaçaste deixar, eu te escrevi. Todas as palavras incluí na carta. Não cuidei de corrigir o estilo. O estilo não é o homem, é a sua dor. Deixei-a na casa de Ana, portadora do meu agravo até o teu peito. Em casa, aboli os roteiros que me levariam a você. E vigiava-me para ter orgulho. Até que rasguei as cordas com os dentes e exigi de Ana a carta de volta. Quero o pergaminho, o texto morreu, por muito tempo as palavras não terão sentido. E disse lhe, aceitas o tesouro do meu apartamento, constituído da acquavit com que ela e eu forjamos fantasias? E que nos amamentou por uma estação, e qual terá sido, meu Deus?
Ana pediu paciência, a carta por si solucionaria o amor desastroso. E recusou o fel da bebida que celebrou o sentimento humano. Foi então que no meu destino de camponês consenti que a garrafa ficasse no apartamento, para testemunhar esta carta.
Não sei onde você está agora, daí te propor o coração. Você diz que volta, acho porém que está a nadar em qualquer enseada, com veleiro à distância. Ah, sempre me faltou carta marítima com que medir os anseios das tuas correntes atlânticas. Como imaginar para onde segue quem usa braços e pernas para fugir, e recusa as árvores e as dunas humanas, o nosso silêncio. Amanhã é sexta-feira, talvez regresses para tomar meu coração. Como das outras vezes. Só que a cada volta tua, e sempre que te oferto o coração, sinto que te tenho como se te perdesse. Tenho-te apenas o tempo de acostumar-me a perder-te para sempre. Assim, te faço discreto pedido, não me arraste contigo quando te fores. Ou não me aceites, ainda que te peça para seguir o teu caminho. Não quero despojar-me de um coração que te ofereci com tanta opu- lência. Mas, se o quiseres realmente levar contigo, deixes ao menos algumas de suas fibras em minha casa. Com elas apenas hei de encontrar um outro retrato vivo que, sem me desprover, há de me fazer derramar lágrimas de alegria, enquanto eu lhe esteja propondo os últimos pedaços de coração que meu corpo sedento de amor ainda produzirá.
Do teu camponês que se despede sem saber que é para sempre.
Nélida Piñon
Confissão
Sou fraco. Por nascimento, talento e convicção, fui e serei sempre um derrotado. Um bom derrotado, se vocês confiam em minha opinião. Posso até dizer, sem cinismo, que sou um homem realizado. Se o destino de todo ser é se perfazer, cumpri o meu.
A morte não tem pressa, deixa o tempo se espreguiçar. Há quinze anos, já, envelhecem na sala o gato cego e o sofá.
Vi hoje. Ao ônibus que passava em frenética velocidade, um latinista de ocasião perguntou de supetão: ei, ei, quo vadis?
Quando dez ou doze jovens poetas se reúnem, o único risco que a sociedade corre é o lançamento de mais uma antologia.
Por pior que seja a jornada, jamais seja tão sofrida que a vida seja execrada e a morte seja querida.
Não sou dos normais. Comigo o prêmio é castigo. A pior fase, a mais amarga da minha vida, vivida foi em Pasárgada.
Não tenho realeza nem excelência. Atinjo, quando muito, jamais a quinta, mas somente a quartessência.
Há mortos que continuam andando por aí. Alguns chegam a assobiar e a cantarolar. Não sou desses ecléticos. Limito-me a andar, ainda que tropegamente.
Sou metade, menos que um. São pífias minhas vitórias, não tenho feitos nem glórias: ad minora natus sum.
Enquanto os poetas líricos celebravam musas e os românticos falavam de flores, Augusto dos Anjos tratava de seus amores: as aberratórias abstrações abstrusas.
Raul Drewnick
***
A morte não tem pressa, deixa o tempo se espreguiçar. Há quinze anos, já, envelhecem na sala o gato cego e o sofá.
***
Vi hoje. Ao ônibus que passava em frenética velocidade, um latinista de ocasião perguntou de supetão: ei, ei, quo vadis?
***
Quando dez ou doze jovens poetas se reúnem, o único risco que a sociedade corre é o lançamento de mais uma antologia.
***
Por pior que seja a jornada, jamais seja tão sofrida que a vida seja execrada e a morte seja querida.
***
Não sou dos normais. Comigo o prêmio é castigo. A pior fase, a mais amarga da minha vida, vivida foi em Pasárgada.
***
***
Há mortos que continuam andando por aí. Alguns chegam a assobiar e a cantarolar. Não sou desses ecléticos. Limito-me a andar, ainda que tropegamente.
***
Sou metade, menos que um. São pífias minhas vitórias, não tenho feitos nem glórias: ad minora natus sum.
***
Enquanto os poetas líricos celebravam musas e os românticos falavam de flores, Augusto dos Anjos tratava de seus amores: as aberratórias abstrações abstrusas.
Raul Drewnick
segunda-feira, janeiro 23
O livro pós-eletrônico
O elevador era silencioso, macio, quase sem inércia. Estirei o corpo na chaise-longue até chegar ao 235o. andar do edifício-sede da Star Tech, onde Benedict Willhauser, vice-diretor de divulgação, me recebeu em tapetes de vison sintético. Tínhamos estudado juntos em Yale e ele me concedeu o privilégio de uma entrevista pessoal.
“O livro mudou de natureza sem perder seu fascínio”, falou, quando nos sentamos em poltronas invisíveis, campos de força eletromagnéticos que resistem e se amoldam ao peso do corpo humano. “Poucas pessoas de fora da empresa manusearam este protótipo. Queremos sua opinião. Se quiser bancar o advogado do diabo, fique à vontade. Nós aqui estamos tão entusiasmados com o produto que algum defeito dele talvez nos escape. Seu feedback é essencial”.
Sentamos diante de um cubo de metal, num canto da enorme sala. Ele digitou comandos.
O livro era uma pequena nuvem acinzentada de coruscantes grãos em preto-e-branco, vagamente esférica, flutuando a meio metro de altura. Enfiei nas mãos as luvas (que tinham formatos e consistências diferentes), e mergulhei as mãos ali dentro. Foi um choque elétrico de um milhão de volts no cérebro, mas sem dor, sem incômodo, apenas um surto quase insuportável de luz, de lucidez. E me veio a lembrança nítida, vívida, de tudo que havia ali dentro. Digo lembrança pela sensação de familiaridade com cada frase, cada ilustração, cada abertura de capítulo ou nota no índice remissivo; como um livro lido e relido ao longo da vida inteira, debulhado com gosto e conhecido quase de cor, que folheamos depois de algum tempo enquanto sentimos nosso espírito se deleitar com aquele reencontro. Um livro com um milhão de páginas que eu enxergava simultaneamente e era capaz de comparar uma a uma, ou de cem em cem. E vi (sim, vi!) cada espiral de DNA do meu corpo se retorcendo e recompondo, recebendo uma quinta letra.
Fiquei mergulhado ali, lendo, lembrando, passeando pelo passado e pelo futuro... Quando retirei as mãos da nuvem, Willhauser estava de pé junto à janela, onde o sol estava terminando de se por. “Não deveriam ter criado isto”, falei. “Sim”, disse ele, “isto destruirá todos os tablets, iPads, todo o conceito do livro-pixel, da leitura visual, do texto pousado sobre uma superfície. Texto e mente agora serão uma coisa só”. Esfreguei os olhos; minha mente ainda ardia numa adrenalina selvagem de frases e imagens 3D. “É o fim do livro eletrônico?”, perguntei. “Ou o começo do livro biológico”, disse ele, voltando-se para mim e tirando os óculos escuros. Por entre as pálpebras, seus olhos eram duas réplicas da nuvem, e entendi naquele instante que de agora em diante os meus também.
“O livro mudou de natureza sem perder seu fascínio”, falou, quando nos sentamos em poltronas invisíveis, campos de força eletromagnéticos que resistem e se amoldam ao peso do corpo humano. “Poucas pessoas de fora da empresa manusearam este protótipo. Queremos sua opinião. Se quiser bancar o advogado do diabo, fique à vontade. Nós aqui estamos tão entusiasmados com o produto que algum defeito dele talvez nos escape. Seu feedback é essencial”.
Sentamos diante de um cubo de metal, num canto da enorme sala. Ele digitou comandos.
O livro era uma pequena nuvem acinzentada de coruscantes grãos em preto-e-branco, vagamente esférica, flutuando a meio metro de altura. Enfiei nas mãos as luvas (que tinham formatos e consistências diferentes), e mergulhei as mãos ali dentro. Foi um choque elétrico de um milhão de volts no cérebro, mas sem dor, sem incômodo, apenas um surto quase insuportável de luz, de lucidez. E me veio a lembrança nítida, vívida, de tudo que havia ali dentro. Digo lembrança pela sensação de familiaridade com cada frase, cada ilustração, cada abertura de capítulo ou nota no índice remissivo; como um livro lido e relido ao longo da vida inteira, debulhado com gosto e conhecido quase de cor, que folheamos depois de algum tempo enquanto sentimos nosso espírito se deleitar com aquele reencontro. Um livro com um milhão de páginas que eu enxergava simultaneamente e era capaz de comparar uma a uma, ou de cem em cem. E vi (sim, vi!) cada espiral de DNA do meu corpo se retorcendo e recompondo, recebendo uma quinta letra.
Fiquei mergulhado ali, lendo, lembrando, passeando pelo passado e pelo futuro... Quando retirei as mãos da nuvem, Willhauser estava de pé junto à janela, onde o sol estava terminando de se por. “Não deveriam ter criado isto”, falei. “Sim”, disse ele, “isto destruirá todos os tablets, iPads, todo o conceito do livro-pixel, da leitura visual, do texto pousado sobre uma superfície. Texto e mente agora serão uma coisa só”. Esfreguei os olhos; minha mente ainda ardia numa adrenalina selvagem de frases e imagens 3D. “É o fim do livro eletrônico?”, perguntei. “Ou o começo do livro biológico”, disse ele, voltando-se para mim e tirando os óculos escuros. Por entre as pálpebras, seus olhos eram duas réplicas da nuvem, e entendi naquele instante que de agora em diante os meus também.
Sábios primeiros parágrafos reciclados da literatura
Nos seis únicos romances de Luis Fernando Verissimo, agora reeditados e acondicionados numa caixa pela Alfaguara, o que mais me seduziu foi mesmo o primeiro que ele, relutantemente, escreveu: O Jardim do Diabo. Custou-lhe mais aceitar o desafio de seguir os passos do pai e arcar com as inevitáveis comparações do que produzir uma obra ficcional de encomenda, como foi o caso de O Jardim do Diabo.
O que nela me comprou? Suas duas irresistíveis frases de abertura:
“Me chame de Ismael e eu não atenderei. Meu nome é Estevão.”
LFV não foi o primeiro a parodiar o mítico exórdio de Moby Dick, de Herman Melville, mas, afora Harvey Kurtzman, na revista Mad, ninguém o fez com mais graça.
O que nela me comprou? Suas duas irresistíveis frases de abertura:
“Me chame de Ismael e eu não atenderei. Meu nome é Estevão.”
LFV não foi o primeiro a parodiar o mítico exórdio de Moby Dick, de Herman Melville, mas, afora Harvey Kurtzman, na revista Mad, ninguém o fez com mais graça.
Parágrafo inicial do clássico "Moby Dick", de Hermann Melville, ilustrdo por Rockwell Kent em 1930 Rokwell Kent)
Parágrafo inicial do clássico "Moby Dick", de Hermann Melville, ilustrdo por Rockwell Kent em 1930 Rokwell Kent) Foto: Rokwell Kent
Estevão, o narrador do paródico thriller, é um escritor de bagatelas policiais e de espionagem vendidas em bancas de jornal. Há outras referências melvilleanas na história, que me abstenho de abordar porque meu tema de hoje são, et pour cause, as grandes frases de abertura do romanceiro mundial. “Me chame de Ismael” é uma delas.
Já a vi encimando inúmeras listas de preferidas da categoria, lúdica frivolidade intelectual em que uma palavra (“Nonada”, Grande Sertão: Veredas; “riverrun”, Finnegans Wake) tem o mesmo peso das 465 com que García Márquez abre o empolgante primeiro parágrafo de Cem Anos de Solidão.
Se seguida de um ponto em vez de uma vírgula, “Lolita”, a primeira palavra do epônimo romance de Nabokov, compartilharia esse rol com “nonada” e “riverrun”. Mas seu destacado lugar no pódio é indisputável e eterno, em qualquer idioma. Na tradução de Jorio Dauster, ficou assim:
“Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne. Minha alma, minha lama. Lo-li-ta: a ponta da língua descendo em três saltos pelo céu da boca para tropeçar de leve, no terceiro, contra os dentes. Lo. Li. Ta.”
Nem sempre um inspirado introito precede um grande romance – e a recíproca é verdadeira. Como o de tantos outros clássicos da literatura (vide No Caminho de Swann, de Proust), o começo de A Montanha Mágica, por exemplo, com o “jovem singelo” Hans Castorp a viajar, “em pleno verão”, de Hamburgo a Davos-Platz, chega a ser prosaico.
Tolstoi, aliás, só satisfez os dois quesitos em Anna Kariênina: “Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira”. Esta é uma das favoritas do leitorado mundial, disputando em citações com o horripilante despertar de Gregor Samsa em A Metamorfose (Kafka), “o melhor dos tempos e o pior dos tempos” de Um Conto de Duas Cidades (Dickens), e esta reflexão sobre o passado de L.P.Hartley na primeira linha de O Mensageiro (The Go-Between): “O passado é um país estrangeiro; lá as coisas são feitas de maneira diferente”.
Se já comprei vários livros atraído pela capa, em outros mais de ficção já mergulhei estimulado por seus primeiros parágrafos, comumente espreitados de pé numa livraria. Tal foi o caso de O Mundo Segundo Garp, de John Irving. Bati os olhos no primeiro parágrafo (“A mãe de Garp, Jenny Fields, foi presa em Boston em 1942 por ferir um homem num cinema”), fechei o volume e, doido para conhecer aquela audaciosa mãe e sua história, fui direto ao caixa fechar minhas compras.
Como qualquer escolha, a de melhores aberturas é tremendamente pessoal e não raro idiossincrática. Não creio me distanciar muito dos habituais escolhidos, e conheço pelo menos meia dúzia de pessoas que também se aproximaram da ficção de Carson McCullers pelo feitiço de seus títulos (O Coração é um Caçador Solitário, A Balada do Café Triste, Relógio Sem Ponteiro) e pelo lapidar prelúdio de Reflexos Num Olho Dourado: “Uma base militar em tempos de paz é um lugar enfadonho.”
Enfadonho, mas não sem novidades e excitação o tempo todo, como sabem os que leram o livro ou apenas viram a decepcionante adaptação dirigida por John Huston.
Sérgio Augusto
Parágrafo inicial do clássico "Moby Dick", de Hermann Melville, ilustrdo por Rockwell Kent em 1930 Rokwell Kent) Foto: Rokwell Kent
Estevão, o narrador do paródico thriller, é um escritor de bagatelas policiais e de espionagem vendidas em bancas de jornal. Há outras referências melvilleanas na história, que me abstenho de abordar porque meu tema de hoje são, et pour cause, as grandes frases de abertura do romanceiro mundial. “Me chame de Ismael” é uma delas.
Já a vi encimando inúmeras listas de preferidas da categoria, lúdica frivolidade intelectual em que uma palavra (“Nonada”, Grande Sertão: Veredas; “riverrun”, Finnegans Wake) tem o mesmo peso das 465 com que García Márquez abre o empolgante primeiro parágrafo de Cem Anos de Solidão.
Se seguida de um ponto em vez de uma vírgula, “Lolita”, a primeira palavra do epônimo romance de Nabokov, compartilharia esse rol com “nonada” e “riverrun”. Mas seu destacado lugar no pódio é indisputável e eterno, em qualquer idioma. Na tradução de Jorio Dauster, ficou assim:
“Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne. Minha alma, minha lama. Lo-li-ta: a ponta da língua descendo em três saltos pelo céu da boca para tropeçar de leve, no terceiro, contra os dentes. Lo. Li. Ta.”
Nem sempre um inspirado introito precede um grande romance – e a recíproca é verdadeira. Como o de tantos outros clássicos da literatura (vide No Caminho de Swann, de Proust), o começo de A Montanha Mágica, por exemplo, com o “jovem singelo” Hans Castorp a viajar, “em pleno verão”, de Hamburgo a Davos-Platz, chega a ser prosaico.
Tolstoi, aliás, só satisfez os dois quesitos em Anna Kariênina: “Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira”. Esta é uma das favoritas do leitorado mundial, disputando em citações com o horripilante despertar de Gregor Samsa em A Metamorfose (Kafka), “o melhor dos tempos e o pior dos tempos” de Um Conto de Duas Cidades (Dickens), e esta reflexão sobre o passado de L.P.Hartley na primeira linha de O Mensageiro (The Go-Between): “O passado é um país estrangeiro; lá as coisas são feitas de maneira diferente”.
Se já comprei vários livros atraído pela capa, em outros mais de ficção já mergulhei estimulado por seus primeiros parágrafos, comumente espreitados de pé numa livraria. Tal foi o caso de O Mundo Segundo Garp, de John Irving. Bati os olhos no primeiro parágrafo (“A mãe de Garp, Jenny Fields, foi presa em Boston em 1942 por ferir um homem num cinema”), fechei o volume e, doido para conhecer aquela audaciosa mãe e sua história, fui direto ao caixa fechar minhas compras.
Como qualquer escolha, a de melhores aberturas é tremendamente pessoal e não raro idiossincrática. Não creio me distanciar muito dos habituais escolhidos, e conheço pelo menos meia dúzia de pessoas que também se aproximaram da ficção de Carson McCullers pelo feitiço de seus títulos (O Coração é um Caçador Solitário, A Balada do Café Triste, Relógio Sem Ponteiro) e pelo lapidar prelúdio de Reflexos Num Olho Dourado: “Uma base militar em tempos de paz é um lugar enfadonho.”
Enfadonho, mas não sem novidades e excitação o tempo todo, como sabem os que leram o livro ou apenas viram a decepcionante adaptação dirigida por John Huston.
Sérgio Augusto
A palavra
Tanto que tenho falado, tanto que tenho escrito — como não imaginar que, sem querer, feri alguém? Às vezes sinto, numa pessoa que acabo de conhecer, uma hostilidade surda, ou uma reticência de mágoas. Imprudente ofício é este, de viver em voz alta.
Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida de cada dia; a sonhar um pouco, a sentir uma vontade de fazer alguma coisa boa.
Agora sei que outro dia eu disse uma palavra que fez bem a alguém. Nunca saberei que palavra foi; deve ter sido alguma frase espontânea e distraída que eu disse com naturalidade porque senti no momento — e depois esqueci.
Tenho uma amiga que certa vez ganhou um canário, e o canário não cantava. Deram-lhe receitas para fazer o canário cantar; que falasse com ele, cantarolasse, batesse alguma coisa ao piano; que pusesse a gaiola perto quando trabalhasse em sua máquina de costura; que arranjasse para lhe fazer companhia, algum tempo, outro canário cantador; até mesmo que ligasse o rádio um pouco alto durante uma transmissão de jogo de futebol… mas o canário não cantava.
Um dia a minha amiga estava sozinha em casa, distraída, e assobiou uma pequena frase melódica de Beethoven — e o canário começou a cantar alegremente. Haveria alguma secreta ligação entre a alma do velho artista morto e o pequeno pássaro cor de ouro?
Alguma coisa que eu disse distraído — talvez palavras de algum poeta antigo — foi despertar melodias esquecidas dentro da alma de alguém. Foi como se a gente soubesse que de repente, num reino muito distante, uma princesa muito triste tivesse sorrido. E isso fizesse bem ao coração do povo; iluminasse um pouco as suas pobres choupanas e as suas remotas esperanças.
Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida de cada dia; a sonhar um pouco, a sentir uma vontade de fazer alguma coisa boa.
Agora sei que outro dia eu disse uma palavra que fez bem a alguém. Nunca saberei que palavra foi; deve ter sido alguma frase espontânea e distraída que eu disse com naturalidade porque senti no momento — e depois esqueci.
Tenho uma amiga que certa vez ganhou um canário, e o canário não cantava. Deram-lhe receitas para fazer o canário cantar; que falasse com ele, cantarolasse, batesse alguma coisa ao piano; que pusesse a gaiola perto quando trabalhasse em sua máquina de costura; que arranjasse para lhe fazer companhia, algum tempo, outro canário cantador; até mesmo que ligasse o rádio um pouco alto durante uma transmissão de jogo de futebol… mas o canário não cantava.
Um dia a minha amiga estava sozinha em casa, distraída, e assobiou uma pequena frase melódica de Beethoven — e o canário começou a cantar alegremente. Haveria alguma secreta ligação entre a alma do velho artista morto e o pequeno pássaro cor de ouro?
Alguma coisa que eu disse distraído — talvez palavras de algum poeta antigo — foi despertar melodias esquecidas dentro da alma de alguém. Foi como se a gente soubesse que de repente, num reino muito distante, uma princesa muito triste tivesse sorrido. E isso fizesse bem ao coração do povo; iluminasse um pouco as suas pobres choupanas e as suas remotas esperanças.
Rubem Braga
sexta-feira, janeiro 20
'Rebento de fome!'
Depois de a caixeira lhe ter dado o troco da sua moeda de cem soldos, Georges Duroy saiu do restaurante. De boa figura que era, por natureza e atitude de ex‑oficial subalterno, endireitou a cintura, compôs o bigode com um gesto militar e familiar, e lançou sobre os retardatários comensais do jantar um olhar rápido e circular, um desses olhares de rapaz bem‑parecido, que se alargam como uma rede lançada à água. As mulheres tinham levantado a cabeça olhando para ele, três jovens operárias, uma professora de música de meia‑idade, mal penteada, desmazelada, enfeitada com um chapéu sempre manchado de pó e enfiada num vestido que lhe caía mal, e duas burguesas na companhia dos seus maridos, freguesas daquela casa de pasto a preço fixo. No passeio, ficou por um instante imóvel, perguntando‑se o que faria a seguir. Era o dia 28 de Junho, e restavam‑lhe no bolso três francos e quarenta até ao fim do mês. O que correspondia a dois jantares sem almoços, ou dois almoços sem jantares, à sua escolha. Considerou que as refeições da manhã custavam vinte e dois soldos, em vez dos trinta das do fim da tarde, e que lhe restaria, se se contentasse com os almoços, um franco e vinte cêntimos suplementares, o que representava ainda duas colações de pão e salsichão, mais duas cervejas no bulevar. Eram estes a grande despesa e o grande prazer das suas noites; e começou a descer a Rue Notre‑Dame‑de‑Lorette. Movia‑se como no tempo em que usava o uniforme dos hussardos, com o peito para fora, as pernas ligeiramente entreabertas como se acabasse de apear‑se do cavalo; e avançava brutalmente pela rua cheia de gente, atropelando ombros, empurrando quem passava para não se desviar do seu caminho. Inclinava ligeiramente sobre uma orelha o seu chapéu alto bastante usado, e batia com o calcanhar na calçada. Tinha o ar de estar sempre a desafiar alguém, os transeuntes, as casas, a cidade inteira, afectando a pose de um garboso militar que se adapta mal à vida civil. Apesar de vestir um fato completo que não valia mais de sessenta francos, mantinha uma certa elegância ostensiva, um tanto vulgar, mas real. Alto, bem‑feito, louro, de um louro acastanhado vagamente ruço, com um bigode revirado, que parecia espumar‑lhe do lábio, olhos azuis, claros, fendidos por uma pupila mínima, cabelos naturalmente anelados, divididos por uma risca ao meio do crânio, parecia de facto o personagem mau dos romances populares. Estava uma dessas noites de Verão em que falta o ar em Paris. A cidade, quente como uma estufa, parecia transpirar na noite sufocante. Os esgotos sopravam pelas suas bocas de granito os seus hálitos empestados, e as cozinhas subterrâneas soltavam na rua, pelas janelas baixas, os miasmas repugnantes das águas de lavar a louça e dos molhos pouco frescos. Os porteiros, em mangas de camisa, a cavalo em cadeiras de palha, fumavam cachimbo às portas de serviço, e os transeuntes moviam‑se com um passo acabrunhado, a fronte nua, o chapéu na mão. Quando chegou ao bulevar, Georges Duroy parou de novo, indeciso quanto ao que iria fazer. Tinha agora vontade de continuar até aos Champs‑Élysées e à Avenue du Bois‑de‑Boulogne para apanhar um pouco de ar fresco sob as copas das árvores; mas trabalhava‑o também um desejo, o de um encontro amoroso. Como lhe apareceria ela? Ignorava‑o completamente, mas esperava-a havia três meses, todos os dias, todas as noites. Por vezes, entretanto, graças à sua bela presença e às suas maneiras galantes, ia roubando, aqui e ali, um pouco de amor, mas continuava a esperar mais e melhor. Com os bolsos vazios e o sangue a ferver, inflamava‑se ao contacto das que rondam nas esquinas, murmurando: «Quer vir comigo, bonito rapaz?», mas não se atrevia a segui‑las, pois não podia pagar‑lhes; e esperava também outra coisa, outros beijos menos vulgares. Todavia, gostava dos lugares onde as mulheres públicas pululam, os seus bailes, os seus cafés, as suas ruas; gostava de se encontrar no meio delas, de lhes falar, de as tratar por tu, farejar os seus perfumes violentos, senti‑las perto de si. Sempre eram mulheres, mulheres de amor. E ele não as desprezava com esse desprezo inato dos homens com família. Virou na direcção da Madeleine e seguiu a onda da turba que se deslocava vergada pelo calor. Os grandes cafés, cheios de gente, transbordavam sobre os passeios, exibindo à luz brilhante e crua das suas fachadas de vidro iluminadas o seu público de bebedores. Diante destes, em cima de pequenas mesas quadradas ou redondas, os copos continham líquidos vermelhos, amarelos, verdes, acastanhados, de todos os matizes; e no interior dos jarros viam‑se cintilar os grandes cilindros transparentes de gelo que arrefeciam a bela água clara. Duroy afrouxara o passo, e a vontade de beber ressequia‑lhe a garganta. Apossava‑se dele uma sede quente, uma sede de Verão, que o fazia pensar na sensação deliciosa das bebidas frescas inundando a boca. Mas, ainda que não bebesse mais do que duas cervejas nessa noite, teria de dizer adeus à magra ceia do dia seguinte, e ele conhecia já de sobra as horas esfaimadas do fim do mês. Disse de si para si: «Vou ter de aguentar até às dez horas e tomo então a minha cerveja no Américain. Mas raios me partam se não estou a rebentar de sede!» E olhava para todos aqueles homens sentados a uma mesa e que bebiam, todos aqueles homens que podiam matar a sede a seu bel‑prazer. Seguia o seu caminho, passando diante dos cafés com um ar decidido e enérgico, e avaliava de relance, pelo aspecto, pelo vestir, o dinheiro que cada consumidor teria no bolso. E invadia‑o uma espécie de cólera contra aqueles seres sentados e tranquilos. Quem lhes revolvesse os bolsos encontraria ouro, moedas prateadas e de soldo. Em média, cada um deles teria consigo pelo menos uns dois luíses: ora, como eram à vontade uma centena no café, cem vezes dois luíses são quatro mil francos! «Os porcos!», murmurava ele, sem deixar de se menear com elegância. Se pudesse apanhar um deles à esquina de uma rua, ao abrigo da sombra suficientemente escura, palavra que lhe torceria o pescoço, sem escrúpulos, como fazia às aves de criação dos camponeses, nos dias de grandes manobras. E recordava os seus dois anos de África, a maneira como tributava os árabes nos pequenos postos do Sul. E um sorriso alegre e divertido aflorou‑lhe aos lábios à lembrança de uma expedição que custara a vida a três homens da tribo dos Ouled‑Alane e que lhes valera, aos seus companheiros e a ele, vinte galinhas, duas ovelhas, ouro, e motivo de riso para seis meses. Os culpados nunca tinham sido descobertos, nem de resto se procurara seriamente fazê‑lo, pois de certo modo se considerava o árabe como a presa natural do soldado. Em Paris era diferente. Não se podia pilhar amenamente, sabre à cinta e revólver em punho, longe da justiça civil, em liberdade, experimentando no coração todos os instintos do subalterno à solta num país conquistado. Tinha saudades, sem dúvida, dos seus dois anos de deserto. Era uma pena não ter podido ficar por lá! Mas a verdade é que esperara coisa melhor do regresso. E agora!… Ah, agora era o bom e o bonito, estava‑se a ver! Passeava a língua pela boca, com um leve estalido, como se quisesse comprovar a secura do palato. A turba deslizava à sua volta, extenuada e lenta, e ele não parava de pensar: «Choldra de patifes! Todos com o bolso do colete cheio de moedas, os imbecis.» Empurrava com o ombro os que se cruzavam com ele, e assobiava árias joviais. Alguns cavalheiros atropelados olhavam para trás e resmungavam; ouvia vozes de mulher que exclamavam: «Mas que animal!» Passou diante do Vaudeville, e parou em frente do Café Américain, perguntando‑se se não era o momento de beber a sua cerveja, atormentado que estava de sede. Antes de se decidir, viu as horas nos relógios luminosos, no meio da calçada. Eram nove e um quarto. Conhecia‑se bem: assim que tivesse à sua frente o copo cheio de cerveja, bebê‑lo‑ia de um trago. Mas que faria a seguir, até às onze horas? Continuou a andar. «Vou até à Madeleine», disse para consigo, «e volto depois aqui, sem me apressar.» Ao chegar à esquina da Place de l’Opéra, cruzou‑se com um homem novo e gordo, cuja cara se lembrava vagamente de ter visto em qualquer lado. Pôs‑se a segui‑lo, revolvendo as suas recordações, e repetindo a meia‑voz: «De onde diabo conheço eu este sujeito?» Dava voltas à cabeça, sem conseguir lembrar‑se; depois, de repente, por um singular fenómeno de memória, viu o mesmo homem menos gordo, mais novo, vestido com um uniforme de hussardo. Exclamou em voz alta: — Olha, é o Forestier! — e, alongando o passo, aproximou‑se e bateu no ombro do viandante. O outro virou‑se, olhou para ele, a seguir disse:
— O que é que quer de mim, senhor? — Duroy pôs‑se a rir:
— Não me estás a conhecer?
— Não.
— Georges Duroy do sexto de hussardos.
Forestier estendeu‑lhe as duas mãos:
— Ah, meu velho! Como é que tu estás?
— Muito bem e tu?
— Oh, eu? Não muito bem; imagina tu que agora tenho um peito feito de cartão; passo os doze meses do ano a tossir, por causa de uma bronquite que apanhei em Bougival, no ano em que regressei a Paris, vão fazer agora quatro.
— Não me digas! Mas pareces cheio de saúde.
E Forestier, dando o braço ao seu companheiro, falou‑lhe da sua doença, descreveu‑lhe as consultas, as opiniões e os conselhos dos médicos, a dificuldade de cumprir as suas recomendações na sua situação. Mandavam‑no passar o Inverno no Midi; mas como podia ele fazê‑lo? Estava casado e era jornalista, tinha uma boa situação.
— Dirijo a política do La Vie Française. Faço o Senado no Salut, e, de vez em quando, crónicas literárias para o La Planète. Aí tens, fui abrindo caminho.
Duroy, surpreendido, observava‑o. Mudara muito, amadurecera muito. Tinha agora uma aparência, uma atitude, uma maneira de vestir de homem assente, seguro de si, e um ventre de homem que janta bem. Outrora, era magro, esguio e flexível, estouvado, estoura‑vergas, ruidoso e não parava quieto. Em três anos, Paris fizera‑o uma pessoa completamente diferente, um homem gordo e sério, com alguns cabelos brancos nas têmporas, embora não tivesse mais do que vinte e sete anos.
Forestier perguntou: — Para onde é que vais?
Duroy respondeu: — Para parte nenhuma, estou a dar um giro antes de ir para casa.
— Muito bem, mas não queres fazer‑me companhia até ao La Vie Française, onde tenho de ir corrigir umas provas? Depois vamos tomar uma cerveja juntos.
— Acompanho‑te. E puseram‑se a caminho, dando‑se o braço, com essa familiaridade fácil que subsiste entre companheiros de escola e camaradas de regimento.
— O que é que estás a fazer em Paris? — perguntou Forestier.
Duroy encolheu os ombros: — Rebento de fome, e é só.
Guy Maupassant, "Bel – Ami"
— O que é que quer de mim, senhor? — Duroy pôs‑se a rir:
— Não me estás a conhecer?
— Não.
— Georges Duroy do sexto de hussardos.
Forestier estendeu‑lhe as duas mãos:
— Ah, meu velho! Como é que tu estás?
— Muito bem e tu?
— Oh, eu? Não muito bem; imagina tu que agora tenho um peito feito de cartão; passo os doze meses do ano a tossir, por causa de uma bronquite que apanhei em Bougival, no ano em que regressei a Paris, vão fazer agora quatro.
— Não me digas! Mas pareces cheio de saúde.
E Forestier, dando o braço ao seu companheiro, falou‑lhe da sua doença, descreveu‑lhe as consultas, as opiniões e os conselhos dos médicos, a dificuldade de cumprir as suas recomendações na sua situação. Mandavam‑no passar o Inverno no Midi; mas como podia ele fazê‑lo? Estava casado e era jornalista, tinha uma boa situação.
— Dirijo a política do La Vie Française. Faço o Senado no Salut, e, de vez em quando, crónicas literárias para o La Planète. Aí tens, fui abrindo caminho.
Duroy, surpreendido, observava‑o. Mudara muito, amadurecera muito. Tinha agora uma aparência, uma atitude, uma maneira de vestir de homem assente, seguro de si, e um ventre de homem que janta bem. Outrora, era magro, esguio e flexível, estouvado, estoura‑vergas, ruidoso e não parava quieto. Em três anos, Paris fizera‑o uma pessoa completamente diferente, um homem gordo e sério, com alguns cabelos brancos nas têmporas, embora não tivesse mais do que vinte e sete anos.
Forestier perguntou: — Para onde é que vais?
Duroy respondeu: — Para parte nenhuma, estou a dar um giro antes de ir para casa.
— Muito bem, mas não queres fazer‑me companhia até ao La Vie Française, onde tenho de ir corrigir umas provas? Depois vamos tomar uma cerveja juntos.
— Acompanho‑te. E puseram‑se a caminho, dando‑se o braço, com essa familiaridade fácil que subsiste entre companheiros de escola e camaradas de regimento.
— O que é que estás a fazer em Paris? — perguntou Forestier.
Duroy encolheu os ombros: — Rebento de fome, e é só.
Guy Maupassant, "Bel – Ami"
Assinar:
Postagens (Atom)