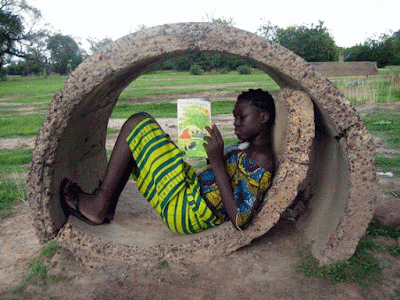quarta-feira, novembro 30
Tentativa
 |
| Matthieu Wiegman |
neutralizando a gota ácida do sol.
O tornassol do céu, no fundo
do grande tubo de ensaio,
vai se espessando, cada vez mais azul.
Dos poços da marna alagada,
cheios, como frascos chatos sem gargalos,
sobem vapores alvacentos.
A pressão calca cinco atmosferas,
e o calor cresce,
nas alavancas de pirômetros negros,
dilatando as sombras.
Rápida,
uma revoada triangular de periquitos
estraleja e crepita,
flambada em alça enorme de platina,
como o fio de chama, fugidio e verde,
de um sal de boro…
Quanto esforço da manhã,
para riscar tão alto,
um corisco de esperança…
João Guimarães Rosa
Os ciganos
Na memória, tenho imagens paradas de um casamento de três dias. Lembro-me das roupas garridas das mulheres, cheias de folhos, fazenda brilhante, cetim quase de certeza, sem vergonha do vermelho, do amarelo, do verde vivo. Lembro-me dos homens já de camisa aberta, a festejarem em voz alta, a conviverem de uma maneira que eu não conhecia com aquela cumplicidade de família imensa, como se todos fossem irmãos uns dos outros. Três dias durou esse casamento. As celebrações esmoreciam um pouco de manhã. Eu passava acompanhado por outros rapazes, abrandávamos o passo para olharmos ao longe, para tentarmos perceber o que estava a acontecer. Mas, logo a partir de almoço, com as mulheres de um lado e os homens do outro, a festa começava a animar. Ao fim da tarde, princípio da noite, atíngia o auge. Lembro-me das danças que levantavam pó na terra, as mulheres muito maquilhadas a baterem com sapatos finos na terra seca, os homens na fronteira de perderem a compostura, com a ponta do cinto solta das presilhas, como a cabeça de uma serpente, também a dançarem, também a baterem com sapatos novos na terra. E os rapazes da nossa idade, claro. É deles que me lembro melhor. Foram eles que nos chamaram para entrar, foram eles que nos puxaram pelo braço quando fizemos tenção de recusar, foram eles que insistiram, que nos foram buscar comida, que nos deixaram à vontade.
Conhecíamos esses rapazes das temporadas que passavam na escola. Não tinham livros, a professora emprestava-lhes um caderno e sentava-os ao lado de alguém. Sabiam pouco de letras e da maneira como a professora dizia as coisas, o que sabiam de números não se escrevia no quadro com giz, mas eram os reis do recreio. Passávamos esse tempo a rodeá-los e ora fazíamos perguntas, ora ouvíamos as notícias mais incríveis. Eles conheciam o mundo, estavam ali apenas de passagem. Aproveitávamos ao máximo o tamanho da sua novidade.
Conhecíamos esses rapazes das temporadas que passavam na escola. Não tinham livros, a professora emprestava-lhes um caderno e sentava-os ao lado de alguém. Sabiam pouco de letras e da maneira como a professora dizia as coisas, o que sabiam de números não se escrevia no quadro com giz, mas eram os reis do recreio. Passávamos esse tempo a rodeá-los e ora fazíamos perguntas, ora ouvíamos as notícias mais incríveis. Eles conheciam o mundo, estavam ali apenas de passagem. Aproveitávamos ao máximo o tamanho da sua novidade.
Esse casamento de três dias juntou muitas famílias ciganas, vieram de todo o Alentejo, das Beiras, da Extremadura e da Andaluzia. Teve lugar no terreno em frente ao correio que, nessa época, tinha muito poucas construções em volta. Era um dos dois ou três lugares onde os ciganos costumavam montar acampamento. Os burros e as mulas ficavam presos aos troncos das oliveiras, aproveitavam esse descanso resignado, até ao momento em que fossem chamados a levar a carroça. E tanto podiam seguir pelas ruas da vila, o velho Durico rodeado por montes de camisas, a fumar a ponta de um cigarro que quase lhe queimava os lábios, a pele do rosto encarquilhada, os olhos quase fechados, o velho Durico a descer as ruas muito devagar e, às vezes, a ser rodeado por mulheres que tratava por freguesas. Ou esses burros e essas mulas podiam avançar por estradas nacionais, a puxar a carroça carregada, objetos empilhados, panelas, baldes, sacos cheios, e os homens, as mulheres e as crianças sobre esse monte, e os cães a ladrarem aos carros que se demoravam por um instante atrás deles antes de os ultrapassarem.
Quando saí da minha vila, deixei de conhecer ciganos. Da mesma maneira, deixei de conhecer os meus vizinhos. Este é um lugar onde as pessoas não dizem bom dia quando se cruzam na rua. Para quem não conheça outra realidade, parece que o mundo é todo assim, habitado por desconhecidos. Há poucas semanas, perto de Estremoz, passei por uma carroça exatamente igual às da minha infância.
Nunca tive medo de ciganos. Apesar da maneira como, muitas vezes, via essa palavra ser utilizada: como uma ameaça. Quando éramos crianças, os meus amigos e eu sabíamos que os ciganos não eram iguais a nós, bastava-nos reparar em certos detalhes para sabermos isso. Mas essa diferenças não nos incomodavam. Sabíamos que se encontra sempre diferenças nas pessoas que apenas se vêem à distância e, ao mesmo tempo, porque sabíamos que os ciganos eram iguais a nós, bastava-nos conversar com eles para ter essa certeza absoluta.
José Luís Peixoto
Quando saí da minha vila, deixei de conhecer ciganos. Da mesma maneira, deixei de conhecer os meus vizinhos. Este é um lugar onde as pessoas não dizem bom dia quando se cruzam na rua. Para quem não conheça outra realidade, parece que o mundo é todo assim, habitado por desconhecidos. Há poucas semanas, perto de Estremoz, passei por uma carroça exatamente igual às da minha infância.
Nunca tive medo de ciganos. Apesar da maneira como, muitas vezes, via essa palavra ser utilizada: como uma ameaça. Quando éramos crianças, os meus amigos e eu sabíamos que os ciganos não eram iguais a nós, bastava-nos reparar em certos detalhes para sabermos isso. Mas essa diferenças não nos incomodavam. Sabíamos que se encontra sempre diferenças nas pessoas que apenas se vêem à distância e, ao mesmo tempo, porque sabíamos que os ciganos eram iguais a nós, bastava-nos conversar com eles para ter essa certeza absoluta.
José Luís Peixoto
terça-feira, novembro 29
Leitura indiscriminada
Como já mencionei, uma das teorias de minha mãe era que criança alguma deveria ter permissão de aprender a ler até os oito anos. Como essa teoria não foi cumprida por mim, tive licença de ler tanto quanto quis, e aproveitava todas as oportunidades para isso. A sala de aulas, como era chamada , era um cômodo no último andar da casa, quase completamente forrado de livros. Algumas das prateleiras eram dedicadas a literatura infantil: Alice in Wonderland [Alice no País das Maravilhas] e Through the Looking Glass [Através do Espelho]; os antigos, sentimentais contos vitorianos que já mencionei, tais como Our Little Violet [Nossa Pequena Violeta]; os livros de Charlotte Young, incluindo The Daisy Chain [A Corrente de Margaridas]; uma coleção completa, creio, de Henry, e, além disso, numerosos livros de estudo, romances, e outros tipos. Eu lia indiscriminadamente, escolhendo qualquer livro que me interessasse, lendo, portanto, muita coisa que não entendia, mas que retivera minha atenção.
Agatha Christiie, "Autobiografia"
Agatha Christiie, "Autobiografia"
Carlos Drummond de Andrade
Eu nunca tinha visto Carlos Drummond de Andrade. Eu o amava, mas nunca o tinha visto. Meus amigos, todos eles já o tinham visto e alguns eram seus amigos. Uma vez lhe telefonei pedindo licença para musicar uns versos seus; licença que ele me deu correndo, encurtando a conversa. Depois, quando estive mais doente, lendo seu livro de crônicas A bolsa ou a vida, porque suas crônicas me fizeram prazer ou, simplesmente, porque eu estava doente, mandei-lhe um bilhete contendo meu carinho, onde, é bem possível, havia, houvesse - discretamente, disfarçadamente – as minhas despedidas. Sei lá, tudo o que eu dizia naqueles tempos era adeus.
Mas domingo, de tarde, eu passava por Ipanema, quando vi Carlos Drummond de Andrade! Ia pela calçada da praia, andava, parava, andava de novo, com uma pressa enorme de não sair do lugar. Parei meu carro, apeei-me e caminhei até ele, estendendo-lhe a mão.
- Eu sou Antonio Maria e tinha uma vontade enorme de conhecê-lo... (fui por aí, feliz e humildemente).
O poeta, como todos os homens decentes, ficou muito encabulado. Mas eu entendo como é aflitivo conhecer mais uma pessoa. Ser conhecido por mais uma pessoa. A vida tem um dia em que a gente diz: “Chega, vou parar aqui. Mesmo que seja no prejuízo”. E não compra o segundo “cacife”. Ademais, a minha humildade era ameaçadora. Drummond tinha todo o direito de imaginar: Ihhh!... esse homem é capaz de se meter em minha casa. Quem sabe, um dia irá me telefonar, ihhh!...
A minha presença é, em si, desagradável. Eu seria, pela aparência, o homem que se meteria em casa de Drummond e lhe perguntaria com a mais ingênua agressividade:
- Drummond, entre Verlaine e Rimbaud?
Ou então:
- Drummond, você acha que o Vinícius de Moraes já foi mais Vinícius de Moraes?
E, quem sabe, eu perguntasse:
- E se você fosse à Lua e pudesse levar três pessoas, que pessoas você escolheria? Olha, a família não vale, Drummond!
O poeta Drummond é o homem que se porta com perfeição no primeiro encontro. Timidamente, com aquela cara de quem deseja, com toda razão, que seja o primeiro e o último. Drummond, como toda pessoa psicologicamente equilibrada, acha que todo primeiro encontro deveria ser o último.
Que maravilha haver ainda gente que se dê ao respeito! Não sei de ninguém que se dê tanto ao respeito quanto Carlos Drummond de Andrade! Com a mulher, os filhos, os netos pode (e deve) ser um tarado. Mas as outras pessoas, os intrusos, os aparteadores de suas caminhadas pela praia, com esses, todo retraimento é pouco.
Quanto a mim, ganhei meu dia. A frase tem que ser esta, desculpe. Ganhei meu dia! Tome um abraço.
Mas domingo, de tarde, eu passava por Ipanema, quando vi Carlos Drummond de Andrade! Ia pela calçada da praia, andava, parava, andava de novo, com uma pressa enorme de não sair do lugar. Parei meu carro, apeei-me e caminhei até ele, estendendo-lhe a mão.
- Eu sou Antonio Maria e tinha uma vontade enorme de conhecê-lo... (fui por aí, feliz e humildemente).
O poeta, como todos os homens decentes, ficou muito encabulado. Mas eu entendo como é aflitivo conhecer mais uma pessoa. Ser conhecido por mais uma pessoa. A vida tem um dia em que a gente diz: “Chega, vou parar aqui. Mesmo que seja no prejuízo”. E não compra o segundo “cacife”. Ademais, a minha humildade era ameaçadora. Drummond tinha todo o direito de imaginar: Ihhh!... esse homem é capaz de se meter em minha casa. Quem sabe, um dia irá me telefonar, ihhh!...
A minha presença é, em si, desagradável. Eu seria, pela aparência, o homem que se meteria em casa de Drummond e lhe perguntaria com a mais ingênua agressividade:
- Drummond, entre Verlaine e Rimbaud?
Ou então:
- Drummond, você acha que o Vinícius de Moraes já foi mais Vinícius de Moraes?
E, quem sabe, eu perguntasse:
- E se você fosse à Lua e pudesse levar três pessoas, que pessoas você escolheria? Olha, a família não vale, Drummond!
O poeta Drummond é o homem que se porta com perfeição no primeiro encontro. Timidamente, com aquela cara de quem deseja, com toda razão, que seja o primeiro e o último. Drummond, como toda pessoa psicologicamente equilibrada, acha que todo primeiro encontro deveria ser o último.
Que maravilha haver ainda gente que se dê ao respeito! Não sei de ninguém que se dê tanto ao respeito quanto Carlos Drummond de Andrade! Com a mulher, os filhos, os netos pode (e deve) ser um tarado. Mas as outras pessoas, os intrusos, os aparteadores de suas caminhadas pela praia, com esses, todo retraimento é pouco.
Quanto a mim, ganhei meu dia. A frase tem que ser esta, desculpe. Ganhei meu dia! Tome um abraço.
Antonio Maria, "Crônicas de Antonio Maria"
segunda-feira, novembro 28
Es-to-col-mo
Na manhã em que o velho escritor entrou em agonia e o padre foi chamado para a extrema-unção, houve um momento em que a família chegou a acreditar numa recuperação milagrosa. O escritor, de quem não se ouvia uma palavra fazia semanas, disse apaixonadamente uma e, como se receasse que não a tivessem entendido, repetiu-a mais claramente ainda: Es-to-col-mo.
Sonhou que um vento noturno, vindo do leste, punha um haicai em cada galho de sua ameixeira e que os vizinhos, invejosos, a derrubavam com seus machados. De manhã, ao abrir a janela, viu que a ameixeira estava viva, mas o vento havia esparramado todas as ameixas pelo quintal.

Os poetas antigos tinham pelo menos dez cisnes em suas obras completas.
Amor, meu doce tirano, sob teu domínio me ponho, aos teus grilhões não me oponho e do teu jugo me ufano.
Acho curiosa uma nomenclatura usada em catálogos de artistas plásticos. Quando se trata de obras não vendidas, diz-se que pertencem ao acervo do autor. No caso de escritores, não há eufemismos: são encalhes, mesmo. Tenho em meu arquivo pelo menos duas dezenas de livros desse tipo, entre contos para adultos e novelas juvenis. Bem verdade é que jamais me empenhei seriamente em torná-los viáveis. A maior parte deles nunca saiu uma vez sequer de casa. Ficam todos como meninos no quarto mais sombrio de um orfanato, e a cada ruído estranho se abraçam com mais força.
Depois de uma noite de tempestade, dona Amara foi ao quintal e surpreendeu-se ao encontrar, onde até a véspera havia uma rosa na roseira, uma estrela derrubada pela feroz ventania.
Tantas vezes o jarro foi à fonte que já não sabe se hoje é hoje e se ontem foi ontem.
Espero ainda alguma coisa da poesia. A recíproca certamente não é verdadeira.
Raul Drewnick
***
Sonhou que um vento noturno, vindo do leste, punha um haicai em cada galho de sua ameixeira e que os vizinhos, invejosos, a derrubavam com seus machados. De manhã, ao abrir a janela, viu que a ameixeira estava viva, mas o vento havia esparramado todas as ameixas pelo quintal.

***
Os poetas antigos tinham pelo menos dez cisnes em suas obras completas.
***
Amor, meu doce tirano, sob teu domínio me ponho, aos teus grilhões não me oponho e do teu jugo me ufano.
***
Acho curiosa uma nomenclatura usada em catálogos de artistas plásticos. Quando se trata de obras não vendidas, diz-se que pertencem ao acervo do autor. No caso de escritores, não há eufemismos: são encalhes, mesmo. Tenho em meu arquivo pelo menos duas dezenas de livros desse tipo, entre contos para adultos e novelas juvenis. Bem verdade é que jamais me empenhei seriamente em torná-los viáveis. A maior parte deles nunca saiu uma vez sequer de casa. Ficam todos como meninos no quarto mais sombrio de um orfanato, e a cada ruído estranho se abraçam com mais força.
***
Depois de uma noite de tempestade, dona Amara foi ao quintal e surpreendeu-se ao encontrar, onde até a véspera havia uma rosa na roseira, uma estrela derrubada pela feroz ventania.
***
Tantas vezes o jarro foi à fonte que já não sabe se hoje é hoje e se ontem foi ontem.
***
Espero ainda alguma coisa da poesia. A recíproca certamente não é verdadeira.
Raul Drewnick
A infância
O ócio torna lentas as horas e velozes os anos. A atividade torna rápida as horas e lentos os anos. A infância é a atividade máxima, porque ocupada em descobrir o mundo na sua diversidade.
Os anos tornam-se longos na recordação se, ao repensá-los, encontramos numerosos fatos a desenvolver pela fantasia. Por isso, a infância parece longuíssima. Provavelmente, cada época da vida é multiplicada pelas sucessivas reflexões das que se lhe seguem: a mais curta é a velhice, porque nunca será repensada.
Cada coisa que nos aconteceu é uma riqueza inesgotável: todo o regresso a ela a aumenta e acresce, dota de relações e aprofunda. A infância não é apenas a infância vivida, mas a ideia que fazemos dela na juventude, na maturidade, etc. Por isso, parece a época mais importante, visto ser a mais enriquecida por considerações sucessivas.
Os anos são uma unidade da recordação; as horas e os dias, uma unidade da experiência.
Cesare Pavese, "O Ofício de Viver"
Os anos tornam-se longos na recordação se, ao repensá-los, encontramos numerosos fatos a desenvolver pela fantasia. Por isso, a infância parece longuíssima. Provavelmente, cada época da vida é multiplicada pelas sucessivas reflexões das que se lhe seguem: a mais curta é a velhice, porque nunca será repensada.
Cada coisa que nos aconteceu é uma riqueza inesgotável: todo o regresso a ela a aumenta e acresce, dota de relações e aprofunda. A infância não é apenas a infância vivida, mas a ideia que fazemos dela na juventude, na maturidade, etc. Por isso, parece a época mais importante, visto ser a mais enriquecida por considerações sucessivas.
Os anos são uma unidade da recordação; as horas e os dias, uma unidade da experiência.
Cesare Pavese, "O Ofício de Viver"
Auto-retrato aos 56 anos
Nasceu em 1892, em Quebrangulo, Alagoas.
Casado duas vezes, tem sete filhos.
Altura 1,75.
Sapato n.º 41.
Colarinho n.º 39.
Prefere não andar.
Não gosta de vizinhos.
Detesta rádio, telefone e campainhas.
Tem horror às pessoas que falam alto.
Usa óculos. Meio calvo.
Não tem preferência por nenhuma comida.
Não gosta de frutas nem de doces.
Indiferente à música.
Sua leitura predileta: a Bíblia.
Escreveu "Caetés" com 34 anos de idade.
Não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados.
Gosta de beber aguardente.
É ateu. Indiferente à Academia.
Odeia a burguesia. Adora crianças.
Romancistas brasileiros que mais lhe agradam: Manoel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do Rego e Rachel de Queiroz.
Gosta de palavrões escritos e falados.
Deseja a morte do capitalismo.
Escreveu seus livros pela manhã.
Fuma cigarros "Selma" (três maços por dia).
É inspetor de ensino, trabalha no “Correio do Manhã”.
Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo.
Só tem cinco ternos de roupa, estragados.
Refaz seus romances várias vezes.
Esteve preso duas vezes.
É-lhe indiferente estar preso ou solto.
Escreve à mão.
Seus maiores amigos: Capitão Lobo, Cubano, José Lins do Rego e José Olympio.
Tem poucas dívidas.
Quando prefeito de uma cidade do interior, soltava os presos para construírem estradas.
Espera morrer com 57 anos.
Graciliano Ramos
Casado duas vezes, tem sete filhos.
Altura 1,75.
Sapato n.º 41.
Colarinho n.º 39.
Prefere não andar.
Não gosta de vizinhos.
Detesta rádio, telefone e campainhas.
Tem horror às pessoas que falam alto.
Usa óculos. Meio calvo.
Não tem preferência por nenhuma comida.
Não gosta de frutas nem de doces.
Indiferente à música.
Sua leitura predileta: a Bíblia.
Escreveu "Caetés" com 34 anos de idade.
Não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados.
Gosta de beber aguardente.
É ateu. Indiferente à Academia.
Odeia a burguesia. Adora crianças.
Romancistas brasileiros que mais lhe agradam: Manoel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do Rego e Rachel de Queiroz.
Gosta de palavrões escritos e falados.
Deseja a morte do capitalismo.
Escreveu seus livros pela manhã.
Fuma cigarros "Selma" (três maços por dia).
É inspetor de ensino, trabalha no “Correio do Manhã”.
Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo.
Só tem cinco ternos de roupa, estragados.
Refaz seus romances várias vezes.
Esteve preso duas vezes.
É-lhe indiferente estar preso ou solto.
Escreve à mão.
Seus maiores amigos: Capitão Lobo, Cubano, José Lins do Rego e José Olympio.
Tem poucas dívidas.
Quando prefeito de uma cidade do interior, soltava os presos para construírem estradas.
Espera morrer com 57 anos.
Graciliano Ramos
domingo, novembro 27
Segura a onça que eu sou caçador de preá
Não passava de um modesto caçador de preá. Era Bentinho Alves, dos Alves de Arió do Pará. Em dia de semana gastava os olhos no pilulador da Farmácia Brito. Em tempo de feriado consumia as vistas no rasto dos preás. Até que resolveu caçar bicho de maior escama:
- Comigo agora é na onça! Ou mais que onça! Na tal da pantera negra.
Foi quando deu em Arió do Pará um doutor de erva aparelhado para fazer os maiores serviços de mato adentro. Mediante uns trocados, o curandeiro botava macaco para desgostar de banana e tamanduá correr com perna de coelho. Bentinho, exagerado, mandou que o especial em erva preparasse simpatia capaz de fazer morrer na pólvora de sua espingarda as caças mais grossas, coisa assim no montante de uma capivara de banhado ou uma onça das mais pintadas. E no ardume do entusiasmo:
- Ou mais! É aparecer e morrer.
O curandeiro tirou uma baforada do covil dos peitos e mandou que Bentinho largasse no rodapé do arvoredo mais galhoso uma figa de guiné de sociedade com fumo de rolo e pó de unha de tatu. Bentinho não fez outra coisa. E montado nessa simpatia, uma quinzena adiante, o aprendiz de botica entrava no mato. E bem não tinha dado meia dúzia de passos já o trabalho do curandeiro fazia efeito na forma de uma onçona de três metros de barriga por quatro de raiva. Bentinho, diante daquela montanha de carne e pêlo, largou a espingarda para subir de lagartixa pelo primeiro pé de pau que encontrou na alça de mira. E enquanto subia Bentinho falava para Bentinho:
- Curandeiro exagerado! Isso não é onça para aprendiz de farmácia. Isso é onça para doutor formado. Ou mais!
E voltou para sua caça miúda de preá.
- Comigo agora é na onça! Ou mais que onça! Na tal da pantera negra.
Foi quando deu em Arió do Pará um doutor de erva aparelhado para fazer os maiores serviços de mato adentro. Mediante uns trocados, o curandeiro botava macaco para desgostar de banana e tamanduá correr com perna de coelho. Bentinho, exagerado, mandou que o especial em erva preparasse simpatia capaz de fazer morrer na pólvora de sua espingarda as caças mais grossas, coisa assim no montante de uma capivara de banhado ou uma onça das mais pintadas. E no ardume do entusiasmo:
- Ou mais! É aparecer e morrer.
O curandeiro tirou uma baforada do covil dos peitos e mandou que Bentinho largasse no rodapé do arvoredo mais galhoso uma figa de guiné de sociedade com fumo de rolo e pó de unha de tatu. Bentinho não fez outra coisa. E montado nessa simpatia, uma quinzena adiante, o aprendiz de botica entrava no mato. E bem não tinha dado meia dúzia de passos já o trabalho do curandeiro fazia efeito na forma de uma onçona de três metros de barriga por quatro de raiva. Bentinho, diante daquela montanha de carne e pêlo, largou a espingarda para subir de lagartixa pelo primeiro pé de pau que encontrou na alça de mira. E enquanto subia Bentinho falava para Bentinho:
- Curandeiro exagerado! Isso não é onça para aprendiz de farmácia. Isso é onça para doutor formado. Ou mais!
E voltou para sua caça miúda de preá.
José Cândido de Carvalho, "Os mágicos municipais"
Incenso
Na serenidade, passa o tempo sem pressa. Num instante sentido, num fio de fumo, é possível encontrar a cartografia de todos os outros instantes, longos ou fugazes. Na serenidade, passa a própria vida.
É um fio delicado de fumo que se enrola sobre si próprio, que se desenha no ar, que se entrança. Logo depois, desfaz-se numa forma cada vez mais desgovernada, a alastrar-se e a dissolver-se na pequena nuvem de fumo que paira na sala. Aqui, neste mundo cingido por paredes, desloca-se como um grande corpo, espécie de monstro a dirigir-se infinitamente na direção dos livros da estante, mas que nunca lá chega de facto.
Às vezes, o tempo passa à velocidade de incenso a queimar. Lento, mas constante. Seguro, como um sopro. A partir de um pequeno ponto incandescente ergue-se uma linha de curvas ligeiras, elegantes. E os pensamentos sucedem-se a essa velocidade. É sempre assim. Os pensamentos seguem a velocidade do tempo que interiorizamos. E, às vezes, o tempo passa sem pressa, como incenso a queimar.
Nos templos, como no Templo de A-Má, há paus de incenso que homens e mulheres seguram entre as mãos e que inclinam diante do altar ao ritmo com que inclinam todo o corpo em vénias repetidas. Depois, quando os espetam em pequenos potes, começa a sua combustão serena. O fumo sobe ao céu, indiferente às pessoas que se aproximam ou se afastam. E quando soa o gongo, o fumo segue o seu caminho ascendente com a mesma segurança com que a vibração se propaga. Para cima ou para dentro, um instante contínuo que tranquiliza.
Há também os incensos em espiral, pendurados debaixo de telheiros, esticados como molas. No interior, têm um papel com um pedido escrito, caligrafia chinesa. Muito devagar, a sua pequena brasa vai ardendo, cumprindo voltas, como se subisse a lenta estrada de uma montanha. Demora bastante, é um caminho que chega a parecer que não vai continuar. Talvez se detenha em algum obstáculo, talvez não encontre forças.
Mas continua sempre.
É exatamente assim o tempo a que me refiro, esse tempo que passa à velocidade de incenso a queimar. Transporta em si a certeza de que não irá ser interrompido por qualquer repente, bom ou mau. É um tempo de descanso, de reflexão, valioso para respirar. E, toda a gente sabe: no momento em que vivemos, é tão necessário respirar, faz tanta falta.
Aqui, onde estou a escrever estas palavras, esse tempo paira lentamente. Se me levantasse desta cadeira, creio que me alcançaria o peito. É mais ou menos a essa altura que avança seguro na direção das estantes, como uma vontade branda ou um desejo antigo.
Por sua vez, nas estantes, há o tempo dos livros. Esse avança a outra velocidade. Talvez mais lenta ainda, chega a ser possível parar o tempo nessas páginas. Mas também é possível apressá-lo. No interior de uma única linha, podem passar dez anos. Os livros são, cada um deles, salas parecidas com esta. O tempo que cada livro contém voga a uma velocidade própria, constrangida por critérios próprios e, em simultâneo, volúvel, livre.
Aqui, sob as minhas narinas, no ar que inspiro, o incenso. Podemos também medir uma velocidade a partir do seu perfume, fumo perfumado. No ar desta sala, sobe um fio delicado de fumo. É contemporâneo de mil templos no outro lado do mundo. Na comparação entre este a velocidade deste e desse incenso, a distância não guarda qualquer relevância ou significado. Existe o tempo deste fumo e destas palavras, ascende lentamente na sala exterior que nos rodeia e na sala interior que contemos. Neste tempo, é possível encontrar todos os outros tempos. Basta ser capaz de concebê-los.
José Luís Peixoto
É um fio delicado de fumo que se enrola sobre si próprio, que se desenha no ar, que se entrança. Logo depois, desfaz-se numa forma cada vez mais desgovernada, a alastrar-se e a dissolver-se na pequena nuvem de fumo que paira na sala. Aqui, neste mundo cingido por paredes, desloca-se como um grande corpo, espécie de monstro a dirigir-se infinitamente na direção dos livros da estante, mas que nunca lá chega de facto.
Às vezes, o tempo passa à velocidade de incenso a queimar. Lento, mas constante. Seguro, como um sopro. A partir de um pequeno ponto incandescente ergue-se uma linha de curvas ligeiras, elegantes. E os pensamentos sucedem-se a essa velocidade. É sempre assim. Os pensamentos seguem a velocidade do tempo que interiorizamos. E, às vezes, o tempo passa sem pressa, como incenso a queimar.
Nos templos, como no Templo de A-Má, há paus de incenso que homens e mulheres seguram entre as mãos e que inclinam diante do altar ao ritmo com que inclinam todo o corpo em vénias repetidas. Depois, quando os espetam em pequenos potes, começa a sua combustão serena. O fumo sobe ao céu, indiferente às pessoas que se aproximam ou se afastam. E quando soa o gongo, o fumo segue o seu caminho ascendente com a mesma segurança com que a vibração se propaga. Para cima ou para dentro, um instante contínuo que tranquiliza.
Há também os incensos em espiral, pendurados debaixo de telheiros, esticados como molas. No interior, têm um papel com um pedido escrito, caligrafia chinesa. Muito devagar, a sua pequena brasa vai ardendo, cumprindo voltas, como se subisse a lenta estrada de uma montanha. Demora bastante, é um caminho que chega a parecer que não vai continuar. Talvez se detenha em algum obstáculo, talvez não encontre forças.
Mas continua sempre.
É exatamente assim o tempo a que me refiro, esse tempo que passa à velocidade de incenso a queimar. Transporta em si a certeza de que não irá ser interrompido por qualquer repente, bom ou mau. É um tempo de descanso, de reflexão, valioso para respirar. E, toda a gente sabe: no momento em que vivemos, é tão necessário respirar, faz tanta falta.
Aqui, onde estou a escrever estas palavras, esse tempo paira lentamente. Se me levantasse desta cadeira, creio que me alcançaria o peito. É mais ou menos a essa altura que avança seguro na direção das estantes, como uma vontade branda ou um desejo antigo.
Por sua vez, nas estantes, há o tempo dos livros. Esse avança a outra velocidade. Talvez mais lenta ainda, chega a ser possível parar o tempo nessas páginas. Mas também é possível apressá-lo. No interior de uma única linha, podem passar dez anos. Os livros são, cada um deles, salas parecidas com esta. O tempo que cada livro contém voga a uma velocidade própria, constrangida por critérios próprios e, em simultâneo, volúvel, livre.
Aqui, sob as minhas narinas, no ar que inspiro, o incenso. Podemos também medir uma velocidade a partir do seu perfume, fumo perfumado. No ar desta sala, sobe um fio delicado de fumo. É contemporâneo de mil templos no outro lado do mundo. Na comparação entre este a velocidade deste e desse incenso, a distância não guarda qualquer relevância ou significado. Existe o tempo deste fumo e destas palavras, ascende lentamente na sala exterior que nos rodeia e na sala interior que contemos. Neste tempo, é possível encontrar todos os outros tempos. Basta ser capaz de concebê-los.
José Luís Peixoto
sábado, novembro 26
Miragem urbana
Quando a criança pequena brinca de esconder, cobre os olhos e acredita que se tornou invisível. Talvez aquela família sem casa tentasse o mesmo, diante de minha janela, no final da tarde: com seu barco-charrete ancorou na marquise em frente e envolveu toda a bagagem em um plástico negro.
Chovia, e o grupo permaneceu longo tempo acomodado sob o telhado improvisado, com suas crianças e cães em torno de uma pequena fogueira, quem sabe lembrando o fogão e a hora do jantar. Do meu observatório, via somente as pernas flexionadas, pois os rostos permaneciam ocultos na sombra da cobertura.
As dimensões do acampamento chamaram a atenção da polícia, que fazia a ronda e parou a viatura, mas logo percebeu que aquela gente era inofensiva, apenas de pouca sorte.
Quando fui deitar, notei que também eles se preparavam para dormir. Tinham apagado o fogo, aproximado a carroça de catar papelão e coberto inteiramente tudo e todos, dando nova forma à bolha de plástico.
A chuva continuava, insistente, e de meu quarto podia ouvir de quando em quando suas vozes, naquelas conversas pausadas que a gente costuma ter quando está quase adormecendo.
Na manhã seguinte, ao abrir a janela, vi que já não havia qualquer vestígio de chuva ou da existência daqueles nômades. Partiram cedo, levando prole e pertences, inclusive as tiras de papelão que serviram de piso e cama, isolando os corpos do frio do cimento úmido, e o precioso plástico. Ou, quem sabe, tenham mesmo conseguido ficar invisíveis, como quer a indiferença da cidade.
Madô Martins
Nota da autora: Crônica foi esboçada por volta de 2001, mas permanecia inédita. Após tanto tempo, continuam iguais os sentimentos e a situação dos desfavorecidos, o que lamento.
Chovia, e o grupo permaneceu longo tempo acomodado sob o telhado improvisado, com suas crianças e cães em torno de uma pequena fogueira, quem sabe lembrando o fogão e a hora do jantar. Do meu observatório, via somente as pernas flexionadas, pois os rostos permaneciam ocultos na sombra da cobertura.
As dimensões do acampamento chamaram a atenção da polícia, que fazia a ronda e parou a viatura, mas logo percebeu que aquela gente era inofensiva, apenas de pouca sorte.
Quando fui deitar, notei que também eles se preparavam para dormir. Tinham apagado o fogo, aproximado a carroça de catar papelão e coberto inteiramente tudo e todos, dando nova forma à bolha de plástico.
A chuva continuava, insistente, e de meu quarto podia ouvir de quando em quando suas vozes, naquelas conversas pausadas que a gente costuma ter quando está quase adormecendo.
Na manhã seguinte, ao abrir a janela, vi que já não havia qualquer vestígio de chuva ou da existência daqueles nômades. Partiram cedo, levando prole e pertences, inclusive as tiras de papelão que serviram de piso e cama, isolando os corpos do frio do cimento úmido, e o precioso plástico. Ou, quem sabe, tenham mesmo conseguido ficar invisíveis, como quer a indiferença da cidade.
Madô Martins
Nota da autora: Crônica foi esboçada por volta de 2001, mas permanecia inédita. Após tanto tempo, continuam iguais os sentimentos e a situação dos desfavorecidos, o que lamento.
Tem que valer dos 8 aos 80
Nenhum livro realmente vale a pena ler na idade de dez anos que não valha igualmente - e muitas vezes muito mais - na idade de cinquenta anosC.S. Lewis
A primeira noite de liberdade.
Fui levado pela velha até o sótão; o excesso de gentileza era a evidência de que me enganavam. Docilmente me deixei levar; mãos nas minhas costas, ela me conduzia balbuciando consolos. Não ousei fazer perguntas. De qualquer modo, me responderiam com mentiras. Fingindo acreditar no jogo, planejava descobrir tudo por conta própria. Atrás de nós vinha o velho, sorrindo falso. No sótão a velha me mostrou a cama, os lençóis e um imaculado pijama de florzinhas. Quando estivesse pronto, poderia apagar a luz, o interruptor ao lado.
- Você tem medo do escuro?
- Não senhora.
Ela passou a mão na minha cabeça, desajeitada e carinhosa, e saiu fechando a porta. Ouvi passos na escada, arrastar de chinelos, cochichos: os velhos conspiravam. Deitei sem apagar a luz nem trocar de roupa. Fiquei olhando a lâmpada pendurada no teto, telhas à mostra, e aquelas carcaças de móveis antigos e caixotes empoeirados. No entanto, a cama primorosamente limpa, no meio da velharia, só para mim. Não atinava o sentido: o que teria levado os dois velhos (meus inimigos com tantos vidros quebrados em guerras de funda) a me recolherem logo à porta de casa e, ao preço de algumas balas de hortelã, um mingau de aveia e bolachas salgadas, prenderem-me no sótão. Tão inalcançável que nem perderiam tempo me explicando. Quando me subornavam em frente de casa, meu irmão mais velho, de longe, me olhava enviesado e fingia não dar importância. Devia saber de tudo. Tive a impressão de que a mulher com o nariz achatado na vidraça do quarto do meu pai era minha mãe, e olhava também para mim. Talvez. A casa estava escura e cheia de gente. Aceitei as regras e me deixei levar pelos vizinhos; por onde eu passava, os outros me olhavam discretos e respeitosos, como a um príncipe destronado. Aquilo me agradou - por alguns minutos centro das atenções - e passei a mastigar as balas de hortelã fazendo barulho com a boca e respingando saliva, para irritar, mas eu estava imunizado por um respeito sobrenatural. Em seguida me assustei, pressentindo fragilidade na minha posição; era falsa. No fim de tudo por certo eu sairia perdendo.
- O filho do velho!
Uma sombra grande ameaçou me jogar uma pedra; outra sombra, menor, achou graça. Aquilo não tinha lógica. Corri para me esconder atrás da macieira, ainda ouvindo as risadas e as galinhas. Depois voltou o silêncio e o quintal vazio. Precisava encontrar meu pai para lhe dizer o que estava acontecendo (o que me deu um surto de importância pela gravidade do relato) - mas se me vissem em casa seria devolvido ao sótão. Pensei no meu próprio quarto, possivelmente tomado por uma multidão de vultos. Controlei a vontade de chorar e fiquei quieto, pensando em nada. Súbito:
- Psss...
E uma risadinha. Brincavam comigo. Uma pequena sombra se moveu nas folhagens e correu. Silêncio. E o chamado de outro lugar:
- Psss...
Pensei em fantasmas, mas o medo enfraquecia. Novas risadinhas, de criança. Comecei a rir, inseguro:
- Quem é?
Fui à outra arvore e resolvi me esconder também. Nenhum ruído. Pensei ver alguma coisa adiante: sim, uma criança. Corri para lá, não havia nada. De repente duas mãos nos meus olhos:
- Sou eu, bobo! Adivinha!
- Ana?!
Sentamo-nos na grama. Era a vizinha da frente, mesma idade que eu. Misteriosa, ela aproximou a cabeça, mãos em concha na minha orelha; talvez fosse um segredo. Cochichou:
- Deixa eu fazer uma coisa?
- Deixo.
Ela ficou respirando bem no meu ouvido e depois passou a língua devagarinho e eu me arrepiei. Rimos.
- Agora é a tua vez.
Obedeci. Ela fez uma careta e sacudiu a cabeça. Coisas vagamente proibidas, mas também aquilo não tinha graça.
- O que você está fazendo aqui?
- Nada. Vim brincar. Não tem ninguém em casa. Estão todos aí, na festa.
- Já é de noite. Se descobrem...
- Que nada - e fez um muxoxo de pouco caso. - Pouco me importa!
Ficamos um tempo em silêncio. Puxei assunto, com medo de que ela fosse embora.
- O que houve aí em casa, cheio de gente?
- Não sei bem. Acho que morreu o teu pai. Era o que estavam dizendo.
- Ah.
Eu olhava para o telhado da casa.
- Meu pai?
- Acho que é. Não sei bem.
Tentava me lembrar: no dia em que minha vó morreu a madrinha me presenteou com suspiros de açúcar. Tomei uns dois copos d´água antes de dormir. Era como se não houvesse nada:
- Será que o meu pai está aí também? Vamos lá?
Ela se animou:
- Eu entro pela frente e você pelos fundos! Quem encontrar o outro antes ganha!
Concordei. Ela saiu correndo e desapareceu. Fiquei parado. Escondiam meu pai de mim; por isso me levaram ao sótão, me deram balas de hortelã. Tinha uma certa lógica. Momentaneamente tranquilo, corri até os fundos e entrei em casa pela cozinha. Uma multidão falando baixo. Espremido na parede, fui avançando de cabeça baixa; a qualquer momento alguém poderia me pegar e me devolver ao sótão. Ouvi uma voz:
- Esse menino não é filho dele?
Mas eu desapareci adiante. Tentei me concentrar no jogo, procurando a Aninha. Na sala não estava. Só aquele amontoado de pernas, uma zoeira nos ouvidos. Corri até a porta do quarto do meu pai, como quem tem uma ideia. Sentada na cama, minha mãe chorava, rodeada de velhas atenciosas e de xícaras de café. Aquilo me perturbou: vontade de chorar também, a garganta apertada. Era a Morte, o mundo tinha acabado, os homens de preto, as bruxas, a minha mãe estava presa. Também ali não encontrei meu pai. Dei dois passos atrás e entrevi o vulto da Aninha na sala maior, e o plano de surpreendê-la me distraiu. Bastaria me esconder debaixo da mesa, onde estava um caixão com frisos de prata e ouro, velas, castiçais, caras compungidas - uma missa. Fui até lá, surpreso com a minha liberdade: os adultos me evitavam, abriam passagem com uma consideração esquisita. Sob a mesa, um calor abafado e aquele cheiro enjoado de vela queimada. Meus olhos enevoaram-se.
- Te peguei!
- Psss!...
Ali não era permitido gritar, acabariam nos expulsando. Aninha tapou a boca com as duas mãos, escondendo um riso escandaloso. E sussurrou entre os dedos, vitoriosa:
- Te peguei de novo!
Eu me senti enganado: ah, muita confusão, assim não dava para brincar direito. Mudei de assunto:
- Você viu meu pai?
Ela fez que não. Abanou o braço, careta no rosto:
- Muita fumaça aqui. Vamos embora.
Saímos. Ela queria continuar brincando, mas eu perdi a vontade.
- Vamos pra calçada, Aninha. Meu pai deve chegar logo. - Tentei animá-la com o novo jogo: - Vamos procurar?
Ela concordou. Descemos a rua, uma sensação diferente. Nós sabíamos que aquilo não era bem uma brincadeira. Alguém andando na sombra:
- Não é ele?
Eu demorava para responder, fingindo dúvida.
- Não é não. - Um medo de que ela desanimasse: - Mas logo a gente acha!
Prosseguimos em silêncio. Num momento (eu já esperava), Aninha me puxou o braço:
- Eu vou voltar. É tarde. Acho que o teu pai não vem. - Ela não queria me magoar: - Amanhã a gente brinca mais.
Sentei na calçada, um pouco confuso.
- Está bem, Aninha.
Ela se foi. Eu não tinha pressa; até achar o meu pai, estava livre. Eu podia fazer o que quisesse. Depois de um tempo perambulando pelas ruas, comecei a chorar. Quando de novo entrei em casa, havia pouca gente e a sala estava mais escura. Puxei uma cadeira até a mesa, subi nela e descobri meu pai deitado com as mãos cruzadas no peito. Estendi a mão para tocá-lo, mas não toquei. Apoiado na borda do caixão eu olhava para o meu pai, que não se movia, não respirava, não olhava para nada. Alguém me tirou dali mas não me levou ao sótão; beijou minha cabeça e me largou. Fiquei eu e a Morte.
Cristovão Tezza
- Você tem medo do escuro?
- Não senhora.
Ela passou a mão na minha cabeça, desajeitada e carinhosa, e saiu fechando a porta. Ouvi passos na escada, arrastar de chinelos, cochichos: os velhos conspiravam. Deitei sem apagar a luz nem trocar de roupa. Fiquei olhando a lâmpada pendurada no teto, telhas à mostra, e aquelas carcaças de móveis antigos e caixotes empoeirados. No entanto, a cama primorosamente limpa, no meio da velharia, só para mim. Não atinava o sentido: o que teria levado os dois velhos (meus inimigos com tantos vidros quebrados em guerras de funda) a me recolherem logo à porta de casa e, ao preço de algumas balas de hortelã, um mingau de aveia e bolachas salgadas, prenderem-me no sótão. Tão inalcançável que nem perderiam tempo me explicando. Quando me subornavam em frente de casa, meu irmão mais velho, de longe, me olhava enviesado e fingia não dar importância. Devia saber de tudo. Tive a impressão de que a mulher com o nariz achatado na vidraça do quarto do meu pai era minha mãe, e olhava também para mim. Talvez. A casa estava escura e cheia de gente. Aceitei as regras e me deixei levar pelos vizinhos; por onde eu passava, os outros me olhavam discretos e respeitosos, como a um príncipe destronado. Aquilo me agradou - por alguns minutos centro das atenções - e passei a mastigar as balas de hortelã fazendo barulho com a boca e respingando saliva, para irritar, mas eu estava imunizado por um respeito sobrenatural. Em seguida me assustei, pressentindo fragilidade na minha posição; era falsa. No fim de tudo por certo eu sairia perdendo.
Agora estava no sótão. Os olhos bem abertos, não queria dormir sem deslindar o mistério. Como nada me disseram, era eu quem estipulava as regras. Esperava os velhos dormirem; então desceria a escada e voltaria para casa. Foco de luz nos olhos, senti que ia chorar, e chorei, mansinho, com medo de acordar os velhos. Mais calmo - silêncio absoluto, o mundo parado à minha espera - e convencido do meu direito de fazer o que bem entendesse até que a Ordem retornasse, desci a escada, abri a porta da rua e pulei o muro do quintal.
A casa que até então tinha sido minha estava cheia de gente, nas vidraças, nas portas, nas janelas do segundo andar, ninguém se afastando ou se movendo muito, mal erguendo os braços, cochichando, murmurando, sombras vagamente destacadas nas poucas luzes. Senti medo. Pensei em fantasmas, em céu e inferno, em padres. Diziam: se não comer tudo a bruxa vem ou a polícia pega. Era a Morte (um esqueleto debaixo de um lençol) que estava lá em casa. As coisas se esclareciam: talvez o mundo tivesse acabado. O medo cresceu e resolvi me afastar: se me pegassem de novo me levariam ao sótão, já sem nenhuma gentileza.
Nos fundos da casa, atrás do galpão, ouvi uma gritaria esganiçada de galinhas. Corri para lá no escuro. Vultos roubavam galinhas. Com uma vaga indignação - por que justo naquela noite? - me aproximei para expulsá-los, mas a poucos metros o medo me paralisou: a Ordem estava ao contrário. Alguém cochichou:
- O filho do velho!
Uma sombra grande ameaçou me jogar uma pedra; outra sombra, menor, achou graça. Aquilo não tinha lógica. Corri para me esconder atrás da macieira, ainda ouvindo as risadas e as galinhas. Depois voltou o silêncio e o quintal vazio. Precisava encontrar meu pai para lhe dizer o que estava acontecendo (o que me deu um surto de importância pela gravidade do relato) - mas se me vissem em casa seria devolvido ao sótão. Pensei no meu próprio quarto, possivelmente tomado por uma multidão de vultos. Controlei a vontade de chorar e fiquei quieto, pensando em nada. Súbito:
- Psss...
E uma risadinha. Brincavam comigo. Uma pequena sombra se moveu nas folhagens e correu. Silêncio. E o chamado de outro lugar:
- Psss...
Pensei em fantasmas, mas o medo enfraquecia. Novas risadinhas, de criança. Comecei a rir, inseguro:
- Quem é?
Fui à outra arvore e resolvi me esconder também. Nenhum ruído. Pensei ver alguma coisa adiante: sim, uma criança. Corri para lá, não havia nada. De repente duas mãos nos meus olhos:
- Sou eu, bobo! Adivinha!
- Ana?!
Sentamo-nos na grama. Era a vizinha da frente, mesma idade que eu. Misteriosa, ela aproximou a cabeça, mãos em concha na minha orelha; talvez fosse um segredo. Cochichou:
- Deixa eu fazer uma coisa?
- Deixo.
Ela ficou respirando bem no meu ouvido e depois passou a língua devagarinho e eu me arrepiei. Rimos.
- Agora é a tua vez.
Obedeci. Ela fez uma careta e sacudiu a cabeça. Coisas vagamente proibidas, mas também aquilo não tinha graça.
- O que você está fazendo aqui?
- Nada. Vim brincar. Não tem ninguém em casa. Estão todos aí, na festa.
- Já é de noite. Se descobrem...
- Que nada - e fez um muxoxo de pouco caso. - Pouco me importa!
Ficamos um tempo em silêncio. Puxei assunto, com medo de que ela fosse embora.
- O que houve aí em casa, cheio de gente?
- Não sei bem. Acho que morreu o teu pai. Era o que estavam dizendo.
- Ah.
Eu olhava para o telhado da casa.
- Meu pai?
- Acho que é. Não sei bem.
Tentava me lembrar: no dia em que minha vó morreu a madrinha me presenteou com suspiros de açúcar. Tomei uns dois copos d´água antes de dormir. Era como se não houvesse nada:
- Será que o meu pai está aí também? Vamos lá?
Ela se animou:
- Eu entro pela frente e você pelos fundos! Quem encontrar o outro antes ganha!
Concordei. Ela saiu correndo e desapareceu. Fiquei parado. Escondiam meu pai de mim; por isso me levaram ao sótão, me deram balas de hortelã. Tinha uma certa lógica. Momentaneamente tranquilo, corri até os fundos e entrei em casa pela cozinha. Uma multidão falando baixo. Espremido na parede, fui avançando de cabeça baixa; a qualquer momento alguém poderia me pegar e me devolver ao sótão. Ouvi uma voz:
- Esse menino não é filho dele?
Mas eu desapareci adiante. Tentei me concentrar no jogo, procurando a Aninha. Na sala não estava. Só aquele amontoado de pernas, uma zoeira nos ouvidos. Corri até a porta do quarto do meu pai, como quem tem uma ideia. Sentada na cama, minha mãe chorava, rodeada de velhas atenciosas e de xícaras de café. Aquilo me perturbou: vontade de chorar também, a garganta apertada. Era a Morte, o mundo tinha acabado, os homens de preto, as bruxas, a minha mãe estava presa. Também ali não encontrei meu pai. Dei dois passos atrás e entrevi o vulto da Aninha na sala maior, e o plano de surpreendê-la me distraiu. Bastaria me esconder debaixo da mesa, onde estava um caixão com frisos de prata e ouro, velas, castiçais, caras compungidas - uma missa. Fui até lá, surpreso com a minha liberdade: os adultos me evitavam, abriam passagem com uma consideração esquisita. Sob a mesa, um calor abafado e aquele cheiro enjoado de vela queimada. Meus olhos enevoaram-se.
- Te peguei!
- Psss!...
Ali não era permitido gritar, acabariam nos expulsando. Aninha tapou a boca com as duas mãos, escondendo um riso escandaloso. E sussurrou entre os dedos, vitoriosa:
- Te peguei de novo!
Eu me senti enganado: ah, muita confusão, assim não dava para brincar direito. Mudei de assunto:
- Você viu meu pai?
Ela fez que não. Abanou o braço, careta no rosto:
- Muita fumaça aqui. Vamos embora.
Saímos. Ela queria continuar brincando, mas eu perdi a vontade.
- Vamos pra calçada, Aninha. Meu pai deve chegar logo. - Tentei animá-la com o novo jogo: - Vamos procurar?
Ela concordou. Descemos a rua, uma sensação diferente. Nós sabíamos que aquilo não era bem uma brincadeira. Alguém andando na sombra:
- Não é ele?
Eu demorava para responder, fingindo dúvida.
- Não é não. - Um medo de que ela desanimasse: - Mas logo a gente acha!
Prosseguimos em silêncio. Num momento (eu já esperava), Aninha me puxou o braço:
- Eu vou voltar. É tarde. Acho que o teu pai não vem. - Ela não queria me magoar: - Amanhã a gente brinca mais.
Sentei na calçada, um pouco confuso.
- Está bem, Aninha.
Ela se foi. Eu não tinha pressa; até achar o meu pai, estava livre. Eu podia fazer o que quisesse. Depois de um tempo perambulando pelas ruas, comecei a chorar. Quando de novo entrei em casa, havia pouca gente e a sala estava mais escura. Puxei uma cadeira até a mesa, subi nela e descobri meu pai deitado com as mãos cruzadas no peito. Estendi a mão para tocá-lo, mas não toquei. Apoiado na borda do caixão eu olhava para o meu pai, que não se movia, não respirava, não olhava para nada. Alguém me tirou dali mas não me levou ao sótão; beijou minha cabeça e me largou. Fiquei eu e a Morte.
Cristovão Tezza
quinta-feira, novembro 24
O silêncio do Universo
Uma noite dessas, meu filho e xará, que é professor de Cosmologia, me chamou, quase num cochicho: "Venha ver uma coisa, papai". E me mostrando o céu limpo de nuvens e iluminado de estrelas, apontou-me o planeta Marte, informando: "Foi há mais de sessenta milênios que o vimos com aquele brilho". Olhei a estrela, ouvi o silêncio e me lembrei daquele espanto de Pascal: "O silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora".
Aí me veio uma profunda piedade pelos orgulhosos, os vaidosos, os que não sabem olhar para cima e que só enxergam as miudezas da vida, que se angustiam por qualquer besteira, que não sabem ser humildes. Mas, afinal, como podemos definir humildade? Ninguém definiu melhor esta difícil e sábia virtude do que Emmanuel, o guia de Chico Xavier: "Humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do Universo". Melhor definição ainda não vi.
A humildade, que não deve ser confundida com servidão ou subserviência, é filha da sabedoria. Olhar a vida com humildade é acordar para uma realidade: quanto mais crescemos, quanto mais nos elevamos, mais nos conscientizamos da nossa diminuta condição diante do Cosmo.
O céu imenso e silencioso diante do nosso olhar, cá em baixo, dava naquele momento uma lição de humildade. Há mais de 2.000 anos que o Cristo veio ao mundo. Mas o que são dois mil anos diante do tempo que transcorreu para Marte voltar a se aproximar do nosso planeta? E agora só em 2.287 o planeta vermelho estará novamente bem juntinho da nossa Terra.
E nós? Onde estaremos? Quantas vidas ainda nos esperam? Só aqueles que vivem olhando para frente ou para o chão é que não percebem a misteriosa grandiosidade sobre suas cabeças.
Humildade... Eis a atitude a tomar diante do espetáculo do mundo. A verdade é que o infinitamente grande e o infinitamente pequeno se confundem e nos assustam. Pascal se espantou com o espetáculo sideral e não se lembrou que dentro dele há também um universo imenso, formado de trilhões de células. É preciso, vez por outra, olhar as estrelas do céu e fazer uma reflexão sobre a nossa vida e a nossa pobre e ridícula vaidade humana.
Carlos Romero
Aí me veio uma profunda piedade pelos orgulhosos, os vaidosos, os que não sabem olhar para cima e que só enxergam as miudezas da vida, que se angustiam por qualquer besteira, que não sabem ser humildes. Mas, afinal, como podemos definir humildade? Ninguém definiu melhor esta difícil e sábia virtude do que Emmanuel, o guia de Chico Xavier: "Humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do Universo". Melhor definição ainda não vi.
A humildade, que não deve ser confundida com servidão ou subserviência, é filha da sabedoria. Olhar a vida com humildade é acordar para uma realidade: quanto mais crescemos, quanto mais nos elevamos, mais nos conscientizamos da nossa diminuta condição diante do Cosmo.
O céu imenso e silencioso diante do nosso olhar, cá em baixo, dava naquele momento uma lição de humildade. Há mais de 2.000 anos que o Cristo veio ao mundo. Mas o que são dois mil anos diante do tempo que transcorreu para Marte voltar a se aproximar do nosso planeta? E agora só em 2.287 o planeta vermelho estará novamente bem juntinho da nossa Terra.
E nós? Onde estaremos? Quantas vidas ainda nos esperam? Só aqueles que vivem olhando para frente ou para o chão é que não percebem a misteriosa grandiosidade sobre suas cabeças.
Humildade... Eis a atitude a tomar diante do espetáculo do mundo. A verdade é que o infinitamente grande e o infinitamente pequeno se confundem e nos assustam. Pascal se espantou com o espetáculo sideral e não se lembrou que dentro dele há também um universo imenso, formado de trilhões de células. É preciso, vez por outra, olhar as estrelas do céu e fazer uma reflexão sobre a nossa vida e a nossa pobre e ridícula vaidade humana.
Carlos Romero
O compadre da Morte
Diz que era uma vez um homem que tinha tantos filhos que não achava mais quem fosse seu compadre. Nascendo mais um filhinho, saiu para procurar quem o apadrinhasse e depois de muito andar encontrou a Morte a quem convidou. A Morte aceitou e foi a madrinha da criança. Quando acabou o batizado voltaram para casa e a madrinha disse ao compadre:
- Compadre! Quero fazer um presente ao meu afilhado e penso que é melhor enriquecer o pai. Você vai ser médico de hoje em diante e nunca errará no que disser. Quando for visitar um doente me verá sempre. Se eu estiver na cabeceira do enfermo, receite até água pura que ele ficará bom. Se eu estiver nos pés, não faça nada porque é um caso perdido.
O homem assim fez. Botou aviso que era médico e ficou rico do dia para a noite porque não errava. Olhava o doente e ia logo dizendo:
Ou então:
- Tratem do caixão dele!
Quem ele tratava, ficava bom. O homem nadava em dinheiro.
- Prometo! - disse a Morte.
Levou o homem num relâmpago até sua casa.
Tratou muito bem e mostrou a casa toda. O médico viu um salão cheio-cheio de velas acessas, de todos os tamanhos, uma já se apagando, outras viva, outras esmorecendo. Perguntou o que era:
É a vida do homem. Cada homem tem uma vela acessa. Quando a vela acaba, o homem morre.
O médico foi perguntando pela vida dos amigos e conhecidos e vendo o estado das vidas. Até que lhe palpitou perguntar pela sua. A Morte mostrou um cotoquinho no fim.
- Virgem Maria! Essa é que é a minha? Então eu estou, morre-não-morre!
A Morte disse:
- Está com horas de vida e por isso eu trouxe você para aqui como amigo mas você me fez jurar que voltaria e eu vou levá-lo para você morrer em casa.
O médico quando deu acordo de si estava na sua cama rodeado pela família.
O homem começou a rezar o Padre-Nosso que estás no céu... E calou-se. Vai a Morte e diz:
- Vamos, compadre, reze o resto da oração!
- Nem pense nisso, comadre! Você jurou que me dava tempo de rezar o Padre-Nosso mas eu não expliquei quanto tempo vai durar minha reza. Vai durar anos e anos...
A Morte foi-se embora, zangada pela sabedoria do compadre.
Anos e anos depois, o médico, velhinho e engelhado, ia passeando nas suas grandes propriedades quando reparou que os animais tinham furado a cerca e estragado o jardim, cheio de flores. O homem, bem contrariado disse:
- Só queria morrer para não ver uma miséria destas!...
Não fechou a boca e a Morte bateu em cima, carregando-o. A gente pode enganar a Morte duas vezes mas na terceira é enganado por ela.
Luís da Câmara Cascudo, "Contos tradicionais do Brasil".
- Compadre! Quero fazer um presente ao meu afilhado e penso que é melhor enriquecer o pai. Você vai ser médico de hoje em diante e nunca errará no que disser. Quando for visitar um doente me verá sempre. Se eu estiver na cabeceira do enfermo, receite até água pura que ele ficará bom. Se eu estiver nos pés, não faça nada porque é um caso perdido.
O homem assim fez. Botou aviso que era médico e ficou rico do dia para a noite porque não errava. Olhava o doente e ia logo dizendo:
Ou então:
- Tratem do caixão dele!
Quem ele tratava, ficava bom. O homem nadava em dinheiro.
Vai um dia adoeceu o filho do rei e este mandou buscar o médico, oferecendo uma riqueza pela vida do príncipe. O homem foi e viu a Morte sentada nos pés da cama. Como não queria perder a fama, resolveu enganar a comadre, e mandou que os criados virassem a cama, os pés passaram para a cabeceira e a cabeceira para os pés. A Morte, muito contrariada, foi-se embora, resmungando.
O médico estava em casa um dia quando apareceu sua comadre e o convidou para visitá-la.
- Eu vou, disse o médico - se você jurar que voltarei!
O médico estava em casa um dia quando apareceu sua comadre e o convidou para visitá-la.
- Eu vou, disse o médico - se você jurar que voltarei!
- Prometo! - disse a Morte.
Levou o homem num relâmpago até sua casa.
Tratou muito bem e mostrou a casa toda. O médico viu um salão cheio-cheio de velas acessas, de todos os tamanhos, uma já se apagando, outras viva, outras esmorecendo. Perguntou o que era:
É a vida do homem. Cada homem tem uma vela acessa. Quando a vela acaba, o homem morre.
O médico foi perguntando pela vida dos amigos e conhecidos e vendo o estado das vidas. Até que lhe palpitou perguntar pela sua. A Morte mostrou um cotoquinho no fim.
- Virgem Maria! Essa é que é a minha? Então eu estou, morre-não-morre!
A Morte disse:
- Está com horas de vida e por isso eu trouxe você para aqui como amigo mas você me fez jurar que voltaria e eu vou levá-lo para você morrer em casa.
O médico quando deu acordo de si estava na sua cama rodeado pela família.
Chamou a comadre e pediu:
- Comadre, me faça o último favor. Deixe eu rezar um Padre-Nosso. Não me leves antes. Jura?
- Comadre, me faça o último favor. Deixe eu rezar um Padre-Nosso. Não me leves antes. Jura?
- Juro -, prometeu a Morte.
O homem começou a rezar o Padre-Nosso que estás no céu... E calou-se. Vai a Morte e diz:
- Vamos, compadre, reze o resto da oração!
- Nem pense nisso, comadre! Você jurou que me dava tempo de rezar o Padre-Nosso mas eu não expliquei quanto tempo vai durar minha reza. Vai durar anos e anos...
A Morte foi-se embora, zangada pela sabedoria do compadre.
Anos e anos depois, o médico, velhinho e engelhado, ia passeando nas suas grandes propriedades quando reparou que os animais tinham furado a cerca e estragado o jardim, cheio de flores. O homem, bem contrariado disse:
- Só queria morrer para não ver uma miséria destas!...
Não fechou a boca e a Morte bateu em cima, carregando-o. A gente pode enganar a Morte duas vezes mas na terceira é enganado por ela.
Luís da Câmara Cascudo, "Contos tradicionais do Brasil".
quarta-feira, novembro 23
Cinerárias no peitoril
 |
| Grã-duquesa Olga (Rússia, 1882-1960) |
Ladyce West
A inspiração
O busto grande, quadris largos, olhos castos, castanhos e sonhadores. Uma vez ou outra exclamava. Disse com ar alegre, aflito, muito rápido como para que não a ouvissem totalmente:
– Acho que eu não podia ser escritora, sou tão... tão resumida!
Um dia, porém, como escondida de si mesma, teve uma inspiração e anotou no caderno de despesas algumas frases sobre a beleza do Pão de Açúcar. Só algumas palavras, ela era resumida. Muito tempo depois, numa tarde em que estava só, lembrou-se de que escrevera alguma coisa sobre alguma coisa – sobre o Corcovado? Sobre o mar? Só se lembrava de que havia usado as palavras “beleza muito pitoresca”. Foi procurar o antigo caderno de despesas. Por toda a casa. Móvel por móvel. Abria caixas de sapatos na esperança de ter sido tão secretiva quanto a sua inspiração a ponto de guardar o escrito revelador de sua alma numa caixa de sapatos. Teria sido uma boa ideia. Aos poucos a sufocação crescia, ela passava a mão pela testa – agora era mais do que o caderno de despesas que ela procurava, procurava o que a inspiração lhe ditara, vejamos, paciência, procuraremos de novo. O que estaria escrito no caderno? Lembrava-se de que era algo muito espiritual sobre alguma coisa pitoresca. Pitoresco era para ela o máximo. Procuremos, é questão de força de vontade, é questão de ir e pegá-lo. Que desastre – sentia imóvel no meio da sala, sem direção, sem saber onde mais procurar – que desastre. A casa calma à tarde. E em alguma parte havia uma coisa escrita, um pensamento íntimo, disso tinha certeza. Desabotoou afogueada a gola da blusa: não achar seria perder alguma coisa muito sua. Não desanime, dizia-se, procure entre os papéis, entre as cartas, entre as raras notícias que lhe mandavam. Ah, raciocinava ilogicamente, tivessem-lhe escrito mais e ela teria onde procurar. Mas sua vida ordenada era exposta, tinha poucos esconderijos, era limpa. O único esconderijo era a sua alma que uma vez se manifestara no caderno de despesas. Mas que felicidade ter móveis, caixas onde encontrar por acaso.
– Quando eu era mais moça, eu escrevia.
Clarice Lispector, "Todas as crônicas"
– Acho que eu não podia ser escritora, sou tão... tão resumida!
Um dia, porém, como escondida de si mesma, teve uma inspiração e anotou no caderno de despesas algumas frases sobre a beleza do Pão de Açúcar. Só algumas palavras, ela era resumida. Muito tempo depois, numa tarde em que estava só, lembrou-se de que escrevera alguma coisa sobre alguma coisa – sobre o Corcovado? Sobre o mar? Só se lembrava de que havia usado as palavras “beleza muito pitoresca”. Foi procurar o antigo caderno de despesas. Por toda a casa. Móvel por móvel. Abria caixas de sapatos na esperança de ter sido tão secretiva quanto a sua inspiração a ponto de guardar o escrito revelador de sua alma numa caixa de sapatos. Teria sido uma boa ideia. Aos poucos a sufocação crescia, ela passava a mão pela testa – agora era mais do que o caderno de despesas que ela procurava, procurava o que a inspiração lhe ditara, vejamos, paciência, procuraremos de novo. O que estaria escrito no caderno? Lembrava-se de que era algo muito espiritual sobre alguma coisa pitoresca. Pitoresco era para ela o máximo. Procuremos, é questão de força de vontade, é questão de ir e pegá-lo. Que desastre – sentia imóvel no meio da sala, sem direção, sem saber onde mais procurar – que desastre. A casa calma à tarde. E em alguma parte havia uma coisa escrita, um pensamento íntimo, disso tinha certeza. Desabotoou afogueada a gola da blusa: não achar seria perder alguma coisa muito sua. Não desanime, dizia-se, procure entre os papéis, entre as cartas, entre as raras notícias que lhe mandavam. Ah, raciocinava ilogicamente, tivessem-lhe escrito mais e ela teria onde procurar. Mas sua vida ordenada era exposta, tinha poucos esconderijos, era limpa. O único esconderijo era a sua alma que uma vez se manifestara no caderno de despesas. Mas que felicidade ter móveis, caixas onde encontrar por acaso.
Uma vez ou outra procurava de novo. De vez em quando se lembrava do caderno de despesas num sobressalto de esperança. Até que, depois de alguns anos, um dia ela disse, modesta:
– Quando eu era mais moça, eu escrevia.
Clarice Lispector, "Todas as crônicas"
Celebração da fantasia
Foi na entrada da aldeia de Ollantaytambo, perto de Cuzco. Eu tinha-me livrado de um grupo de turistas e estava sozinho, olhando de longe as ruínas de pedra, quando um menino do lugar, esquelético, esfarrapado, se aproximou para me pedir que lhe desse como presente uma caneta. Eu não podia dar a caneta que tinha, porque estava a usá-la para fazer sei lá que anotações, mas ofereci-me para desenhar um porquinho na sua mão.
Subitamente, correu a notícia. E de repente vi-me cercado por um enxame de meninos que exigiam, aos berros, que eu desenhasse nas suas mãozinhas, rachadas de sujidade e de frio, pele de couro queimado: havia os que queriam um condor e uma serpente, outros preferiam periquitos ou corujas, e não faltava quem pedisse um fantasma ou um dragão.
E então, no meio daquele alvoroço, um desamparadozinho que não chegava a mais de um metro do chão, mostrou-me um relógio desenhado com tinta negra no seu pulso:
— Quem me mandou o relógio foi um tio meu, que mora em Lima — disse ele.
— E funciona bem? — perguntei.
— Atrasa um pouco — reconheceu.
Eduardo Galeano, "O livro dos abraços"
Subitamente, correu a notícia. E de repente vi-me cercado por um enxame de meninos que exigiam, aos berros, que eu desenhasse nas suas mãozinhas, rachadas de sujidade e de frio, pele de couro queimado: havia os que queriam um condor e uma serpente, outros preferiam periquitos ou corujas, e não faltava quem pedisse um fantasma ou um dragão.
E então, no meio daquele alvoroço, um desamparadozinho que não chegava a mais de um metro do chão, mostrou-me um relógio desenhado com tinta negra no seu pulso:
— Quem me mandou o relógio foi um tio meu, que mora em Lima — disse ele.
— E funciona bem? — perguntei.
— Atrasa um pouco — reconheceu.
Eduardo Galeano, "O livro dos abraços"
terça-feira, novembro 22
O afogado mais bonito do mundo
Sou antropófago. Devoro livros. Quem me ensinou foi Murilo Mendes: livros são feitos com a carne e o sangue dos que os escreveram. Os hábitos de antropófago determinam a maneira como escolho livros. Só leio livros escritos com sangue. Depois que os devoro, deixam de pertencer ao autor. São meus porque circulam na minha carne e no meu sangue.
É sobre uma vila de pescadores perdida em nenhum lugar, o enfado misturado com o ar, cada novo dia já nascendo velho, as mesmas palavras ocas, os mesmos gestos vazios, os mesmos corpos opacos, a excitação do amor sendo algo de que ninguém mais se lembrava…
Aconteceu que, num dia como todos os outros, um menino viu uma forma estranha flutuando longe no mar. E ele gritou. Todos correram. Num lugar como aquele até uma forma estranha é motivo de festa. E ali ficaram na praia, olhando, esperando. Até que o mar, sem pressa, trouxe a coisa e a colocou na areia, para o desapontamento de todos: era um homem morto.
Todos os homens mortos são parecidos porque há apenas uma coisa a se fazer com eles: enterrar. E, naquela vila, o costume era que as mulheres preparassem os mortos para o sepultamento. Assim, carregaram o cadáver para uma casa, as mulheres dentro, os homens fora. E o silêncio era grande enquanto o limpavam das algas e liquens, mortalhas verdes do mar.
Mas, repentinamente, uma voz quebrou o silêncio. Uma mulher balbuciou: “Se ele tivesse vivido entre nós, ele teria de ter curvado a cabeça sempre ao entrar em nossas casas. Ele é muito alto...”.
Todas as mulheres, sérias e silenciosas, fizeram sim com a cabeça. De novo o silêncio foi profundo, até que uma outra voz foi ouvida. Outra mulher... “Fico pensando em como teria sido a sua voz... Como o sussurro da brisa? Como o trovão das ondas? Será que ele conhecia aquela palavra secreta que, quando pronunciada, faz com que uma mulher apanhe uma flor e a coloque no cabelo?” E elas sorriram e olharam umas para as outras.
De novo o silêncio. E, de novo, a voz de outra mulher... “Essas mãos... Como são grandes! Que será que fizeram? Brincaram com crianças? Navegaram mares? Travaram batalhas? Construíram casas? Essas mãos: será que elas sabiam deslizar sobre o rosto de uma mulher, será que elas sabiam abraçar e acariciar o seu corpo?”
Aí todas elas riram que riram, suas faces vermelhas, e se surpreenderam ao perceber que o enterro estava se transformando numa ressurreição: um movimento nas suas carnes, sonhos esquecidos, que pensavam mortos, retornavam, cinzas virando fogo, desejos proibidos aparecendo na superfície de sua pele, os corpos vivos de novo e os rostos opacos brilhando com a luz da alegria.
Os maridos, de fora, observavam o que estava acontecendo e ficaram com ciúmes do afogado, ao perceberem que um morto tinha um poder que eles mesmos não tinham mais. E pensaram nos sonhos que nunca haviam tido, nos poemas que nunca haviam escrito, nos mares que nunca tinham navegado, nas mulheres que nunca haviam desejado.
A história termina dizendo que finalmente enterraram o morto. Mas a aldeia nunca mais foi a mesma.
Rubem Alves
É o o caso do conto "O Afogado Mais Bonito do Mundo", de Gabriel García Márquez. Ele escreveu. Eu li e devorei. Agora é meu. Eu o reconto.
É sobre uma vila de pescadores perdida em nenhum lugar, o enfado misturado com o ar, cada novo dia já nascendo velho, as mesmas palavras ocas, os mesmos gestos vazios, os mesmos corpos opacos, a excitação do amor sendo algo de que ninguém mais se lembrava…
Aconteceu que, num dia como todos os outros, um menino viu uma forma estranha flutuando longe no mar. E ele gritou. Todos correram. Num lugar como aquele até uma forma estranha é motivo de festa. E ali ficaram na praia, olhando, esperando. Até que o mar, sem pressa, trouxe a coisa e a colocou na areia, para o desapontamento de todos: era um homem morto.
Todos os homens mortos são parecidos porque há apenas uma coisa a se fazer com eles: enterrar. E, naquela vila, o costume era que as mulheres preparassem os mortos para o sepultamento. Assim, carregaram o cadáver para uma casa, as mulheres dentro, os homens fora. E o silêncio era grande enquanto o limpavam das algas e liquens, mortalhas verdes do mar.
Mas, repentinamente, uma voz quebrou o silêncio. Uma mulher balbuciou: “Se ele tivesse vivido entre nós, ele teria de ter curvado a cabeça sempre ao entrar em nossas casas. Ele é muito alto...”.
Todas as mulheres, sérias e silenciosas, fizeram sim com a cabeça. De novo o silêncio foi profundo, até que uma outra voz foi ouvida. Outra mulher... “Fico pensando em como teria sido a sua voz... Como o sussurro da brisa? Como o trovão das ondas? Será que ele conhecia aquela palavra secreta que, quando pronunciada, faz com que uma mulher apanhe uma flor e a coloque no cabelo?” E elas sorriram e olharam umas para as outras.
De novo o silêncio. E, de novo, a voz de outra mulher... “Essas mãos... Como são grandes! Que será que fizeram? Brincaram com crianças? Navegaram mares? Travaram batalhas? Construíram casas? Essas mãos: será que elas sabiam deslizar sobre o rosto de uma mulher, será que elas sabiam abraçar e acariciar o seu corpo?”
Aí todas elas riram que riram, suas faces vermelhas, e se surpreenderam ao perceber que o enterro estava se transformando numa ressurreição: um movimento nas suas carnes, sonhos esquecidos, que pensavam mortos, retornavam, cinzas virando fogo, desejos proibidos aparecendo na superfície de sua pele, os corpos vivos de novo e os rostos opacos brilhando com a luz da alegria.
Os maridos, de fora, observavam o que estava acontecendo e ficaram com ciúmes do afogado, ao perceberem que um morto tinha um poder que eles mesmos não tinham mais. E pensaram nos sonhos que nunca haviam tido, nos poemas que nunca haviam escrito, nos mares que nunca tinham navegado, nas mulheres que nunca haviam desejado.
A história termina dizendo que finalmente enterraram o morto. Mas a aldeia nunca mais foi a mesma.
Rubem Alves
No ginásio
Sem dúvida, estou sonhando. Estou no ginásio. Tenho quinze anos. Resolvo pacientemente meu problema de geometria. Apoiado na carteira escura, uso direitinho o compasso, a régua, o transferidor. Estou concentrado e tranquilo. Os camaradas, atrás de mim, falam baixinho. Um deles alinha as cifras num quadro negro. Alguns, menos sérios, jogam bridge. De quando em quando, mergulho mais longe no sonho e dou uma espiada pela janela. Um galho de árvore oscila docemente ao sol. Fico olhando muito tempo. Sou um aluno distraído… Sinto prazer em experimentar esse sol, como em saborear esse odor infantil da carteira, do giz, do quadro-negro. Encerro-me com tanta alegria nessa infância bem protegida. Bem sei: primeiro, há a infância, o ginásio, os camaradas, depois chega o dia em que fazemos os exames. Em que recebemos algum diploma. Em que atravessamos, com um aperto no coração, um certo limiar além do qual, subitamente, somos homens. Então o passo fica mais pesado, mais no chão. Já estamos traçando nosso caminho na vida. Testaremos enfim nossas armas em adversários de verdade. A régua, o esquadro, o compasso, nós os usaremos para construir o mundo ou para triunfar sobre os inimigos. Acabaram as brincadeiras!
Mas eis que sou um colegial esquisito. Sou um colegial que conhece sua felicidade e que não tem tanta pressa de enfrentar a vida…
Dutertre passa. Eu o convido.
— Senta aqui, vou te fazer um truque com o baralho…
E fico feliz em achar seu ás de espadas.
À minha frente, em sua carteira, escura como a minha, Dutertre está sentado com as pernas pendentes. Ele ri. Sorrio modestamente. Pénicot se junta a nós e põe o braço no meu ombro:
— E então, meu velho?
Meu Deus, como tudo isso é terno!
Antoine de Saint-Exupéry, "Piloto de guerra"
Sei que, normalmente, um colegial não receia enfrentar a vida. Um colegial esperneia de impaciência. Os tormentos, os perigos, as amarguras de uma vida de homem não intimidam um colegial.
Mas eis que sou um colegial esquisito. Sou um colegial que conhece sua felicidade e que não tem tanta pressa de enfrentar a vida…
Dutertre passa. Eu o convido.
— Senta aqui, vou te fazer um truque com o baralho…
E fico feliz em achar seu ás de espadas.
À minha frente, em sua carteira, escura como a minha, Dutertre está sentado com as pernas pendentes. Ele ri. Sorrio modestamente. Pénicot se junta a nós e põe o braço no meu ombro:
— E então, meu velho?
Meu Deus, como tudo isso é terno!
Antoine de Saint-Exupéry, "Piloto de guerra"
segunda-feira, novembro 21
Chuva com Lembranças
Começam a cair uns pingos de chuva. Tão leves e raros que nem as borboletas ainda perceberam, e continuam a pousar, às tontas, de jasmim em jasmim. As pedras estão muito quentes, e cada gota que cai logo se evapora. Os meninos olham para o céu cinzento, estendem a mão — e vão tratar de outra coisa. (Como desejariam pular em poças d’água! — Mas a chuva não vem...)
Nas terras secas, tanta gente, a esta hora, estará procurando também no céu um sinal de chuva! E, nas terras inundadas, quanta gente a suspirar por um raio de sol!
Penso em chuvas de outrora: chuvas matinais, que molham cabelos soltos, que despencam as flores das cercas, entram pelos cadernos escolares e vão apagar a caprichosa caligrafia dos exercícios.
Chuvas de viagens: tempestades na Mantiqueira, quando nem os ponteiros dos para-brisas dão vencimento à água; quando apenas se avista, recortada na noite, a paisagem súbita e fosfórea mostrada pelos relâmpagos. Catadupas despenhando sobre Veneza, misturando o céu e os canais numa água única, e transformando o Palácio dos Doges num imenso barco mágico, onde se movem, pelos tetos e paredes, os deuses do paganismo e os santos cristãos. Chuva da Galileia, salpicando as ruas pobres de Nazaré, regando os campos virentes, toldando o lago de Tiberíades coberto ainda pelo eterno olhar dos Apóstolos. Chuva pontual sobre os belos campos semeados da França, e na fluida paisagem belga, por onde imensos cavalos sacodem, com displicente orgulho, a dourada crina...
Chuvas antigas, nesta cidade nossa, de perpétuas enchentes: a de 1811, que, com o desabamento de uma parte do morro do Castelo, soterrou várias pessoas, arrastou pontes, destruiu caminhos e causou tal pânico que durante sete dias as igrejas e capelas estiveram abertas, acesas, com os sacerdotes e o povo a implorarem a misericórdia divina. Uma, de 1864, que Vieira Fazenda descreve minuciosamente, com árvores arrancadas, janelas partidas, telhados pelos ares, desastres no mar e “vinte mil Lampiões da iluminação pública completamente inutilizados”.
Chuvas modernas, sem trovoada, sem igrejas em prece, mas com as ruas igualmente transformadas em rios, os barracos a escorregarem pelos morros, barreiras, pedras, telheiros a soterrarem pobre gente. Chuvas que interrompem estradas, estragam lavouras, deixam na miséria aqueles justamente que desejariam a boa rega do céu para a fecundidade de seus campos.
Por enquanto, caem apenas algumas gotas daqui e dali. Nem as borboletas ainda percebem. Os meninos esperam em vão pelas poças d’água onde pulariam contentes. Tudo é apenas calor e céu cinzento, um céu de pedra onde os sábios e avisados tantas coisas liam outrora:
"São Jerônimo, Santa Bárbara Virgem, lá no céu está escrito, entre a cruz e a água benta:
Livrai-nos, Senhor, desta tormenta!”
Cecília Meireles, "Escolha o seu sonho"
Nas terras secas, tanta gente, a esta hora, estará procurando também no céu um sinal de chuva! E, nas terras inundadas, quanta gente a suspirar por um raio de sol!
Penso em chuvas de outrora: chuvas matinais, que molham cabelos soltos, que despencam as flores das cercas, entram pelos cadernos escolares e vão apagar a caprichosa caligrafia dos exercícios.
Chuvas de viagens: tempestades na Mantiqueira, quando nem os ponteiros dos para-brisas dão vencimento à água; quando apenas se avista, recortada na noite, a paisagem súbita e fosfórea mostrada pelos relâmpagos. Catadupas despenhando sobre Veneza, misturando o céu e os canais numa água única, e transformando o Palácio dos Doges num imenso barco mágico, onde se movem, pelos tetos e paredes, os deuses do paganismo e os santos cristãos. Chuva da Galileia, salpicando as ruas pobres de Nazaré, regando os campos virentes, toldando o lago de Tiberíades coberto ainda pelo eterno olhar dos Apóstolos. Chuva pontual sobre os belos campos semeados da França, e na fluida paisagem belga, por onde imensos cavalos sacodem, com displicente orgulho, a dourada crina...
Chuvas antigas, nesta cidade nossa, de perpétuas enchentes: a de 1811, que, com o desabamento de uma parte do morro do Castelo, soterrou várias pessoas, arrastou pontes, destruiu caminhos e causou tal pânico que durante sete dias as igrejas e capelas estiveram abertas, acesas, com os sacerdotes e o povo a implorarem a misericórdia divina. Uma, de 1864, que Vieira Fazenda descreve minuciosamente, com árvores arrancadas, janelas partidas, telhados pelos ares, desastres no mar e “vinte mil Lampiões da iluminação pública completamente inutilizados”.
Chuvas modernas, sem trovoada, sem igrejas em prece, mas com as ruas igualmente transformadas em rios, os barracos a escorregarem pelos morros, barreiras, pedras, telheiros a soterrarem pobre gente. Chuvas que interrompem estradas, estragam lavouras, deixam na miséria aqueles justamente que desejariam a boa rega do céu para a fecundidade de seus campos.
Por enquanto, caem apenas algumas gotas daqui e dali. Nem as borboletas ainda percebem. Os meninos esperam em vão pelas poças d’água onde pulariam contentes. Tudo é apenas calor e céu cinzento, um céu de pedra onde os sábios e avisados tantas coisas liam outrora:
"São Jerônimo, Santa Bárbara Virgem, lá no céu está escrito, entre a cruz e a água benta:
Livrai-nos, Senhor, desta tormenta!”
Cecília Meireles, "Escolha o seu sonho"
A mata intacta
É perigoso andar na mata, propaga a voz dos mais velhos.
Cada bicho traiçoeiro vive lá na terra e ar.
É assim mesmo como dizem? A natureza estabeleceu sua ordem para que os habitantes da mata saibam que lá existem vida e morte.
Há movimentos nos ciclos vitais de cada estação, surpresas com os verdes e sustos nos maduros.
Lá não se mata por prazer, somente para comer, defender-se ou proteger o filhote. Os bichos pulam nos galhos, macaco faz deles seu trapézio dado por Deus. Pendurado no cipó vai de uma árvore distante a outra. Alegres festejam a vida quando encontram nos galhos os frutos maduros e doces.
Tem um sono milenar. A cabeleira verde quase sem fim. Uma magia que não se revela, lavada pela chuva ninguém sabe como aparece.
No chão coberto de folhas a planta nasce entre os escombros da árvore tombada. Viceja e vira outra árvore. Leva anos para virar de muitos andares, morada dos bichos e pássaros. Vem o homem com a serra, num instante põe abaixo o que natureza demorou anos para fazer com engenho e arte.
Será que nunca sabe que sem as árvores a mata recua, os bichos desaparecem, as nuvens passam longe, levando com elas a chuva. A terra fica deserta, sem os sons e as cores não se vê mais festa nos dias.
No seio fresco da mata a flor é tecida com o sonho, o ramo de luz com o verde. Riacho mina na pedra, desce, dá volta como cobra, barco da noite com a lua no cipoal derrama prata.
Quando vai à mata a índia, na trilha caminha esperta, acode nas asas maternais o bicho que caiu na cilada. Solta o passarinho no alçapão, protege perdido o filhote, fica admirando o carinho que as araras fazem uma na outra.
Rio não se esconde da chuva, a terra não dorme amarga.
Abelhas operosas zumbem, de mel fabricam as horas.
Macaco, tamanduá-bandeira, preguiça, capivara, veado.
De dia expelem odores. estrelas carregam à noite.
Cyro de Mattos
Cada bicho traiçoeiro vive lá na terra e ar.
É assim mesmo como dizem? A natureza estabeleceu sua ordem para que os habitantes da mata saibam que lá existem vida e morte.
Há movimentos nos ciclos vitais de cada estação, surpresas com os verdes e sustos nos maduros.
Lá não se mata por prazer, somente para comer, defender-se ou proteger o filhote. Os bichos pulam nos galhos, macaco faz deles seu trapézio dado por Deus. Pendurado no cipó vai de uma árvore distante a outra. Alegres festejam a vida quando encontram nos galhos os frutos maduros e doces.
Tem um sono milenar. A cabeleira verde quase sem fim. Uma magia que não se revela, lavada pela chuva ninguém sabe como aparece.
No chão coberto de folhas a planta nasce entre os escombros da árvore tombada. Viceja e vira outra árvore. Leva anos para virar de muitos andares, morada dos bichos e pássaros. Vem o homem com a serra, num instante põe abaixo o que natureza demorou anos para fazer com engenho e arte.
Será que nunca sabe que sem as árvores a mata recua, os bichos desaparecem, as nuvens passam longe, levando com elas a chuva. A terra fica deserta, sem os sons e as cores não se vê mais festa nos dias.
No seio fresco da mata a flor é tecida com o sonho, o ramo de luz com o verde. Riacho mina na pedra, desce, dá volta como cobra, barco da noite com a lua no cipoal derrama prata.
Quando vai à mata a índia, na trilha caminha esperta, acode nas asas maternais o bicho que caiu na cilada. Solta o passarinho no alçapão, protege perdido o filhote, fica admirando o carinho que as araras fazem uma na outra.
Rio não se esconde da chuva, a terra não dorme amarga.
Abelhas operosas zumbem, de mel fabricam as horas.
Macaco, tamanduá-bandeira, preguiça, capivara, veado.
De dia expelem odores. estrelas carregam à noite.
Cyro de Mattos
sábado, novembro 19
Se eu fosse pintor...
Se eu fosse pintor começaria a delinear este primeiro plano de trepadeiras entrelaçadas, com pequenos jasmins e grandes campânulas roxas, por onde flutua uma borboleta cor de marfim, com um pouco de ouro nas pontas das asas.
Mas logo depois, entre o primeiro plano e a casa fechada, há pombos de cintilante alvura, e pássaros azuis tão rápidos e certeiros que seria impossível deixar de fixa-los, para dar alegria aos olhos dos que jamais os viram ou verão.
Mas o quintal da casa abandonada ostenta uma delicada mangueira, ainda com moles folhas cor de bronze sobre a cerrada fronde sombria, uma delicada mangueira repleta de pequenos frutos, de um verde tenro, que se destacam do verde-escuro como se estivessem ali apenas para tornar a árvore um ornamento vivo, entre os muros brancos, os pisos vermelhos, o jogo das escadas e dos telhados em redor.
E que faria eu, pintor, dos inúmeros pardais que pousam nesses muros e nesses telhados, e aí conversam, namoram-se, amam-se, e dizem adeus, cada um com seu destino, entre a floresta e os jardins, o vento e a névoa?
Mas por trás estão as velhas casas, pequenas e tortas, pintadas de cores vivas, como desenhos infantis, com seus varais carregados de toalhas de mesa, saias floridas, panos vermelhos e amarelos, combinados harmoniosamente pela lavadeira que ali os colocou. Se eu fosse pintor, como poderia perder esse arranjo, tão simples e natural, e ao mesmo tempo de tão admirável efeito?
Mas, depois disso, aparecem várias fachadas, que se vão sobrepondo umas às outras, dispostas entre palmeiras e arbustos vários, pela encosta do morro. Aparecem mesmo dois ou três castelos, azuis e brancos, e um deles tem até, na ponta da torre, um galo de metal verde. Eu, pintor, como deixaria de pintar tão graciosos motivos?
Sinto, porém, que tudo isso por onde vão meus olhos, ao subirem do vale à montanha, possui uma riqueza invisível, que a distância abafa e desfaz: por detrás dessas paredes, desses muros, dentro dessas casas pobres e desses castelinhos de brinquedo, há criaturas que falam, discutem, entendem-se e não se entendem, amam, odeiam, desejam, acordam todos os dias com mil perguntas e não sei se chegam à noite com alguma resposta.
Se eu fosse pintor, gostaria de pintar esse último plano, esse último recesso da paisagem. Mas houve jamais algum pintor que pudesse fixar esse móvel oceano, inquieto, incerto, constantemente variável que é o pensamento humano?
Cecília Meireles, "Ilusões do mundo"
Mas logo depois, entre o primeiro plano e a casa fechada, há pombos de cintilante alvura, e pássaros azuis tão rápidos e certeiros que seria impossível deixar de fixa-los, para dar alegria aos olhos dos que jamais os viram ou verão.
Mas o quintal da casa abandonada ostenta uma delicada mangueira, ainda com moles folhas cor de bronze sobre a cerrada fronde sombria, uma delicada mangueira repleta de pequenos frutos, de um verde tenro, que se destacam do verde-escuro como se estivessem ali apenas para tornar a árvore um ornamento vivo, entre os muros brancos, os pisos vermelhos, o jogo das escadas e dos telhados em redor.
E que faria eu, pintor, dos inúmeros pardais que pousam nesses muros e nesses telhados, e aí conversam, namoram-se, amam-se, e dizem adeus, cada um com seu destino, entre a floresta e os jardins, o vento e a névoa?
Mas por trás estão as velhas casas, pequenas e tortas, pintadas de cores vivas, como desenhos infantis, com seus varais carregados de toalhas de mesa, saias floridas, panos vermelhos e amarelos, combinados harmoniosamente pela lavadeira que ali os colocou. Se eu fosse pintor, como poderia perder esse arranjo, tão simples e natural, e ao mesmo tempo de tão admirável efeito?
Mas, depois disso, aparecem várias fachadas, que se vão sobrepondo umas às outras, dispostas entre palmeiras e arbustos vários, pela encosta do morro. Aparecem mesmo dois ou três castelos, azuis e brancos, e um deles tem até, na ponta da torre, um galo de metal verde. Eu, pintor, como deixaria de pintar tão graciosos motivos?
Sinto, porém, que tudo isso por onde vão meus olhos, ao subirem do vale à montanha, possui uma riqueza invisível, que a distância abafa e desfaz: por detrás dessas paredes, desses muros, dentro dessas casas pobres e desses castelinhos de brinquedo, há criaturas que falam, discutem, entendem-se e não se entendem, amam, odeiam, desejam, acordam todos os dias com mil perguntas e não sei se chegam à noite com alguma resposta.
Se eu fosse pintor, gostaria de pintar esse último plano, esse último recesso da paisagem. Mas houve jamais algum pintor que pudesse fixar esse móvel oceano, inquieto, incerto, constantemente variável que é o pensamento humano?
Cecília Meireles, "Ilusões do mundo"
Viver sem sofrer muito
Os prazeres ardentes são momentâneos, e custam graves inconvenientes. O que devemos cobiçar é viver sem sofrer muito. Aquele que sofre foge-lhe uma parte da existência. O mal é nocivo à plenitude da vida por que é sempre causa do aniquilamento. Quando o sofrimento nos ameaça, e receamos que as forças defensivas nos faleçam, suspendem-se os outros movimentos do nosso coração, e então pouco há que esperar de nós, por que se torna incerto o nosso destino. O bem-estar de grande número de indivíduos, que vivem retirados das agitações, depende mais da sua disposição habitual de pensamento que da influência de causas exteriores. A crise moral pode surpreendê-los e magoá-los momentaneamente; mas a força dos acontecimentos é meramente relativa. Os sofrimentos são mais ou menos intensos, conforme a época em que nos oprimem. O que ontem poderia aniquilar-me, levemente me incomoda hoje. Cinco minutos de reflexão me bastam. A maior parte dos objetos encerram e presentam, indiretamente pelo menos, as propriedades oportunas. Pô-las em ação é no que assenta a indústria da felicidade. Há aí que farte instrumentos fecundos de prazeres úteis; ponto é saber meneá-los. Quem não sabe trabalhar com eles, fere-se. Discernir, isto é, refletir é o que mais importa.
Camilo Castelo Branco, "Cenas Inocentes da Comédia Humana"
sexta-feira, novembro 18
Conto familiar
Era um velho que estava na família há noventa e nove anos, há mais tempo que os velhos móveis, há mais tempo até que o velho relógio de pêndulo. Por isso estava ele farto dela, e não o contrário, como poderiam supor. A família o apresentava aos forasteiros, com insopitado orgulho: “Olhem! vocês estão vendo como ‘nós’duramos?!”
Caduco? Qual nada! Tinha lá as suas ideias. Tanto que, numa dessas grandes comemorações domésticas, o pobre velho envenenou o barril de chope.
No entanto, como era obviamente impraticável — a não ser em novelas policiais — deitar veneno nas bebidas engarrafadas, apenas sobreviveram os inveterados bebedores de coca-cola.
— Mas como é possível — lamentava-se agora tardiamente o pobre velho —, como é possível passar o resto da vida com esses? Com gente assim? Porque a coca-cola não é verdadeiramente uma bebida — concluiu ele —, a coca-cola é um estado de espírito…
E, assim pensando, o sábio ancião se envenenou também.
Caduco? Qual nada! Tinha lá as suas ideias. Tanto que, numa dessas grandes comemorações domésticas, o pobre velho envenenou o barril de chope.
No entanto, como era obviamente impraticável — a não ser em novelas policiais — deitar veneno nas bebidas engarrafadas, apenas sobreviveram os inveterados bebedores de coca-cola.
— Mas como é possível — lamentava-se agora tardiamente o pobre velho —, como é possível passar o resto da vida com esses? Com gente assim? Porque a coca-cola não é verdadeiramente uma bebida — concluiu ele —, a coca-cola é um estado de espírito…
E, assim pensando, o sábio ancião se envenenou também.
Mario Quintana
Assinar:
Postagens (Atom)