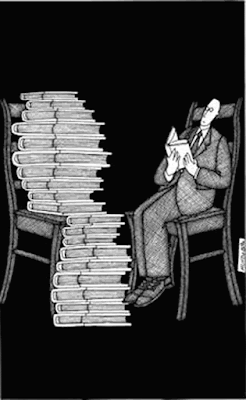sexta-feira, setembro 30
A morte do funcionário
 |
| Juliano Lopes |
“Eu cuspi nele!” – pensou Tcherviakov. – “Não é meu chefe, é de outro departamento, mas mesmo assim é embaraçoso. Tenho de pedir desculpas.”
Tcherviakov deu uma tossidinha, inclinou o tronco para frente e sussurrou no ouvido do general:
– Perdoe-me, Excelência, eu espirrei no senhor... Foi sem querer...
– Não foi nada, não foi nada...
– Pelo amor de Deus, me perdoe. Pois... eu não queria!
– Ah, sente-se, por favor! Deixe-me ouvir a cena!
Tcherviakov ficou confuso, sorriu com ar apalermado e olhou para o palco. Ele assistia à peça, mas já não sentia a mesma bem-aventurança. A preocupação começou a torturá-lo. No intervalo, aproximou-se de Bryzjálov, ficou andando por perto dele e, vencendo a timidez, balbuciou:
– Eu espirrei no senhor, Excelência... Perdoe-me... Eu... não tinha a intenção...
– Ah, já chega... Eu já esqueci, mas o senhor continua a falar no assunto! – disse o general, mexendo com impaciência o lábio inferior.
“Ele diz que esqueceu, mas tem maldade no olhar” – pensou Tcherviakov, olhando desconfiado para o general. – “E não quer conversa. Era importante explicar para ele que não tive nenhuma intenção... que é uma lei da natureza, senão pode pensar que eu quis cuspir nele. Pode não pensar agora, mas depois vai pensar!...”
Chegando em casa, Tcherviakov contou à mulher sua grosseria. Mas lhe pareceu que ela reagiu de modo muito leviano ao ocorrido. Apenas levou um susto, porém depois, quando soube que Bryzjálov não era do departamento do marido, sossegou.
– Apesar de tudo, vá procurá-lo e peça desculpas – disse ela. – Senão ele vai pensar que você não sabe se comportar em público.
– Mas aí é que está! Eu me desculpei, mas ele agiu de modo estranho... Não disse nem uma palavra que prestasse. E não houve tempo para conversarmos.
No dia seguinte, Tcherviakov vestiu seu novo uniforme de serviço, cortou o cabelo e foi procurar Bryzjálov para se explicar. Ao entrar na ante-sala, viu ali muitos solicitantes e entre eles o próprio general, que já tinha começado o atendimento. Após interrogar alguns solicitantes, o general levantou os olhos para Tcherviakov.
– Ontem, no “Arcádia”, se Vossa Excelência se recorda – começou a expor o encarregado de seção –, eu dei um espirro e... sem querer, respingou... Peço desc...
– Quanta bobagem... Só Deus sabe o que é isso! O senhor, o que deseja? – disse o general, dirigindo-se ao próximo solicitante.
“Não quer conversar!” – pensou Tcherviakov, empalidecendo. – “Significa que está com raiva... Não, isso não pode ficar assim... Hei de lhe explicar...”
Quando o general terminou o atendimento ao último solicitante e se dirigiu às dependências internas, Tcherviakov foi atrás dele e começou a balbuciar:
– Excelência! Se ouso incomodá-lo, é precisamente pelo sentimento de arrependimento, posso lhe assegurar!... Não fiz de propósito, o senhor sabe disso!
O general fez uma expressão de choro e um gesto de pouco caso com a mão.
– O senhor simplesmente está zombando de mim, cavalheiro! – disse ele, sumindo atrás da porta.
“Onde ele viu zombaria?” – pensou Tcherviakov. – “Não houve zombaria nenhuma! É um general, mas não consegue compreender! Se é assim, não vou mais me desculpar com esse fanfarrão! Que vá para o diabo! Vou lhe escrever uma carta, mas não o procuro mais! Juro, nunca mais!”
Esses eram os pensamentos de Tcherviakov enquanto ia para casa. Mas a carta para o general ele não escreveu. Pensou, pensou e não conseguiu redigi-la. Foi necessário ir pessoalmente se explicar no dia seguinte.
– Ontem vim incomodá-lo – balbuciou Tcherviakov, quando o general o olhou interrogativamente –, não para zombar de Vossa Excelência, como se dignou a afirmar. Eu estava pedindo desculpas porque espirrei e atirei respingos... e nunca pensei em zombar. Ousaria eu fazer uma zombaria? Se isso acontecer, significa que não haverá mais nenhum respeito para com as pessoas...
– Fora daqui! – vociferou o general, já azul e tremendo.
– O que, senhor? – sussurrou Tcherviakov, entorpecido de pavor.
– Fora daqui! – repetiu o general, sapateando.
Algo rebentou dentro da barriga de Tcherviakov. Sem conseguir ver nem ouvir nada, ele recuou até a porta, saiu para a rua e foi embora arrastando-se. Chegou maquinalmente em casa, deitou-se no divã sem tirar o uniforme e... morreu.
Anton Tchekhov, "A dama do Cachorrinho e Outras histórias"
Carta a Deus
Caro Deus,
Se Você existe, e se é como O descrevem — onisciente, onipresente e, acima de tudo, onipotente —, com certeza não irá tremer em seu assento celestial ao ser confrontado por um simples livro [“Os Versos Satânicos”] e seu escrevinhador, não é? Os grandes filósofos muçulmanos com frequência discordam em relação à Sua relação precisa com os homens e os atos humanos.

Ibn Sina (Avicena) argumentava que Você, por estar muito acima do mundo, limitava-se a tomar conhecimento dele em termos muito gerais e abstratos. Ghazali discordava. Qualquer Deus “aceitável ao islã” conheceria em minúcias tudo o que acontecesse sobre a superfície da terra e teria uma opinião a respeito.
Bem, Ibn Rushd não aceitava isso, como Você há de saber se Ghazali estivesse certo (e não saberá se quem tivesse razão fosse Ibn Sina ou Ibn Rushd). Para Ibn Rushd, a opinião de Ghazali tornava Você muito parecido com os homens — com os homens com suas discussões tolas, suas dissensões mesquinhas, seus pontos de vista triviais. Imiscuir-se nos assuntos humanos estaria abaixo de Você, e O diminuiria. Por isso, é difícil saber o que pensar.
Se Você é o Deus de Ibn Sina e Ibn Rushd, nesse caso nem sabe o que está sendo dito e feito neste exato momento em seu nome. No entanto, se Você é o Deus de Ghazali, e lê os jornais, vê a TV e toma partido em disputas políticas e até literárias, não acredito que pudesse fazer objeções a “Os Versos Satânicos”, ou a qualquer outro livro, por mais ignóbil que fosse. Que espécie de Todo-Poderoso poderia se deixar abalar pela obra de um homem? Ao contrário, Deus, se porventura Ibn Sina, Ghazali e Ibn Rushd estivessem todos errados e Você não existisse, também, nesse caso, Você não teria problemas com escritores e com livros.
Chego à conclusão de que minhas dificuldades não são com você, Deus, mas com Seus servos e seguidores no mundo. Uma famosa romancista me disse, certa vez, que tinha parado de escrever ficção durante algum tempo porque não gostava de seus admiradores. Fico a me perguntar se Você compreende a posição dela. Obrigado por Sua atenção (a menos que não esteja prestando atenção: Veja acima).
Salman Rushdie, "Joseph Anton - Memórias"
quinta-feira, setembro 29
Impertinências
Depois de cinco meses da minha vida durante os quais não consegui escrever nada que me satisfizesse e dos quais poder nenhum vai me ressarcir, embora todos tivessem obrigação de fazê-lo, vem-me a ideia de tornar a falar comigo mesmo. Toda vez que me interroguei de fato, sempre respondi, sempre houve o que arrancar de mim, deste amontoado de palha que sou há cinco meses e cujo destino parece ser o de pegar fogo e arder no verão mais rapidamente do que o espectador é capaz de piscar. Se ao menos assim fosse! E que assim fosse uma dezena de vezes, porque não me arrependo nem sequer dessa época desditosa. Meu estado não é o da infelicidade e tampouco o de felicidade, não é o da indiferença nem o da fraqueza, não é cansaço nem o interesse em outra coisa, mas o que é então? Que eu não o saiba há de ter a ver com minha incapacidade de escrever. E esta, creio compreendê-la, ainda que lhe desconheça a razão. É que todas as ideias que me ocorrem não me ocorrem desde a sua raiz, mas somente a partir de algum ponto intermediário. Tente segurá-las, tente segurar-se numa haste de grama que só começa a crescer a partir da metade do caule. Alguns por certo logram fazê-lo; os acrobatas japoneses, por exemplo, que sobem por uma escada de mão apoiada não no solo, e sim nas solas erguidas dos pés do companheiro semideitado, e que tampouco se apoia na parede, mas ergue-se apenas e tão somente no ar. Eu não consigo, sem falar que minha escada não dispõe nem mesmo daquelas solas nas quais se apoiar. Naturalmente, isso não é tudo, e uma tal demanda tampouco basta para me fazer falar. A cada dia, porém, cabe voltar ao menos uma frase na minha direção, à maneira como hoje se voltam os telescópios na direção do cometa. Então, um dia, eu talvez venha a comparecer diante dessa frase, atraído por ela, como aconteceu no último Natal, por exemplo, em que fui longe a ponto de só por pouco conseguir ainda me segurar e parecia estar de fato no último degrau de minha escada, apoiada, porém, tranquilamente no chão e na parede. Mas que chão! E que parede! Ainda assim, a escada não caiu, de tanto que meus pés a comprimiam contra o chão, de tanto que a alçavam contra a parede.
 |
| Catherine Clark Ellis |
Hoje, por exemplo, cometi três impertinências, contra um cobrador no bonde e contra alguém que me apresentaram — foram, pois, duas apenas, mas elas me doeram como uma cólica estomacal. Teriam sido impertinências da parte de qualquer um, mas mais ainda provindas da minha pessoa. Saí, portanto, de mim, lutei no ar em meio à névoa e o mais grave foi que ninguém notou que também em relação a meus acompanhantes cometi uma impertinência, tive de cometê-la; precisei fazer a cara adequada e arcar com a responsabilidade; mas o pior foi um de meus conhecidos não ter entendido minha impertinência como um sinal qualquer de caráter, e sim como o caráter em si, chamando-me a atenção para ela e admirando-se dessa minha impertinência. Por que não permaneço em mim? Agora por certo digo a mim mesmo: “Veja, o mundo se deixa golpear por você, o cobrador e a pessoa que lhe foi apresentada permaneceram tranquilos quando você partiu, e esta última chegou mesmo a se despedir”. Só que isso não significa nada. Você não vai alcançar coisa nenhuma saindo de si mesmo, mas, por outro lado, quanto vai perder permanecendo dentro do seu próprio círculo? A essa pergunta, respondo apenas: também eu preferiria deixar-me surrar no interior do meu próprio círculo a desferir golpes fora dele, mas onde diabos está esse círculo? Por um tempo, eu de fato o vi na terra, como se demarcado com cal, mas agora ele não faz senão pairar em algum ponto ao meu redor, ou nem sequer paira.
Franz Kafka, "Diários: 1909 – 1923"
Franz Kafka, "Diários: 1909 – 1923"
Ao relento das ideias
Viver uma vida desapaixonada e culta, ao relento das ideias, lendo, sonhando, e pensando em escrever, uma vida suficientemente lenta para estar sempre à beira do tédio, bastante meditada para se nunca encontrar nele. Viver essa vida longe das emoções e dos pensamentos, só no pensamento das emoções e na emoção dos pensamentos. Estagnar ao sol, douradamente, como um lago obscuro rodeado de flores. Ter, na sombra, aquela fidalguia da individualidade que consiste em não insistir para nada com a vida. Ser no volteio dos mundos como uma poeira de flores, que um vento incógnito ergue pelo ar da tarde, e o torpor do anoitecer deixa baixar no lugar de acaso, indistinta entre coisas maiores. Ser isto com um conhecimento seguro, nem alegre nem triste, reconhecido ao sol do seu brilho e às estrelas do seu afastamento. Não ser mais, não ter mais, não querer mais… A música do faminto, a canção do cego, a relíquia do viandante incógnito, as passadas no deserto do camelo vazio sem destino…
Fernando Pessoa/ Bernardo Soares, "Livro do Desassossego"
Fernando Pessoa/ Bernardo Soares, "Livro do Desassossego"
Mãos
Quem olhasse as mãos de Francisco João de Azevedo segurando a amurada do navio veria as mãos de um operário. Não que
fossem grandes, eram no tamanho um tanto femininas, mas tinham a rudeza própria de quem se dedicava a ofícios manuais. A pele dos dedos estava partida, as unhas lascadas com alguma sujeira sob elas e calos que podiam ser entrevistos na extremidade das palmas. Muitas vezes, lidando na solidão de sua oficina, Francisco observava aquelas mãos, a parte de seu ser que mais conhecia, sempre inquietas como sua mente, enquanto o resto do corpo mantinha uma aparência retraída. Começamos a morrer pelas mãos, pensou com tristeza. As mãos tinham mais idade do que ele, estavam se desgastando com muita rapidez. O envelhecimento se estampara nas veias e nervos salientes, nas superfícies ásperas, nos dedos rudes de camponês. Mas ele não tinha vergonha do aspecto delas, no fundo sentia orgulho, pois lembravam seu passado de órfão afeito ao trabalho.
—O senhor parece não apreciar a Corte—disse uma senhora a seu lado.
Ele ergueu os olhos, cegando-se com o sol refletido nas roupas brancas e rendadas dela.
—De modo algum, muito me agrada a cidade.
—Deve ter estado aqui várias vezes; e já não vê novidades.
—Esta é a primeira.
—E nenhum brilho nos olhos? Nenhum sorriso de admiração?
—Estava rezando—mentiu.
—Ah, desculpe por ter incomodado—ela disse, voltando a fitar a terra, sempre mais próxima.
As pessoas ao redor faziam comentários sobre a cidade, tão bonita vista assim do mar, numa manhã de sol. Alguém identificava torres de igreja, um morro, o Paço Imperial, revelando a euforia própria de quem chega à Corte depois de ter deixado para trás a província e sonha viver grandes contecimentos. Francisco João de Azevedo também desejava experimentar o prazer, mas este não estaria na paisagem, nas vidraças da rua do Ouvidor, nem nos restaurantes ou no teatro. As coisas mundanas não o fascinavam nem um pouco. Em verdade, suas mãos não o seguravam ao navio, seguravam-no a si mesmo. Vestindo casaca preta, calças folgadas e botinas bem polidas, dava a impressão de um homem refinado. Só as mãos destoavam. Não serviam para o sinal da cruz, para se colocarem juntas, simbolizando contrição, e muito menos para ministrar santos sacramentos. Quando apertava a mão de outros religiosos, até causavam constrangimentos. O tecido adiposo das mãos dos padres, macias como estofados, contrastava com a aspereza da sua, e os religiosos se afastavam num susto quando elas se encontravam, como se tivessem tocado em um inseto asqueroso.
O vapor já estava ancorando, as pessoas acenavam para o porto, onde conhecidos e desconhecidos esperavam os viajantes, uns para receber parentes e amigos, outros, para conseguir algum trabalho. Padre Azevedo continuava agarrado à amurada. Não há viagens, chegadas e partidas para quem se dedica às próprias ideias.
fossem grandes, eram no tamanho um tanto femininas, mas tinham a rudeza própria de quem se dedicava a ofícios manuais. A pele dos dedos estava partida, as unhas lascadas com alguma sujeira sob elas e calos que podiam ser entrevistos na extremidade das palmas. Muitas vezes, lidando na solidão de sua oficina, Francisco observava aquelas mãos, a parte de seu ser que mais conhecia, sempre inquietas como sua mente, enquanto o resto do corpo mantinha uma aparência retraída. Começamos a morrer pelas mãos, pensou com tristeza. As mãos tinham mais idade do que ele, estavam se desgastando com muita rapidez. O envelhecimento se estampara nas veias e nervos salientes, nas superfícies ásperas, nos dedos rudes de camponês. Mas ele não tinha vergonha do aspecto delas, no fundo sentia orgulho, pois lembravam seu passado de órfão afeito ao trabalho.
—O senhor parece não apreciar a Corte—disse uma senhora a seu lado.
Ele ergueu os olhos, cegando-se com o sol refletido nas roupas brancas e rendadas dela.
—De modo algum, muito me agrada a cidade.
—Deve ter estado aqui várias vezes; e já não vê novidades.
—Esta é a primeira.
—E nenhum brilho nos olhos? Nenhum sorriso de admiração?
—Estava rezando—mentiu.
—Ah, desculpe por ter incomodado—ela disse, voltando a fitar a terra, sempre mais próxima.
As pessoas ao redor faziam comentários sobre a cidade, tão bonita vista assim do mar, numa manhã de sol. Alguém identificava torres de igreja, um morro, o Paço Imperial, revelando a euforia própria de quem chega à Corte depois de ter deixado para trás a província e sonha viver grandes contecimentos. Francisco João de Azevedo também desejava experimentar o prazer, mas este não estaria na paisagem, nas vidraças da rua do Ouvidor, nem nos restaurantes ou no teatro. As coisas mundanas não o fascinavam nem um pouco. Em verdade, suas mãos não o seguravam ao navio, seguravam-no a si mesmo. Vestindo casaca preta, calças folgadas e botinas bem polidas, dava a impressão de um homem refinado. Só as mãos destoavam. Não serviam para o sinal da cruz, para se colocarem juntas, simbolizando contrição, e muito menos para ministrar santos sacramentos. Quando apertava a mão de outros religiosos, até causavam constrangimentos. O tecido adiposo das mãos dos padres, macias como estofados, contrastava com a aspereza da sua, e os religiosos se afastavam num susto quando elas se encontravam, como se tivessem tocado em um inseto asqueroso.
O vapor já estava ancorando, as pessoas acenavam para o porto, onde conhecidos e desconhecidos esperavam os viajantes, uns para receber parentes e amigos, outros, para conseguir algum trabalho. Padre Azevedo continuava agarrado à amurada. Não há viagens, chegadas e partidas para quem se dedica às próprias ideias.
Miguel Sanches Neto, "A máquina de madeira"
quarta-feira, setembro 28
Reino da estupidez
O diálogo com a estupidez
estraga a vida e corrói a alma.
Mesmo um estúpido de cada vez,
à doce paciência, leva a palma.
A estupidez é um muro de betão,
que fica diante de nós, teimoso:
não há argumento ou empurrão,
que mova um imbecil meticuloso.
O estúpido não sabe argumentar,
porque isso fica além das suas posses:
por isso, mais não faz do que alinhar
patetices, como se fossem doces.
A estupidez consome tempo e espaço
e, ao saber, prefere o estardalhaço!
Eugénio Lisboa
estraga a vida e corrói a alma.
Mesmo um estúpido de cada vez,
à doce paciência, leva a palma.
A estupidez é um muro de betão,
que fica diante de nós, teimoso:
não há argumento ou empurrão,
que mova um imbecil meticuloso.
O estúpido não sabe argumentar,
porque isso fica além das suas posses:
por isso, mais não faz do que alinhar
patetices, como se fossem doces.
A estupidez consome tempo e espaço
e, ao saber, prefere o estardalhaço!
Eugénio Lisboa
O herói do nosso tempo
Penso em Salman Rushdie todos os dias. Não entendo como um dos maiores escritores do nosso tempo possa estar convalescendo de um brutal ataque terrorista e nada se saiba a respeito do seu progresso; não consigo imaginar tal manto de silêncio em relação a qualquer ator, desportista, político, celebridade de internet. Torço para que a ausência de notícias que cerca o seu nome seja uma estratégia de segurança, e não um reflexo das atenções do mundo dito “civilizado”.
Tenho lido Salman Rushdie desde que ele foi atacado, no dia 12 de agosto. Reli “Haroun e o mar de histórias”, que é um pequeno livro para jovens leitores (mas encantador também para adultos); estou relendo “O último suspiro do mouro”, que é extraordinário; e vou tentar fazer as pazes com “Os versos satânicos”, que achei confuso e verborrágico quando foi publicado.
Também acabo de ler, pela primeira vez, “Joseph Anton”, espécie de memórias do cárcere #sqn, que há muito estava na estante do quarto onde fica o que quero ler logo. Demoramos quase dez anos a nos encontrar, de fato, porque… na verdade, não sei. Livros e leitores volta e meia se desencontram sem motivos justificados.
“Joseph Anton” é de 2012; foi traduzido por José Rubens Siqueira e Donaldson M. Garschagen para a Companhia das Letras. É longo, rebuscado e vagamente surrealista, como costumam ser os romances do autor — mas aqui estamos falando do que aconteceu com uma pessoa de carne e osso, um homem que passou a se chamar Joseph Anton porque precisava assinar cheques, fazer exames médicos e se submeter a procedimentos burocráticos corriqueiros, e o nome que tinha, Salman Rushdie, havia se tornado perigoso demais para uso.
Joseph Anton vive sob o nome de dois dos seus escritores favoritos, Conrad e Tchekov. De um momento para o outro, assim que é condenado à morte por um aiatolá iraniano, deixa de ter casa ou rotina. Seus dias passam a ser determinados pelo grupo de seguranças que o vigia dia e noite. Não pode mais andar na rua, não pode ir a um restaurante ou a uma tarde de autógrafos, companhias aéreas não permitem que voe em suas aeronaves. Seu casamento desmorona.
Rushdie trata Joseph Anton na terceira pessoa. Isso lhe dá maior liberdade criativa e, suponho, o distanciamento suficiente para dissecar os seus relacionamentos — com amigos, editores, filhos, mulheres. Às vezes “Joseph Anton” parece uma revista de celebridades literárias, e podemos entrever os dias de Ian McEwan, Martin Amis, Susan Sontag, Harold Pinter, Antonia Fraser, Bruce Chatwin, Michael Herr. Ficamos sabendo até que William Styron não usava cueca (o que talvez seja mais informação do que gostaríamos).
Do lado menos divertido das fofocas, somos lembrados do péssimo comportamento de gente que tínhamos em melhor conta, como Jimmy Carter, John Le Carré ou Cat Stevens, que acharam que a culpa era de Rushdie por estar usando uma saia tão curta.
A essência de “Joseph Anton”, porém, é a poderosa literatura de Salman Rushdie, e a sua insuperável capacidade de resistência. Ele poderia te se refugiado em Joseph Anton para sempre, e ter se recolhido a uma aldeia remota, mas escolheu lutar pelo direito à liberdade de expressão, escrevendo, vivendo com voracidade e se fazendo visível.
Cada minuto da sua vida é um triunfo sobre o obscurantismo. Viva, Rushdie! Viva muito, e bem, e por longos anos.
Tenho lido Salman Rushdie desde que ele foi atacado, no dia 12 de agosto. Reli “Haroun e o mar de histórias”, que é um pequeno livro para jovens leitores (mas encantador também para adultos); estou relendo “O último suspiro do mouro”, que é extraordinário; e vou tentar fazer as pazes com “Os versos satânicos”, que achei confuso e verborrágico quando foi publicado.
Também acabo de ler, pela primeira vez, “Joseph Anton”, espécie de memórias do cárcere #sqn, que há muito estava na estante do quarto onde fica o que quero ler logo. Demoramos quase dez anos a nos encontrar, de fato, porque… na verdade, não sei. Livros e leitores volta e meia se desencontram sem motivos justificados.
“Joseph Anton” é de 2012; foi traduzido por José Rubens Siqueira e Donaldson M. Garschagen para a Companhia das Letras. É longo, rebuscado e vagamente surrealista, como costumam ser os romances do autor — mas aqui estamos falando do que aconteceu com uma pessoa de carne e osso, um homem que passou a se chamar Joseph Anton porque precisava assinar cheques, fazer exames médicos e se submeter a procedimentos burocráticos corriqueiros, e o nome que tinha, Salman Rushdie, havia se tornado perigoso demais para uso.
Joseph Anton vive sob o nome de dois dos seus escritores favoritos, Conrad e Tchekov. De um momento para o outro, assim que é condenado à morte por um aiatolá iraniano, deixa de ter casa ou rotina. Seus dias passam a ser determinados pelo grupo de seguranças que o vigia dia e noite. Não pode mais andar na rua, não pode ir a um restaurante ou a uma tarde de autógrafos, companhias aéreas não permitem que voe em suas aeronaves. Seu casamento desmorona.
Rushdie trata Joseph Anton na terceira pessoa. Isso lhe dá maior liberdade criativa e, suponho, o distanciamento suficiente para dissecar os seus relacionamentos — com amigos, editores, filhos, mulheres. Às vezes “Joseph Anton” parece uma revista de celebridades literárias, e podemos entrever os dias de Ian McEwan, Martin Amis, Susan Sontag, Harold Pinter, Antonia Fraser, Bruce Chatwin, Michael Herr. Ficamos sabendo até que William Styron não usava cueca (o que talvez seja mais informação do que gostaríamos).
Do lado menos divertido das fofocas, somos lembrados do péssimo comportamento de gente que tínhamos em melhor conta, como Jimmy Carter, John Le Carré ou Cat Stevens, que acharam que a culpa era de Rushdie por estar usando uma saia tão curta.
A essência de “Joseph Anton”, porém, é a poderosa literatura de Salman Rushdie, e a sua insuperável capacidade de resistência. Ele poderia te se refugiado em Joseph Anton para sempre, e ter se recolhido a uma aldeia remota, mas escolheu lutar pelo direito à liberdade de expressão, escrevendo, vivendo com voracidade e se fazendo visível.
Cada minuto da sua vida é um triunfo sobre o obscurantismo. Viva, Rushdie! Viva muito, e bem, e por longos anos.
O cheiro dos livros
Uma equipe de arqueólogos anunciou a descoberta, numa caverna no deserto da Judeia, em Israel, de dezenas de manuscritos com mais de 1.800 anos. Entre tantas notícias de pequenas e grandes derrotas da Humanidade — a pandemia avançando no Brasil, terroristas islâmicos decapitando crianças em Moçambique etc —, aquele anúncio me deu um alento novo.
Esta semana as livrarias reabriram em Portugal. Tendo chegado a Lisboa há 15 dias, saí pela primeira vez de casa. Fui caminhando até a Travessa, no Príncipe Real, inaugurada há pouco mais de dois anos, e que é hoje a única livraria brasileira da capital portuguesa (sim, já houve outras). O verão instalara-se em pleno inverno. Porém, mesmo sob a clara alegria do sol, a cidade continuava triste.
Entrei receoso, não do vírus, mas de já não saber como me comportar numa livraria. Há mais de cinco meses que não entrava em nenhuma. Meia dúzia de leitores, tão assustados e tão fascinados quanto eu, circulavam devagar entre as estantes, avaliando as capas e estudando os títulos. Um ou outro atrevia-se a estender uma mão tímida para agarrar um volume, abri-lo, ler uma página ao acaso.
Bibliófilos reconhecem-se uns aos outros por certos gestos, vícios, bizarrias. Você vê um sujeito acariciando dissimuladamente a capa de um livro — e logo desconfia. Vê-o abrindo um volume com mal disfarçada volúpia; aproximando o rosto para o cheirar — e aí tem a certeza.
Há quem organize a biblioteca pelo nome dos autores, em ordem alfabética. Geograficamente, pelo país de origem dos escritores. Ou por gêneros literários. Há até quem arrume os livros pela cor das lombadas (o escritor e editor português Francisco José Viegas ou a nigeriana Taye Selasi). Finalmente, consta existir ainda o leitor-gourmet, que dispõe os livros nas estantes segundo o cheiro das páginas: livros doces, amargos, salgados, almiscarados, acitrinados, e por aí fora. Você pergunta se ele tem “A Cidade e as Serras”, por exemplo. O leitor-gourmet ergue o rosto e cerra os olhos, concentrado e fatal — como o faria Hannibal Lecter. Finalmente declara: “Esse eu não vou esquecer nunca. Cheira a terra molhada, a brisa fresca, a peixe assado, com batatas ao murro.” Avança para uma estante e retira o livro.
Sempre que penso em grandes bibliófilos me lembro de uma visita à biblioteca do historiador português José Pacheco Pereira. Em 2003, Pacheco Pereira comprou um imenso casarão numa pequenina cidade perto de Lisboa, a Marmeleira, para poder abrigar todos os seus livros. Nos anos seguintes foi adquirindo os edifícios em redor, entre os quais uma escola, uma delegacia de polícia, com as respectivas celas, uma destilaria etc, e ali instalando a biblioteca. Pacheco Pereira guarda na Marmeleira mais de 150 mil livros. Contudo, basta dizer-lhe um título e ele levanta-se e vai buscá-lo. Não sei como consegue. Talvez, como os leitores-gourmet, os distinga pelo olfato. Pode ser.
Volto a pensar nos manuscritos do deserto da Judeia, e nos lentos escribas, agachados, desenhando palavras em papiros, que depois enrolavam e guardavam cuidadosamente. Imaginariam eles que as suas palavras chegariam tão longe? O meu alento vem dessa capacidade de resistência da palavra escrita.
Esta semana as livrarias reabriram em Portugal. Tendo chegado a Lisboa há 15 dias, saí pela primeira vez de casa. Fui caminhando até a Travessa, no Príncipe Real, inaugurada há pouco mais de dois anos, e que é hoje a única livraria brasileira da capital portuguesa (sim, já houve outras). O verão instalara-se em pleno inverno. Porém, mesmo sob a clara alegria do sol, a cidade continuava triste.
Entrei receoso, não do vírus, mas de já não saber como me comportar numa livraria. Há mais de cinco meses que não entrava em nenhuma. Meia dúzia de leitores, tão assustados e tão fascinados quanto eu, circulavam devagar entre as estantes, avaliando as capas e estudando os títulos. Um ou outro atrevia-se a estender uma mão tímida para agarrar um volume, abri-lo, ler uma página ao acaso.
Bibliófilos reconhecem-se uns aos outros por certos gestos, vícios, bizarrias. Você vê um sujeito acariciando dissimuladamente a capa de um livro — e logo desconfia. Vê-o abrindo um volume com mal disfarçada volúpia; aproximando o rosto para o cheirar — e aí tem a certeza.
Há quem organize a biblioteca pelo nome dos autores, em ordem alfabética. Geograficamente, pelo país de origem dos escritores. Ou por gêneros literários. Há até quem arrume os livros pela cor das lombadas (o escritor e editor português Francisco José Viegas ou a nigeriana Taye Selasi). Finalmente, consta existir ainda o leitor-gourmet, que dispõe os livros nas estantes segundo o cheiro das páginas: livros doces, amargos, salgados, almiscarados, acitrinados, e por aí fora. Você pergunta se ele tem “A Cidade e as Serras”, por exemplo. O leitor-gourmet ergue o rosto e cerra os olhos, concentrado e fatal — como o faria Hannibal Lecter. Finalmente declara: “Esse eu não vou esquecer nunca. Cheira a terra molhada, a brisa fresca, a peixe assado, com batatas ao murro.” Avança para uma estante e retira o livro.
Sempre que penso em grandes bibliófilos me lembro de uma visita à biblioteca do historiador português José Pacheco Pereira. Em 2003, Pacheco Pereira comprou um imenso casarão numa pequenina cidade perto de Lisboa, a Marmeleira, para poder abrigar todos os seus livros. Nos anos seguintes foi adquirindo os edifícios em redor, entre os quais uma escola, uma delegacia de polícia, com as respectivas celas, uma destilaria etc, e ali instalando a biblioteca. Pacheco Pereira guarda na Marmeleira mais de 150 mil livros. Contudo, basta dizer-lhe um título e ele levanta-se e vai buscá-lo. Não sei como consegue. Talvez, como os leitores-gourmet, os distinga pelo olfato. Pode ser.
Volto a pensar nos manuscritos do deserto da Judeia, e nos lentos escribas, agachados, desenhando palavras em papiros, que depois enrolavam e guardavam cuidadosamente. Imaginariam eles que as suas palavras chegariam tão longe? O meu alento vem dessa capacidade de resistência da palavra escrita.
José Eduardo Agualusa
sábado, setembro 24
Como milhares de livros foram salvos de fogueiras nas ditaduras no Chile e na Argentina
Uma família que escondeu milhares de livros dentro das paredes de uma casa, um homem que comeu 30 páginas para salvar seus companheiros e livreiros lutando para recuperar livros perdidos.
Quando, em 11 de setembro de 1973, Augusto Pinochet depôs o governo do socialista Salvador Allende no Chile com um golpe, além do horror que foi cometido contra os militantes e suas famílias, iniciou-se também uma perseguição aos livros, sob o argumeto de que eles ajudaram na doutrinação comunista.
Essa mesma prática foi replicada na Argentina, quando o governo militar foi estabelecido em março de 1976. Milhares de títulos foram banidos.
Nas décadas posteriores, imagens de homens uniformizados destruindo e queimando livros se multiplicaram.
Esta reportagem mostra o outro lado: conta três histórias de como livros foram salvos da fogueira e da destruição durante esses anos sombrios.
1. A biblioteca de cimento
"Onde estão as odes que Neruda me deu?", perguntou o advogado argentino Salomón Gerchunoff.
E sempre, antes que alguém pudesse lhe responder, ele mesmo suspirava e dizia: "Devem estar na casa daquele homem".
A casa a que ele se referia era dele há mais de 20 anos. Era uma construção térrea, localizada no bairro Parque Vélez Sarsfield da capital Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina.
Lá viveu com sua esposa, Eva Maltz, e seus cinco filhos até o golpe de 1976.
"Meu pai era um militante reconhecido do Partido Comunista em Córdoba e colaborador permanente do movimento sindical na cidade, então ele tinha uma biblioteca que era coerente com esse pensamento", explica Luis Gerchunoff, um dos cinco filhos de Salomón.
E esse pensamento começou a ser banido. Perseguido.
Ao lado de Luis estão Nora, Ana e Beatriz, as outras irmãs. Só falta Robert. É 24 de março, Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça na Argentina. Quarenta e seis anos se passaram desde o golpe militar e em uma escola próxima eles exibem um documentário com a história da família.
É a primeira vez em muitos anos que os irmãos estão na mesma cidade ao mesmo tempo e ativam a coleção de memórias a quatro vozes.
A primeira: quando seus pais decidiram esconder os livros dentro de uma das paredes da casa.
"Foi logo após o golpe", diz Luis.
"Nos anos anteriores, meu pai havia distribuído seus livros mais incriminadores entre vários amigos para evitar as batidas que já aconteciam regularmente. Mas quando ocorreu o golpe, ele percebeu a gravidade do que estava acontecendo e disse 'basta, vou juntar meus livros para evitar problemas para eles'."
Meses antes daquele março de 1976, Salomón e Eva decidiram reformar a casa, então aproveitaram os restos de materiais de construção para esconder a maioria dos livros dentro das paredes da parte superior do quarto principal.
"Nós sete vivemos aquele momento. Lembro-me do sentimento de medo que nos acompanhou. Colocamos todos os tipos de livros, literatura política, sobre Marx, Engels, mas também César Vallejo, O Pequeno Príncipe, o livro de histórias infantis 'Um elefante ocupa muito espaço', de Elsa Bornemann, que também foi proibido pela ditadura", lembra Ana Gerchunoff.
Um dos exemplares mais premiados da coleção de Salomón foi um livreto de quatro páginas com duas odes de Pablo Neruda: à Pantera Negra e à Borboleta. No verso, um autógrafo na inconfundível tinta verde usada pelo ganhador do Prêmio Nobel chileno e a dedicatória: "Para Gerchunoff. Do seu amigo Pablo".
"Em 1956, Neruda decidiu passar alguns dias em Villa del Totoral, que é uma cidade vizinha. E ele queria organizar um recital, mas estávamos na ditadura de Aramburu, e ele não recebeu o palco principal da cidade, que era o teatro San Martín. Então meu pai, junto com outras pessoas, moveu céus e terra para que o poeta pudesse se apresentar em outro espaço", diz Luis.
Para recompensar os esforços dos envolvidos, Neruda encomendou 500 exemplares de um livreto com as duas odes de uma gráfica local.
"E ele dedicou um especialmente ao meu pai", observa Ana. "Embora não nos lembremos de colocá-lo na parede, meu pai tinha certeza de que estava lá."
Eva, que era arquiteta, ficou encarregada de cimentar a parede e terminar tudo para não deixar indícios de que havia um buraco aberto naquela superfície.
Menos de um ano depois, em maio de 1977, os militares levaram Salomón.
"Eles o mandaram para La Perla, que mais tarde se tornaria um centro de tortura clandestino. Ele passou cinco anos lá."
Os quatro irmãos se lembram com precisão milimétrica do dia em que tiveram que sair daquela casa. "Por ficar sozinha, minha mãe não conseguia se sustentar e foi obrigada a vender a casa com prejuízo", conta Ana.
"Tivemos que levar nossas coisas em lençóis porque não tínhamos dinheiro para a mudança. Meu pai foi sequestrado. Foi muito doloroso", conta Beatriz, a irmã mais velha.
Nos anos seguintes, Eva e os cinco irmãos viveram como puderam em lugares diferentes. Em 1982, Salomón foi solto e, com o fim do regime militar, a primeira coisa que fez foi pedir permissão ao novo dono da casa para derrubar o muro e tirar seus livros.
"O cara se recusou a deixá-lo entrar", diz Ana. "Aí meu pai, frustrado, deu uma ordem para todos nós: 'Vamos esquecer os livros. Aqui encerramos essa história.'"
"Mas muitas vezes ele se lembrava de suas odes de Neruda e não podia deixar de se referir à casa 'daquele homem'", lembra Luis.
Eva morreu em 1994 e Salomón em 2002. Nora e Beatriz se mudaram para Israel e Ana, Luis e Roberto formaram família e se estabeleceram em diferentes lugares em Córdoba. Eles nunca voltaram para a casa.
Em 2008, enquanto Ana visitava um escritório no centro da cidade como parte de seu trabalho no Ministério da Justiça, ela foi abordada por uma mulher que pediu para falar em particular.
"Ele me perguntou se eu era Ana Gerchunoff, a da casa dos livros perdidos. Fiquei sem palavras e pensei 'Claro, os livros do papai!'."
A mulher, que era inquilina da casa há alguns anos, contou-lhe que se espalhou pelo bairro um boato de que havia livros dentro das paredes. "Ela me disse que era como um fantasma e que era muito difícil para ela morar em uma casa onde ela sabia que havia uma biblioteca embutida na parede."
Ele disse a ela que eles iriam abri-lo. A notícia pegou os irmãos de surpresa. Beatriz e Nora de Jerusalém disseram enfaticamente que queriam estar presentes quando as paredes fossem derrubadas.
Mas a urgência venceu: a mulher disse-lhes que tinham de pegar os livros o mais rápido possível antes que o dono descobrisse, pois ele era o mesmo que havia negado a entrada de Salomón.
"De um dia para o outro tínhamos que ir com um pedreiro e quebrar tudo. Nora e Beatriz não tiveram tempo de chegar", observa Luis.
Foi um procedimento simples: o pedreiro bateu duas vezes com o cinzel e abriu um buraco na parede de tijolos secos. E eles viram a maravilha através do buraco. Os livros estavam intactos, legíveis, como se tivessem sido colocados lá no dia anterior e não 30 anos antes.
"Mamãe tinha feito um bom trabalho", diz Ana.
"Ficamos atordoados, não só pelo estado dos livros, mas por todo o peso emocional que eles tinham, porque os livros fazem parte de seus donos. Eles preservaram parte do cheiro que a casa tinha quando morávamos lá, então, mais do que pensar nos livros, começamos a lembrar de tudo que vivemos naqueles anos", conta Luis.
Em meio a uma nuvem de nostalgia, um dos filhos da inquilina pegou a obra de Neruda e o olhou com especial interesse.
"E o que é isso?", ele perguntou.
"Era o caderno. Estava exatamente como eu me lembrava, então peguei dele e disse 'Nada. Papéis velhos'... e guardei", continua Luis.
Os três irmãos pensaram que só iriam encontrar fragmentos do que tinham deixado e, como naquela vez em que saíram de casa, há três décadas, tiveram que levar os livros em folhas.
Nora, a mais nova, permanece em silêncio. Ele apenas observa, em silêncio, enquanto seus irmãos contam a história, mas no final ele explode. Ela coloca a cabeça no ombro de Beatriz para que seus olhos não sejam vistos.
"O fato de terem tirado os livros foi libertador para mim. Minha infância ficou dentro daquelas paredes, com aqueles livros que a ditadura nos obrigou a guardar e que sequestraram meu pai", conclui.
"Eu senti como se estivesse reencontrando aquela menina de 9 anos que morreu um pouco quando tivemos que sair daquela casa sem livros para levar."
2. 'Eu comi 30 páginas'
Quando abriu os olhos, Luis Costa viu três soldados da Marinha chilena apontando seus fuzis G-3 para seu rosto."Eles me pegaram", foi a primeira coisa que ele pensou.
Atrás da fileira de fuzileiros entrou o comandante, que inspecionou seu rosto e, depois de descartar que era a pessoa que procuravam - um homem albino e muito mais velho -, disse-lhe: "Continue descansando, agora o que nos interessa são seus livros".
Seis meses antes, Pinochet havia derrubado o governo de Salvador Allende e, por sua militância no Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR), Costa vivia na clandestinidade.
Quase 50 anos depois, em sua casa em Quilpué, município a 10 quilômetros de Valparaíso, a segunda maior cidade do Chile, Costa aponta para uma rústica cadeira de madeira com o encosto em ângulo reto.
"O batista Van Schouwen, el Baucha (um dos comandantes históricos do MIR), sentou-se naquela cadeira quando realizamos reuniões em minha casa. Ele disse que o ajudava com suas dores nas costas."
Foi precisamente El Baucha quem lhe deu as primeiras instruções uma vez consumado o golpe de Pinochet: esconda-se, sobreviva e, se não for possível salvá-los, desfaça-se das bibliotecas de seus companheiros o mais rápido possível.
"Durante os anos da Unidade Popular de Salvador Allende houve um apogeu do livro. E muitos de nós aproveitamos isso para adquirir textos de literatura política para nos educarmos", diz.
"No entanto, o golpe de Pinochet foi tão certeiro que em menos de um dia o MIR já estava desmantelado, então a missão principal e quase a única que pudemos realizar foi esconder ou, infelizmente, destruir as bibliotecas de nossos camaradas para evitar que pudesse incriminá-los. Ter um livro considerado perigoso era o suficiente para ser preso", explica.
Destruir as cópias tornou-se uma questão de vida ou morte e, embora tenha sido um ato triste, pelo menos impediu que caíssem nas mãos dos militares.
Era uma tarefa de tentativa e erro: eles começavam por submergir os livros nas banheiras ou nas pias das casas para que as páginas amolecessem e depois pudessem jogá-los no vaso sanitário.
"Mas os canos entupiam facilmente", diz Costa. "Então tivemos que ir queimá-los."
"Primeiro nós tentamos no forno e nos fogões da cozinha, mas levamos muito tempo para queimar cada livro."
Eventualmente, eles concordaram com o último recurso: fazer fogueiras à noite "para evitar que as pessoas sentissem a fumaça e nos denunciassem".
No entanto, ele não queimou tudo. Apesar do perigo que representava, havia exemplares que conseguiu salvar.
Costa para sua história e percorre seu escritório, um espaço repleto de objetos e recordações de seus anos de militante, que distribuiu entre familiares e amigos quando teve que se exilar, depois de passar um tempo nos centros de detenção de Villa Grimaldi e Três Alamos. E que logo recuperou. .
Ele sobe as escadas que levam ao segundo andar, ao seu quarto. Lá ele agora tem sua biblioteca, da qual tira um livro coberto com uma folha preta.
"Havia livros que eram muito pessoais ou muito úteis, que a gente arriscava preservar. Este, por exemplo", diz ao abrir e revelar o título "Manual do Guerrilha Urbano", do brasileiro Carlos Marighella. "Foi muito útil para as tarefas clandestinas que estávamos realizando naqueles dias."
Mas ele também foi forçado a recorrer a táticas extremas para salvar sua vida e a de seus companheiros.
Na manhã em que acordou com os canos dos fuzis apontados para ele, Costa passava pela casa de uma família que morava em Villa Alemana, município a cerca de 30 quilômetros de Valparaíso.
A família, que não tinha relação com ele, fazia parte da rede de pessoas que apoiavam os militantes da esquerda.
Uma cama improvisada havia sido arrumada para ele no único quarto disponível: uma pequena biblioteca no primeiro andar. Lá estava ele dormindo quando o pelotão de fuzileiros o surpreendeu.
Costa obedeceu ao comandante e se deitou, ainda tremendo. Mas no meio de sua vigília, os militares o incomodaram novamente.
"Jovem, você pode me explicar sobre o que é este livro?", ele perguntou, entregando-lhe um volume com um título atraente, "Cibernética e a Revolução Industrial".
Costa levantou-se e explicou brevemente, com o que lembrava do tempo na Universidade de Santa María, que se tratava do estudo dos sistemas que controlam as máquinas. O homem uniformizado fez um gesto nebuloso e colocou o volume de lado com a ordem de confiscar.
"Interessante. Mas há a questão da revolução e isso é perigoso", disse.
Deitando-se novamente, Costa percebeu que na mesa de cabeceira, também improvisada, havia um livreto de 30 folhas de papel de arroz para enrolar cigarros onde estava descrita a situação da Secretaria-Geral do MIR, que lhe chegara naquela mesma tarde.
Agarrou o documento durante um descuido dos soldados, rasgou-o furtivamente, colocou-o na boca e começou a mastigá-lo sorrateiramente.
"Primeiro tentei umedecer com saliva, mas foi muito difícil, porque eram 30 folhas", conta. "Foi difícil para mim porque também não queria fazer barulho."
Costa lembra que tudo isso aconteceu com os militares ali ao lado. Ele tentando fazer o documento desaparecer e eles procurando livros pela sala. "Não me lembro quanto tempo levei, mas finalmente consegui engolir tudo."
"Não doeu o estômago nem nada, mas o que tive foi uma sensação estranha na boca, tipo de tinta seca, que sempre defino como minha primeira experiência com literatura gastronômica", conclui com uma cota de humor e ironia.
3. 'Biblioclastia fundamentalista'
Marjorie Mardones deixa seus dedos navegarem por uma prateleira de livros usados como uma criança em uma loja de brinquedos.Ela é bibliotecária do Centro Quilpué e professora da Universidad de Playa Ancha e nos últimos anos se propôs a descobrir o que aconteceu com milhares de livros que foram censurados e destruídos nesta região chilena durante o regime de Pinochet.
Por isso, caminha com o entusiasmo de salvadora pela livraria: mais do que notícias, procura sobreviventes. Qualquer pista serve: um título politicamente inclinado publicado em décadas anteriores, o selo de um editor perseguido. Capa enganosa. Uma capa forrada para esconder o título original.
"Minha ideia é buscar esses livros, que foram retirados de suas bibliotecas por serem considerados perigosos, e devolver para uma estante, para uma biblioteca, que é o lugar deles"
Na bolsa, Mardones carrega um dos achados que fez nos últimos anos, uma cópia que revela uma das manobras usadas para salvar os livros do apocalipse: a camuflagem.
O livro está envolto em uma capa azul clara, onde está impresso "A poesia de Nicanor Parra: anexos de estudos filológicos nº 4".
Mas quando ela abriu, outro título: "Trotsky, o grande organizador de derrotas", que ela suspeita ter sido publicado por uma editora soviética que, aproveitando o auge do livro no Chile, começou a publicar títulos em espanhol, mesmo embora seus escritórios ficassem em uma rua de Moscou.
"Era um método muito tradicional, tiravam a capa com muita delicadeza para não danificar a lombada e depois colavam a capa nova, que também havia sido retirada da mesma forma de um livro menos perigoso. Foi feito com livros muito específicos ou que eram importantes para seu dono, porque era um processo muito demorado e não podia ser aplicado a todos os livros."
Sua pesquisa foi exibida em uma exposição em 2017 na Universidade de Playa Ancha sobre livros perseguidos em Valparaíso, na qual exibiram não apenas os livros, mas também as histórias de como sobreviveram.
"Mostramos que o que vimos no Chile foi uma destruição fundamentalista do livro. À medida que as pessoas eram perseguidas, as ideias eram perseguidas", acrescenta.
"E foi um aviso do que estava por vir. Como disse o poeta alemão Heinrich Heine, 'onde os livros são queimados, as pessoas também são queimadas'."
Mardones cita o ensaio "Deseja, possui, enlouquece", no qual o renomado semiólogo italiano Umberto Eco, falecido em 2016, aponta três formas de biblioclastia ou destruição de livros: biblioclastia fundamentalista, descuido ou interesse próprio.
"Eco aponta claramente: 'O biblioclasta fundamentalista não odeia os livros como objeto, teme pelo conteúdo e não quer que os outros os leiam. Além de criminoso, é um louco, pelo fanatismo que o motiva. A história registra poucos casos extraordinários de biblioclastia, como o incêndio na biblioteca de Alexandria ou as fogueiras nazistas'", lê Mardones, que acrescenta: "E as ditaduras no Cone Sul".
"Depois dessa destruição, desse apagão cultural como muitos chamam, o que a ditadura fez foi criar uma cultura de consumo rápido, onde o livro não tem mais lugar", observa.
Para ilustrar o que acaba de relatar, ele pronuncia um nome que parece um animal mitológico: "Editora Quimantú".
A cerca de 90 quilômetros dali, Ramón Castillo tira um livro de sua coleção: é um pequeno exemplar cuja capa mostra um homem carregando um busto de Napoleão. É "Sherlock Holmes e o mistério dos seis bustos", mas ele se concentra no logotipo da editora que o publicou: um círculo com representações indígenas em torno de um "q" minúsculo.
"Este é um livro da editora nacional Quimantú, da coleção de livros de bolso", diz entusiasmado.
Além de acadêmico da Faculdade de Letras da Universidade Diego Portales, Castillo também seguiu a vocação de salvador de Mardones: à sua frente, na mesa da sala de sua casa no bairro Bellavista de Santiago, repousa uma montanha de livros. A maioria deles com o selo do Quimantú.
Após a chegada de Salvador Allende ao poder, em 1970, dentre muitas medidas implementadas, houve uma que visava popularizar o livro. Para isso, foi adquirida uma editora estatal, controlada pelos trabalhadores, que produziria 11 milhões de livros em três anos.
Não foi apenas literatura universal como o livro de Sherlock: nos últimos anos, Castillo conseguiu recuperar exemplares com títulos mais combativos, como "O que é o materialismo histórico", assinado por Marta Hernecker, e uma compilação da revista "Cabro Chico", dedicado às crianças.
"Tinha um alcance enorme. Um dos funcionários da Quimantú nos contou uma história que mostra isso: depois de uma doação para vários centros educacionais que ficavam fora da capital, um professor ligou para agradecer o gesto, mas sobretudo para pedir humildemente que também mandassem estantes, porque era a primeira vez que tinham livros na escola."
Após o golpe, Pinochet e os soldados que o acompanhavam fizeram uma perseguição sistemática a títulos que consideravam perigosos (na verdade, foram feitas transmissões televisivas com a queima de livros e convocadas coletivas de imprensa para anunciá-los), mas, sobretudo, dos livros da Quimantú.
Em poucos meses o nome foi mudado (Editorial Gabriela Mistral) e a maioria dos livros foi destruída.
Mas ele insiste em ecoar um único objetivo: "Muitas pessoas tiveram a coragem de preservar algo que acreditavam ser algo mais do que um livro, que destruí-lo era como destruir a si mesmos. Eu só quero que os livros tenham uma prateleira para que não nos esqueçamos do que aconteceu".
A perseguição aos livros durante os regimes militares na Argentina e no Chile
• No caso do Chile, após o golpe de 11 de setembro de 1973, iniciou-se uma destruição de livros considerados "subversivos" em bibliotecas públicas, universidades, algumas casas e livrarias.• Isso levou a um processo de autocensura, com muitos civis destruindo ou escondendo várias cópias de suas bibliotecas pessoais para evitar serem enquadrados pelos militares.
• A fase seguinte do regime foi a da censura prévia. Embora já realizasse operações de censura, foi em 1976 que o governo militar criou a Direção Nacional de Comunicações, a Dinaco. Todo o conteúdo cultural produzido no país tinha que passar por esse escritório para aprovação.
• Na Argentina, o processo é diferente. Quando ocorre o golpe de estado de março de 1976, o controle é imediatamente estabelecido sobre a produção de livros.
• Foram proibidos mais de 125 títulos contrários aos "valores nacionais" que o processo de reorganização da junta cívico-militar pretendia promover.
• Houve queima de livros. A mais significativa ocorreu em 26 de junho de 1980 no distrito de Sarandi, na província de Buenos Aires, quando foram queimados quase um milhão e meio de livros.
• Houve uma perseguição especial aos livros infantis. Por exemplo, o livro de contos "Torre de cubos", da escritora Laura Devetach, foi proibido por um decreto que apontava que seu conteúdo de "fantasia ilimitada" poderia ser prejudicial às crianças.
sexta-feira, setembro 23
Imaginemos, por absurdo, que os dicionários desapareciam
Uma palavra que durante décadas não seja utilizada na rua ou nos livros e permaneça apenas no dicionário tem um destino à vista: ser palavra-defunta. O dicionário pode ser visto, assim, como uma antecâmara da morte. Como se algumas palavras estivessem ali paradinhas, quietas, mudas (no sentido literal e metafórico) porque não falam, nin...guém fala por elas e ninguém as fala – com se estivessem, então, ali em fila, em linha, à espera do seu próprio velório. Ou podemos então mudar radicalmente de ponto de vista: o dicionário com os seus milhares e milhares de palavras, pode ser entendido como um depósito contra o esquecimento, um enorme arquivo. Eis, pois, um outro nome possível para o dicionário: instrumento para evitar o esquecimento. Imaginemos, por absurdo, que os dicionários desapareciam. Que uma qualquer ordem política determinava a sua destruição. Pois bem, seria uma matança. Em poucas décadas morreriam palavras como tordos. E se, no limite, não existisse qualquer livro, e ficássemos apenas […] com a linguagem das conversas rápidas, então o vocabulário ficaria reduzido ao mais essencial e mínimo: sim, não, comida, bebida, etc. Poderíamos assim, com a linguagem, expressar as necessidades do organismo mas certamente não as do espírito. Abrir o dicionário, pois, como ato de resistência e salvação: não vou ficar só com as palavras que ouço ou leio nos livros comuns – eis o que se poderia dizer. Abrimos ao acaso na página 310, e depois na página 315, sempre com a firme determinação de salvar duas ou três palavras de cada página. Como aquele que salva quem se está a afogar. E não é por acaso, aliás, que muitas das mitologias remetem o esquecimento para a imagem do rio. Uma água onde as coisas se afundam, deixam de ser vistas à superfície, desaparecem da vista. A passagem do rio utilizada também como metáfora do tempo que passa e leva e afunda as coisas que ainda há momentos estavam à nossa frente, bem vivas. Salvar palavras da água que engole e faz esquecer as coisas, eis o que é, em parte, abrir um dicionário. Dotados, então, de um espírito de nadador-salvador, abrimos ao acaso o dicionário e trazemos palavras mais ou menos raras – umas que já nadam há muito debaixo de água, com dificuldades, outras, mais resistentes, mais visíveis, mas ainda estimulantes (e algumas bem conhecidas dos nossos clássicos). Passemos pela letra M. Ao acaso e rapidamente. Morato – adjetivo que significa bem organizado. Maçaruco – (regionalismo) indivíduo mal trajado. Manajeiro – aquele que dirige o trabalho das ceifas os outros. Metuendo – que mete medo; terrível; medonho. E tropeçamos depois em palavras de significado popular e óbvio, mas bem divertido: Mata-sãos: médico incompetente; curandeiro. Eis, pois, a partir daqui, uma frase possível que quase poderíamos introduzir numa conversa de café (uma frase em letra M): - O manajeiro metuendo, maçaruco, aproximou-se do morato espaço do mata-sãos e disse: por favor, aqui não, vá curar mais além.
Gonçalo M Tavares
Gonçalo M Tavares
quinta-feira, setembro 22
Lances poéticos
O benemérito doou cinquenta sacos de cimento para a antologia de poemas concretos.
Se chorar é o que você faz melhor, não se poupe. Aperfeiçoe-se.
Justiça se faça aos poemas concretos. Eles acabaram com toda uma raça de esganiçados declamadores.
Desafortunados foram aqueles poetas românticos que passavam dos trinta anos e ainda não tinham morrido de amor. Onde quer que estivessem, com seus rostos rubicundos, seus ventres inflados e suas calvas lustrosas, eram recebidos com as gargalhadas e o desprezo que merecem todos os farsantes.
Atingido pelas gotículas poéticas lançadas pela declamadora, o espectador da fileira da frente puxou o lenço e, encantado, viu-o transformar-se em gracioso e sedento passarinho.
Quando o poeta concretista deixou cair seu poema, formou-se uma nuvem de areia no auditório.
O defunto parecia aflito, como se estivesse esperando ainda uma segunda opinião.
Chega aquela época de vida em que nossos olhos cansados, se forem postos diante da beleza mais uma vez, não se importarão se for a última.
No fim da vida, o único pecado que ele ainda cometia com frequência eram os sonetos.
Se para morrer for necessário algo além de conformismo e omissão, tem medo de fracassar, como lhe aconteceu tantas vezes com coisas muito menos importantes.
Não existem chatos bissextos.
Se não temos de Shakespeare nem as palavras nem a voz, o que há de a literatura querer de nós?
Raul Drewnick
***
Se chorar é o que você faz melhor, não se poupe. Aperfeiçoe-se.
***
Justiça se faça aos poemas concretos. Eles acabaram com toda uma raça de esganiçados declamadores.
***
Desafortunados foram aqueles poetas românticos que passavam dos trinta anos e ainda não tinham morrido de amor. Onde quer que estivessem, com seus rostos rubicundos, seus ventres inflados e suas calvas lustrosas, eram recebidos com as gargalhadas e o desprezo que merecem todos os farsantes.
***
Atingido pelas gotículas poéticas lançadas pela declamadora, o espectador da fileira da frente puxou o lenço e, encantado, viu-o transformar-se em gracioso e sedento passarinho.
***
Quando o poeta concretista deixou cair seu poema, formou-se uma nuvem de areia no auditório.
***
O defunto parecia aflito, como se estivesse esperando ainda uma segunda opinião.
***
Chega aquela época de vida em que nossos olhos cansados, se forem postos diante da beleza mais uma vez, não se importarão se for a última.
***
No fim da vida, o único pecado que ele ainda cometia com frequência eram os sonetos.
***
Se para morrer for necessário algo além de conformismo e omissão, tem medo de fracassar, como lhe aconteceu tantas vezes com coisas muito menos importantes.
***
Não existem chatos bissextos.
***
Se não temos de Shakespeare nem as palavras nem a voz, o que há de a literatura querer de nós?
Raul Drewnick
Universos paralelos
Há uma teoria científica que alega que há bilhões de outros universos, paralelos a este em que vivemos, e que cada um deles é um pouco diferente. Há alguns em que você nunca teria nascido e outros em que não desejaria nascer. Há universos paralelos em que estou transando com um cavalo, há aqueles em que ganhei o grande prêmio da loteria. Há universos onde estou deitado no chão do quarto sangrando lentamente até morrer, e aqueles em que sou eleito, por maioria de votos, para o cargo de presidente do país. Mas este conjunto de universos paralelos não me interessa agora. Interessam-me só aqueles em que ela não está feliz casada e tem um menininho doce. Em que está totalmente só. Há muitos universos assim, tenho certeza. Tento pensar neles agora. Dentre todos esses universos, há aqueles em que jamais nos encontramos. Eles também não me interessam no momento. Dentre os que restaram, há aqueles em que ela não me quer. Ela me diz não. Em alguns deles, de forma delicada, em outros, de modo ofensivo. Nenhum deles me interessa. Restaram somente aqueles em que ela me diz sim, e eu seleciono um deles, mais ou menos como se escolhe uma fruta na quitanda. Escolho o mais bonito, mais maduro, mais doce. É um universo em que o clima é perfeito. Nunca é quente demais ou frio demais, e vivemos ali em uma pequena cabana na floresta. Ela trabalha na biblioteca municipal, quarenta minutos de viagem de nossa casa, e eu trabalho no setor de educação do conselho regional, no prédio em frente àquele em que ela trabalha. Da janela do meu escritório posso às vezes vê-la recolocando livros nas prateleiras. Sempre almoçamos juntos. E eu a amo e ela a mim. E eu a amo e ela a mim. E eu a amo e ela a mim. Eu daria tudo para me transferir para esse universo, mas, por enquanto, até que eu encontre o caminho, só me resta pensar nele, o que não é pouco. Posso me imaginar vivendo lá no meio da floresta. Com ela, em total felicidade. Há um sem-número de universos paralelos no mundo. Em um deles estou transando com um cavalo, no outro ganhei o grande prêmio da loteria. Não quero pensar neles agora, somente naquele, naquele universo com a casa na floresta. Há um universo em que estou deitado com as veias cortadas, sangrando no chão do quarto. É o universo onde foi-me decretado viver até que isso acabe. Não quero pensar nele agora. Somente naquele universo. Uma casa na floresta, sol se pondo, dorme-se cedo. Na cama, meu braço direito está solto, estanque, ela dorme sobre ele, e estamos abraçados. Ela está deitada sobre ele há tanto tempo que começo a parar de senti-lo. Mas não me mexo, está bom para mim assim, com o braço debaixo do seu corpo quente, e continua sendo bom mesmo quando paro de sentir o braço totalmente. Sinto a respiração dela no meu rosto, ritmada, regular, não acaba. Meus olhos começam a se fechar agora. Não só naquele universo, na cama, na floresta, também em outros universos sobre os quais não quero pensar agora. É bom para mim saber que há outro lugar, no coração da floresta, em que adormeço agora feliz.
Etgar Keret, "De repente, uma batida na porta"
Etgar Keret, "De repente, uma batida na porta"
quarta-feira, setembro 21
Pavilhão dourado
Desde quando eu era criança, meu pai já me falava constantemente do Pavilhão Dourado.
Nasci em um promontório solitário e pobre, projetado sobre o mar do Japão, a nordeste de Maizuru. Meu pai, contudo, não nasceu ali, mas em Shiraku, nos subúrbios a leste de Maizuru. Abraçou a carreira monástica cedendo a pedidos insistentes. Veio depois a assumir o cargo de prior em um templo existente nesse promontório perdido, casou-se com uma mulher da região e teve um filho –– que sou eu.
 |
| Yukio Mishima |
Não havia escolas secundárias nas proximidades desse templo no promontório de Nariu. Com o passar do tempo, deixei meus pais e fui morar com um tio que vivia em Shiraku, para ali frequentar a escola secundária Maizuru Leste. Costumava então percorrer a pé o caminho até a escola.
A região era profusamente iluminada pelo sol o ano todo. Entretanto, por volta de novembro e dezembro, chuvaradas repentinas sobrevinham três ou quatro vezes ao dia, mesmo quando o céu se mostrava perfeitamente limpo e sem resquício de 8 nuvens. Penso até que a terra possa ter influído na formação desta minha alma volúvel.
Nas tardes de maio, ao regressar da escola, eu costumava observar os morros distantes através da janela da minha saleta de estudos no andar superior da casa de meu tio. Os raios do sol poente se refletiam sobre a jovem folhagem que revestia a encosta dos morros, e um biombo dourado surgia inesperadamente bem no meio da pradaria. Isso despertava na minha imaginação o Pavilhão Dourado.
Eu tinha conhecimento de como era na realidade o Pavilhão através de fotografias e também das descrições constantes nos livros didáticos. Contudo, a imagem que eu formara, transmitida por meu pai, sobrepujava essa realidade. Creio que meu pai nunca se valeu de adjetivos como “resplandecente” ou similares para descrevê-lo, mas para ele nada mais formoso havia sobre a face da Terra do que o Pavilhão. Dessa forma, o simples aspecto dos caracteres que formavam o nome, a própria pronúncia desses caracteres despertavam na minha alma uma imagem desmesurada.
Bastava ver reflexos do sol na superfície das águas dos arrozais distantes para eu achar neles a miragem do Pavilhão invisível. O Passo de Kichizuka, que divide a província de Fukui e o município de Quioto, ficava bem a leste. Era onde o sol nascia todas as manhãs. A direção era oposta à de Quioto, mas eu via ali o Pavilhão imponentemente erguido ao céu entre os raios do sol da manhã que subiam dos vales.
Assim, o Pavilhão Dourado me surgia em todas as partes. Contudo, avistá-lo mesmo era impossível, e nisso ele se assemelhava ao mar da região—as montanhas obstruíam a visão da baía de Maizuru, situada a pouco mais de dois quilômetros a oeste da aldeia de Shiraku, deixando entretanto sempre presente a sensação da proximidade do mar. Percebia-se vez ou outra o seu 9 odor nos ventos, e muitas gaivotas vinham pousar nos arrozais das cercanias, fugindo de temporais.
Yukio Mishima, "O Pavilhão Dourado"
Palavra por palavra
A ideia ocorreu-me em março de 1967, quando ganhei pela... ésima vez, para grande prazer meu, um novo Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, de meu velho amigo Aurélio Buarque de Holanda, que nada tem a ver com Sérgio e Chico, mas é, também, homem de muita cachola. Lembro-me de que era noite, e fiquei folheando-o à toa, e verificando uma vez mais a minha imensa ignorância do nosso léxico. De cada dez palavras, não sabia o significado de três ou quatro. É verdade que eram, o mais das vezes, palavras eruditas, de conteúdo científico e - bolas! - eu não sou cientista nem nada. Mas para um escritor, uma tal constatação é, de qualquer forma, humilhante. Passei a ler com mais frequência o dicionário como recomendava Gide - o que, aliás, constitui para mim uma ocupação melhor que a leitura desses escritores de best sellers que andam em voga.
Muitos amigos me têm pedido que escreva as minhas memórias, Fernando Sabino em particular. Fico pensando... Para quê? Parece-me um ato de vaidade, mais que de despudor. Mas, pondera ele - o Otto Lara Resende já me disse o mesmo - eu percorri um caminho de tal modo vário em experiências, aqui e no estrangeiro, que sonegá-las aos que acreditam no que escrevo, à mocidade em particular, é, de certo modo, uma forma de vaidade maior ainda. Considerando-se, ademais, que minha vida sempre foi, por assim dizer, vivida abertamente...
Não sei. Tenho horror à ideia de tornar-me literário, de começar a redigir no ato de escrever. O que me dificulta, hoje em dia, a leitura dos escritores em geral, com pouquíssimas exceções, é justamente esse detestável defeito. Mal sinto, em lugar de estilo, o menor maneirismo, a menor fita, largo o livro de mão. Acho-os, na maioria, uns chatos, só contam o que todo mundo já sabe ou logo adivinha. A vida é infinitamente mais rica que suas palavras - e estou certo de que mesmo os mais medíocres são portadores de experiências que nas mãos de um bom romancista ou um bom biógrafo dariam matéria de interesse universal. Pois tudo tem interesse, mesmo o coito de duas moscas, desde que provoque no ser que o observa um reflexo vital.
Vale dizer que pouca gente vive: esta é a grande verdade; vive no sentido de queimar-se sem reservas, sem preconceitos, sem atitudes, sem julgamentos canonizados por uma moral convencional imposta. Mas, por outro lado, eu não gostaria de escandalizar. Escandalizar pode ser também uma forma infame de vaidade, um processo autocomplacente de criar uma antimoral como justificação de taras ou fraquezas pessoais. Não: eu sou um homem que, até certo ponto, venceu as barreiras do medo de viver, e viver é, hoje em dia, para mim, um ato simples, perturbado apenas pelas neuroses consequentes do simples ato de viver.
Muitos amigos me têm pedido que escreva as minhas memórias, Fernando Sabino em particular. Fico pensando... Para quê? Parece-me um ato de vaidade, mais que de despudor. Mas, pondera ele - o Otto Lara Resende já me disse o mesmo - eu percorri um caminho de tal modo vário em experiências, aqui e no estrangeiro, que sonegá-las aos que acreditam no que escrevo, à mocidade em particular, é, de certo modo, uma forma de vaidade maior ainda. Considerando-se, ademais, que minha vida sempre foi, por assim dizer, vivida abertamente...
Não sei. Tenho horror à ideia de tornar-me literário, de começar a redigir no ato de escrever. O que me dificulta, hoje em dia, a leitura dos escritores em geral, com pouquíssimas exceções, é justamente esse detestável defeito. Mal sinto, em lugar de estilo, o menor maneirismo, a menor fita, largo o livro de mão. Acho-os, na maioria, uns chatos, só contam o que todo mundo já sabe ou logo adivinha. A vida é infinitamente mais rica que suas palavras - e estou certo de que mesmo os mais medíocres são portadores de experiências que nas mãos de um bom romancista ou um bom biógrafo dariam matéria de interesse universal. Pois tudo tem interesse, mesmo o coito de duas moscas, desde que provoque no ser que o observa um reflexo vital.
Vale dizer que pouca gente vive: esta é a grande verdade; vive no sentido de queimar-se sem reservas, sem preconceitos, sem atitudes, sem julgamentos canonizados por uma moral convencional imposta. Mas, por outro lado, eu não gostaria de escandalizar. Escandalizar pode ser também uma forma infame de vaidade, um processo autocomplacente de criar uma antimoral como justificação de taras ou fraquezas pessoais. Não: eu sou um homem que, até certo ponto, venceu as barreiras do medo de viver, e viver é, hoje em dia, para mim, um ato simples, perturbado apenas pelas neuroses consequentes do simples ato de viver.
A vida, trata-se de cumpri-la bem, sem outro temor que ter de apertar-lhe as rédeas. Ai de mim, que ilusão! - dizer isto na quadra dos cinquenta, quando os frutos do amor crescem cada vez menos ao alcance das mãos, do meu desejo...
Mas o curioso em tudo isso é que, aquela noite de março de 1967, a leitura à toa do Pequeno dicionário fez-me voltar a 15 anos atrás, num hotel em Genebra, quando - lembro-me tão bem agora - veio-me pela primeira vez a vontade de escrever minhas memórias, e eu chamei um mensageiro e dentro em breve punha-me a rabiscar num grosso caderno suíço. O resultado de um dia de trabalho pareceu-me, na manhã seguinte, tão... não digo literário, mas auto-suficiente, que larguei aquela choldra com um profundo aborrecimento de mim mesmo. Eu nada fizera senão ir, conscientemente, tentar justificar-me, apresentar-me sob uma luz falso-modesta, ficar lambendo as próprias feridas.
Mas o curioso em tudo isso é que, aquela noite de março de 1967, a leitura à toa do Pequeno dicionário fez-me voltar a 15 anos atrás, num hotel em Genebra, quando - lembro-me tão bem agora - veio-me pela primeira vez a vontade de escrever minhas memórias, e eu chamei um mensageiro e dentro em breve punha-me a rabiscar num grosso caderno suíço. O resultado de um dia de trabalho pareceu-me, na manhã seguinte, tão... não digo literário, mas auto-suficiente, que larguei aquela choldra com um profundo aborrecimento de mim mesmo. Eu nada fizera senão ir, conscientemente, tentar justificar-me, apresentar-me sob uma luz falso-modesta, ficar lambendo as próprias feridas.
Agora, não. Agora sinto que vou poder escrevê-las, usando as letras do alfabeto e as palavras da língua sob seus capítulos, como ímãs mnemônicos capazes de me mergulhar compulsivamente num abismo de lembranças: palavras concretas desagregando-se em memórias, um infinito de saudades, um sumidouro de associações caóticas, mas de onde possam vir à tona, tal um agente lisérgico, os fragmentos desse grande puzzle a reconstituir, que é a vida de um homem, de qualquer homem, de todos os homens. E fazê-lo dia a dia, numa hipnose consciente que possa resultar, quem sabe, numa autoanálise, tanto quanto possível próxima da verdade - que desta, realmente, não se sabe nunca.
Sim, a ideia me apaixona. Por que não tentar? Por que não pousar os olhos numa palavra e, através de conjeturas, sentir refluir o que ficou do tempo? Que mundo de livros, sobrasse-me vida, não poderia eu escrever com a palavra amor, a palavra amigo, a palavra mulher... Não criou a palavra ressentimento condições para que eu possa mergulhar na palavra sonho, e sonhar, e sonhar minha existência... - palavra por palavra?
Vinicius de Moraes
Vinicius de Moraes
segunda-feira, setembro 19
Canto e conto: duas ferramentas
Use a condução do poema
só quando a velocidade da tua visão
não der para viajar em prosa
Paulo Mendes Campos
só quando a velocidade da tua visão
não der para viajar em prosa
Paulo Mendes Campos
A paixão de dizer
Marcela esteve nas neves do Norte. Em Oslo, uma noite, conheceu uma mulher que canta e conta.
Entre canção e canção, essa mulher conta boas histórias, e as conta espiando papeizinhos, como quem lê a sorte de soslaio.
Essa mulher de Oslo veste uma saia imensa, toda cheia de bolsinhas. Dos bolsos vai tirando papeizinhos, um por um, e em cada papelzinho há uma boa história para ser contada, uma história de fundação e fundamento, e em cada história há gente que quer tornar a viver por arte de bruxaria. E assim ela vai ressuscitando os esquecidos e os mortos; e das profundidades desta saia vão brotando as andanças e os amores do bicho humano, que vai vivendo, que dizendo vai.
Eduardo Galeano, "Mulheres"
Entre canção e canção, essa mulher conta boas histórias, e as conta espiando papeizinhos, como quem lê a sorte de soslaio.
Essa mulher de Oslo veste uma saia imensa, toda cheia de bolsinhas. Dos bolsos vai tirando papeizinhos, um por um, e em cada papelzinho há uma boa história para ser contada, uma história de fundação e fundamento, e em cada história há gente que quer tornar a viver por arte de bruxaria. E assim ela vai ressuscitando os esquecidos e os mortos; e das profundidades desta saia vão brotando as andanças e os amores do bicho humano, que vai vivendo, que dizendo vai.
Eduardo Galeano, "Mulheres"
Os sem nome
Toda cidade possui figurinhas carimbadas (não confundir com as da Copa): o homem que passava pelas lojas aos gritos de “não pode!” e a andarilha idosa que dizem ser família rica, mas dormia nos bancos da praia, estão desaparecidos. No entanto, a jovem mulher que prega passagens da bíblia em lugares movimentados, com voz alta e aguda, vestindo roupa longa e xale na cabeça, voltou a frequentar a feira. Tinha sumido por uns tempos, mas ressurgiu firme e forte, competindo com os pregões dos feirantes. Só que, agora, em versão atualizada: trocou o livro sagrado pelo celular que lê aos berros, por mais de uma hora, divulgando parábolas, versículos, salmos…
Admiro a persistência dessas pessoas que contrariam o conceito de normalidade. Tomam para si missões auto-impostas, caminham quilômetros com sol ou chuva, sublimam maus tratos. Não sei onde se escondem o resto do dia, onde dormem, quando comem.
A cidade também anda cheia de mendigos, de todas as idades. E quase mendigos: garotos que vendem balas baratas na porta de supermercados, postos dos correios, entrada de bancos, escadaria dos shoppings.
Temos músicos nas calçadas. A maioria prefere tocar nos bairros comerciais e turísticos, além das ruas onde a feira-livre acontece uma vez por semana. Gosto de ouvi-los desde casa, e acredito que tornem menos árduo o trabalho dos feirantes, no desmonte das barracas. Em todos os lugares, a caixa do instrumento substitui o chapéu que antes recebia as gorjetas. E os mais sofisticados trazem consigo um pequeno amplificador e/ou aparelho que faz as vezes da bateria, melhorando o solo. O repertório é variado, do blues ao axé, incluindo música clássica.
Não é de hoje o trabalho de rua. Lembro dos peixeiros da infância, do amolador de facas e tesouras, do vendedor de biju, do comprador de ferro-velho e garrafas. Este último desapareceu, com a coleta de lixo reciclável, e rarearam as bancas de peixe, após a Rua do Peixe e o Mercado de Peixe, pontos de venda oficiais.
Como o homem do biju e sua matraca inconfundível, também circulam por aqui o carrinho de paçoca e amendoim torrado com seu apito e, mais recentemente, o ciclista com tabuleiro de tapioca, alimento que caiu no gosto dos preocupados com a saúde.
Os três não seguem uma rotina, aparecem quando aparecem. Assim como a família que, lá da rua, anuncia a coleta de óleo usado. Outro dia consegui descer a tempo e conheci a matriarca, que estacionava a carroça enquanto os filhos percorriam os prédios. Idade mediana, roupas gastas e olhar aflito, mas cheio de dignidade. Queria prever a próxima vinda, para ajudá-la de alguma forma, mas o grupo permanece pouco tempo em cada parada e nem sempre os alcanço. Estão atrás de óleo reciclável, não de donativos. Esta é parte da população que ocupa a cidade onde nasci. De tanto a percorrer, tais homens, mulheres e crianças devem conhecê-la melhor do que eu, embora poucos os considerem cidadãos e, para muitos, sejam invisíveis.
Madô Martins
Admiro a persistência dessas pessoas que contrariam o conceito de normalidade. Tomam para si missões auto-impostas, caminham quilômetros com sol ou chuva, sublimam maus tratos. Não sei onde se escondem o resto do dia, onde dormem, quando comem.
A cidade também anda cheia de mendigos, de todas as idades. E quase mendigos: garotos que vendem balas baratas na porta de supermercados, postos dos correios, entrada de bancos, escadaria dos shoppings.
Temos músicos nas calçadas. A maioria prefere tocar nos bairros comerciais e turísticos, além das ruas onde a feira-livre acontece uma vez por semana. Gosto de ouvi-los desde casa, e acredito que tornem menos árduo o trabalho dos feirantes, no desmonte das barracas. Em todos os lugares, a caixa do instrumento substitui o chapéu que antes recebia as gorjetas. E os mais sofisticados trazem consigo um pequeno amplificador e/ou aparelho que faz as vezes da bateria, melhorando o solo. O repertório é variado, do blues ao axé, incluindo música clássica.
Não é de hoje o trabalho de rua. Lembro dos peixeiros da infância, do amolador de facas e tesouras, do vendedor de biju, do comprador de ferro-velho e garrafas. Este último desapareceu, com a coleta de lixo reciclável, e rarearam as bancas de peixe, após a Rua do Peixe e o Mercado de Peixe, pontos de venda oficiais.
Como o homem do biju e sua matraca inconfundível, também circulam por aqui o carrinho de paçoca e amendoim torrado com seu apito e, mais recentemente, o ciclista com tabuleiro de tapioca, alimento que caiu no gosto dos preocupados com a saúde.
Os três não seguem uma rotina, aparecem quando aparecem. Assim como a família que, lá da rua, anuncia a coleta de óleo usado. Outro dia consegui descer a tempo e conheci a matriarca, que estacionava a carroça enquanto os filhos percorriam os prédios. Idade mediana, roupas gastas e olhar aflito, mas cheio de dignidade. Queria prever a próxima vinda, para ajudá-la de alguma forma, mas o grupo permanece pouco tempo em cada parada e nem sempre os alcanço. Estão atrás de óleo reciclável, não de donativos. Esta é parte da população que ocupa a cidade onde nasci. De tanto a percorrer, tais homens, mulheres e crianças devem conhecê-la melhor do que eu, embora poucos os considerem cidadãos e, para muitos, sejam invisíveis.
Madô Martins
sábado, setembro 17
A leitora
Quando Lucia Peláez era pequena, leu um romance escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, embaixo do travesseiro. Lucia tinha roubado o romance da biblioteca de cedro onde seu tio guardava os livros preferidos.
Muito caminhou Lucia, enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas caminhou pelos rochedos sobre o rio Antióquia, e na busca de gente caminhou pelas ruas das cidades violentas.
Muito caminhou Lucia, e ao longo de seu caminhar ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado, com seus olhos, na infância.
Lucia não tornou a ler aquele livro. Não o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro, agora é dela.
Eduardo Galeano, "Mulheres"
Muito caminhou Lucia, enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas caminhou pelos rochedos sobre o rio Antióquia, e na busca de gente caminhou pelas ruas das cidades violentas.
Muito caminhou Lucia, e ao longo de seu caminhar ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado, com seus olhos, na infância.
Lucia não tornou a ler aquele livro. Não o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro, agora é dela.
Eduardo Galeano, "Mulheres"
Uma gota de chuva na cara
Se não fosse gago era-me fácil conversar com ela. Mora três quarteirões adiante do meu, apanhamos o mesmo autocarro todos os dias, eu na quarta paragem e ela na quinta, olhamos imenso um para o outro durante os vinte minutos
(meia hora quando há trânsito)
do percurso entre o nosso bairro e o ministério, ela trabalha dois andares acima de mim, subimos no mesmo elevador sempre a olharmo-nos, às vezes até parece que me sorri
(tenho quase a certeza que me sorri)
vemo-nos de longe no refeitório cada qual com o seu tabuleiro, ia jurar que me fez sinal para me sentar na mesa dela, não me sento por não ter a certeza que me fez sinal
(acho que tenho a certeza que me fez sinal)
voltamos a olhar-nos no elevador, ela volta a sorrir quando saio, volta a olhar para mim no autocarro de regresso a casa e não sou capaz de falar com ela por causa da gaguez. Ou melhor não é só a gaguez: é que como as palavras não me saem, como quero exprimir-me e não consigo, fico roxo com os olhos de fora
(pus-me diante do espelho e é verdade)
de boca aberta, cheia de dentes, a tropeçar numa consoante interminável, a encher o ar à minha volta de um temporal de perdigotos aflitos, e não quero que ela repare como me torno ridículo, como me torno feio, como me torno, fisicamente, numa carranca de chafariz, a cuspir água aos soluços num mugido confuso. Com os meus colegas do emprego é simples: faço que sim ou que não com a cabeça, resumo as respostas a um gesto vago, transformo um discurso num erguer de sobrancelhas, reduzo as minhas opiniões sobre a vida a um encolher de ombros
(mesmo que não fosse gago continuaria a reduzir as minhas opiniões sobre a vida a um encolher de ombros)
ao passo que com ela seria obrigado a dizer coisas por extenso, a conversar a segredar-lhe ao ouvido
(se eu me atrevesse a segredar-lhe ao ouvido aposto que tirava logo o lenço da carteira para enxugar as bochechas e fugia assustada)
a segredar-lhe ao pescoço, a enredá-la numa teia de frases
(as mulheres, julgo eu, adoram ser enredadas numa teia de frases)
enquanto lhe pegava na mão, descia as pálpebras, esticava os lábios na expressão infinitamente estúpida dos namorados prestes ao beijo, e agora ponham-se no lugar dela e imaginem um gago desorbitado a aproximar-se de vocês escarlate de esforço, a abrir e fechar a boca prisioneiro de uma única silaba, a empurrar com o corpo todo um
- Amo-te
que não sai, que não consegue sair, que não sairá nunca, um
- Amo-te
que me fica preso na língua num rolhão de saliva, eu a subir e a descer os braços, a desapertar a gravata, a desabotoar o botão do colarinho, o
- Amo-te
nada, ou, pior que nada, substituído por um berro de gruta, ela a afastar-se com os braços estendidos, a levantar-se, a desaparecer porta fora espavorida, e eu sozinho na pastelaria debruçando-me ainda ofegante para o chá de limão e o pastel de nata da minha derrota definitiva. Não posso cair na asneira de conversar com ela, é óbvio que me tenho que conformar com os olhares no autocarro, com o sorriso no elevador, com o convite mudo no refeitório até ao dia em que ela aparecer de mão dada com um sujeito qualquer, se calhar mais velho do que eu mas capaz de lhe cochichar na orelha sem esforço
o que eu adorava explicar-lhe e não consigo até ao dia em que deixar de me olhar, de sorrir, de convidar-me a sentar a sua frente durante o almoço
(sopa, um prato à escolha entre dois, doce ou fruta, uma carcaça e uma garrafa pequena de vinho, tudo por quatrocentos e quarenta escudos não é caro)
e eu a vê-la na outra ponta do autocarro a poisar a testa no ombro de um sujeito qualquer, sem reparar em mim, sem reparar sequer em mim como se eu nunca tivesse existido e compreender que por ter deixado de existir não existi nunca, e nessa noite ao olhar-me no espelho não verei ninguém ou verei quando muito um par de olhos
(os meus)
que me censuram, um par de olhos com aquilo que ia jurar ser uma lágrima a tremer nas pestanas e a descer devagarinho pela bochecha fora, ou talvez não seja uma lágrima e apenas
(porque será inverno)
uma gota de chuva, sabem como é, a correr na vidraça.
António Lobo Antunes
(meia hora quando há trânsito)
do percurso entre o nosso bairro e o ministério, ela trabalha dois andares acima de mim, subimos no mesmo elevador sempre a olharmo-nos, às vezes até parece que me sorri
(tenho quase a certeza que me sorri)
vemo-nos de longe no refeitório cada qual com o seu tabuleiro, ia jurar que me fez sinal para me sentar na mesa dela, não me sento por não ter a certeza que me fez sinal
(acho que tenho a certeza que me fez sinal)
voltamos a olhar-nos no elevador, ela volta a sorrir quando saio, volta a olhar para mim no autocarro de regresso a casa e não sou capaz de falar com ela por causa da gaguez. Ou melhor não é só a gaguez: é que como as palavras não me saem, como quero exprimir-me e não consigo, fico roxo com os olhos de fora
(pus-me diante do espelho e é verdade)
de boca aberta, cheia de dentes, a tropeçar numa consoante interminável, a encher o ar à minha volta de um temporal de perdigotos aflitos, e não quero que ela repare como me torno ridículo, como me torno feio, como me torno, fisicamente, numa carranca de chafariz, a cuspir água aos soluços num mugido confuso. Com os meus colegas do emprego é simples: faço que sim ou que não com a cabeça, resumo as respostas a um gesto vago, transformo um discurso num erguer de sobrancelhas, reduzo as minhas opiniões sobre a vida a um encolher de ombros
(mesmo que não fosse gago continuaria a reduzir as minhas opiniões sobre a vida a um encolher de ombros)
ao passo que com ela seria obrigado a dizer coisas por extenso, a conversar a segredar-lhe ao ouvido
(se eu me atrevesse a segredar-lhe ao ouvido aposto que tirava logo o lenço da carteira para enxugar as bochechas e fugia assustada)
a segredar-lhe ao pescoço, a enredá-la numa teia de frases
(as mulheres, julgo eu, adoram ser enredadas numa teia de frases)
enquanto lhe pegava na mão, descia as pálpebras, esticava os lábios na expressão infinitamente estúpida dos namorados prestes ao beijo, e agora ponham-se no lugar dela e imaginem um gago desorbitado a aproximar-se de vocês escarlate de esforço, a abrir e fechar a boca prisioneiro de uma única silaba, a empurrar com o corpo todo um
- Amo-te
que não sai, que não consegue sair, que não sairá nunca, um
- Amo-te
que me fica preso na língua num rolhão de saliva, eu a subir e a descer os braços, a desapertar a gravata, a desabotoar o botão do colarinho, o
- Amo-te
nada, ou, pior que nada, substituído por um berro de gruta, ela a afastar-se com os braços estendidos, a levantar-se, a desaparecer porta fora espavorida, e eu sozinho na pastelaria debruçando-me ainda ofegante para o chá de limão e o pastel de nata da minha derrota definitiva. Não posso cair na asneira de conversar com ela, é óbvio que me tenho que conformar com os olhares no autocarro, com o sorriso no elevador, com o convite mudo no refeitório até ao dia em que ela aparecer de mão dada com um sujeito qualquer, se calhar mais velho do que eu mas capaz de lhe cochichar na orelha sem esforço
o que eu adorava explicar-lhe e não consigo até ao dia em que deixar de me olhar, de sorrir, de convidar-me a sentar a sua frente durante o almoço
(sopa, um prato à escolha entre dois, doce ou fruta, uma carcaça e uma garrafa pequena de vinho, tudo por quatrocentos e quarenta escudos não é caro)
e eu a vê-la na outra ponta do autocarro a poisar a testa no ombro de um sujeito qualquer, sem reparar em mim, sem reparar sequer em mim como se eu nunca tivesse existido e compreender que por ter deixado de existir não existi nunca, e nessa noite ao olhar-me no espelho não verei ninguém ou verei quando muito um par de olhos
(os meus)
que me censuram, um par de olhos com aquilo que ia jurar ser uma lágrima a tremer nas pestanas e a descer devagarinho pela bochecha fora, ou talvez não seja uma lágrima e apenas
(porque será inverno)
uma gota de chuva, sabem como é, a correr na vidraça.
António Lobo Antunes
Assinar:
Postagens (Atom)