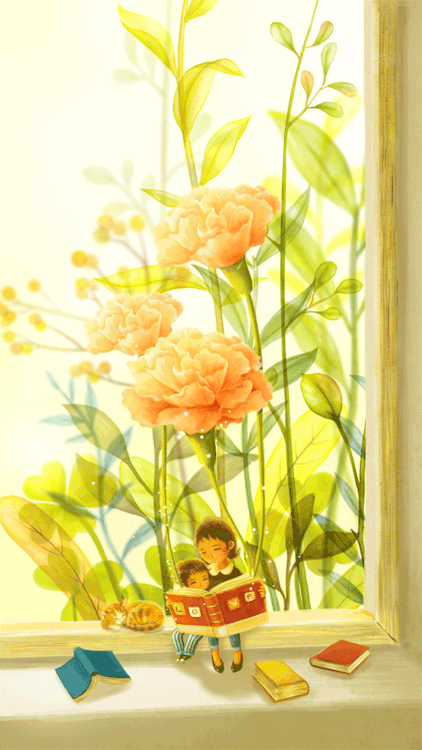quarta-feira, julho 31
O gemido
Os dois vendedores da livraria ouviram um gemido vindo da estante de poesia. Aproximaram-se e ficaram atentos. Instantes depois o gemido se repetiu. "Dá para acreditar? É este aqui", disse um, puxando um livro. O outro riu: "Antologia de poemas concretos. Como é que pode? Ô cimento chorão!"Raul Drewnick
Biblioteca é mais importante em escolas em áreas mais pobres
 |
| Biblioteca Laranjeiras, na periferia de Sorocaba(SP) |
O simples fato de existir uma biblioteca na escola obviamente não é garantia de que o aprendizado aumentará. Mas a falta ou inadequação de material de biblioteca é apontada pela maioria (51%) dos diretores brasileiros como um problema grave, que afeta o aprendizado dos alunos em suas escolas, de acordo com a Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem, realizada pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Na média da OCDE –formada principalmente por nações ricas – essa proporção é de apenas 16%.
É muito difícil mensurar o impacto causado diretamente por uma biblioteca escolar no aprendizado de alunos. Há, porém, um razoável número de estudos acadêmicos confirmando o que é intuitivo: incentivar o hábito de leitura desde cedo têm impactos positivos, que não se restringem ao aprendizado na escola. Um estudo publicado no ano passado na revista científica Pediatrics– da Academia Americana de Pediatria – mostrou que um programa da prefeitura de Boa Vista (RR) e do Instituto Alfa e Beto com beneficiários do Bolsa Família levou a ganhos significativos de vocabulário, desenvolvimento cognitivo e na qualidade das interações entre crianças de 2 e 4 anos e seus cuidadores. Uma explicação foi que, mais do que simplesmente distribuir e recomendar a leitura, houve orientação de profissionais aos pais sobre como fazer uma leitura mais interativa, estimulando conversas entre pais e filhos.
O desafio maior das políticas públicas em grande escala e em contextos de alta desigualdade é como fazer isso com qualidade no caso de famílias de baixa renda e escolaridade. São justamente aquelas que, de acordo com o estudo encomendado pelo Instituto Pró-Livro, podem ser as maiores beneficiadas de uma política de incentivo à leitura.
segunda-feira, julho 29
O sino de ouro
Contaram-me que, no fundo do sertão de Goiás, numa localidade de cujo nome não estou certo, mas acho que é Porangatu, que fica perto do Rio de Ouro e da Serra de Santa Luzia, ao sul da Serra Azul – mas também pode ser Uruaçu, junto do Rio das Almas e da Serra do Passa Três (minha memória é traiçoeira e fraca; eu esqueço os nomes das vilas e a fisionomia dos irmãos, esqueço os mandamentos e as cartas e até a amada que amei com paixão) –, mas me contaram que em Goiás, nessa povoação de poucas almas, as casas são pobres, e os homens, pobres, e muitos são parados e doentes e indolentes, e mesmo a igreja é pequena, me contaram que ali tem – coisa bela e espantosa – um grande sino de ouro.
Lembrança de antigo esplendor, gesto de gratidão, dádiva ao Senhor de um grão-senhor – nem Chartres, nem Colônia, nem São Pedro ou Ruão, nenhuma catedral imensa com seus enormes carrilhões tem nada capaz de um som tão lindo e puro como esse sino de ouro, de ouro catado e fundido na própria terra goiana nos tempos de antigamente.
É apenas um sino, mas é de ouro. De tarde seu som vai voando em ondas mansas sobre as matas e os cerrados, e as veredas de buritis, e a melancolia do chapadão, e chega ao distante e deserto carrascal, e avança em ondas mansas sobre os campos imensos, o som do sino de ouro. E a cada um daqueles homens pobres ele dá cada dia sua ração de alegria. Eles sabem que de todos os ruídos e sons que fogem do mundo em procura de Deus – gemidos, gritos, blasfêmias, batuques, sinos, orações e o murmúrio temeroso e agônico das grandes cidades que esperam a explosão atômica e no seu próprio ventre negro parecem conter o gérmen de todas as explosões –, eles sabem que Deus, com especial delícia e alegria, ouve o som alegre do sino de ouro perdido no fundo do sertão. E então é como se cada homem, o mais pobre, o mais doente e humilde, o mais mesquinho e triste, tivesse dentro da alma um pequeno sino de ouro.
Quando vem o forasteiro de olhar aceso de ambição e propõe negócios, fala em estradas, bancos, dinheiro, obras, progresso, corrução – dizem que esses goianos olham o forasteiro com um olhar lento e indefinível sorriso e guardam um modesto silêncio. O forasteiro de voz alta e fácil não compreende: fica, diante daquele silêncio, sem saber que o goiano está quieto, ouvindo bater dentro de si, com um som de extrema pureza e alegria, seu particular sino de ouro. E o forasteiro parte, e a povoação continua pequena, humilde e mansa, mas louvando a Deus com sino de ouro. Ouro que não serve para perverter nem o homem nem a mulher, mas para louvar a Deus.
E se Deus não existe não faz mal. O ouro do sino de ouro é neste mundo o único ouro de alma pura, o ouro no ar, o ouro da alegria. Não sei se isso acontece em Porangatu, Uruaçu ou outra cidade do sertão. Mas quem me contou foi um homem velho que esteve lá; contou dizendo: “eles têm um sino de ouro e acham que vivem disso, não se importam com mais nada, nem querem mais trabalhar; fazem apenas o essencial para comer e continuar a viver, pois acham maravilhoso ter um sino de ouro”.
O homem velho me contou isso com espanto e desprezo. Mas eu contei a uma criança e nos seus olhos se lia seu pensamento: que a coisa mais bonita do mundo deve ser ouvir um sino de ouro. Com certeza é esta mesma a opinião de Deus, pois ainda que Deus não exista, ele só pode ter a mesma opinião de uma criança. Pois cada um de nós quando criança tem dentro da alma seu sino de ouro que depois, por nossa culpa e miséria e pecado e corrução, vai virando ferro e chumbo, vai virando pedra e terra, e lama e podridão.
Rubem Braga
Uma porção de nadas
Embora hoje possa não parecer, nasci para escrever.
Na vida de um escritor, não há como escapar. Só há dois modos de ser: ou viver para contar, ou contar para viver.
Honro minha espécie, sou dócil por inteiro. Que não possa quem me matar chamar-me de mau cordeiro.
Aos oitenta, para o poeta mais vale um bom prato de polenta e um pote de geleia que os dez cantos de uma epopeia.
Escrever tem sido igual, desde a primeira vez, tantas décadas atrás. O que vem mudando é a esperança, cada dia mais mirrada.
No terreno baldio, a placa: é proibido jogar gatos.
Mulheres não mais. Para o velho agora só prescrevem vitaminas e sais minerais.
Quem fala com seus botões dá pano para mangas.
Para os preguiçosos e para os que têm calos nos pés, um passo já é meio caminho andado.
Como diz um velho político, a moderação é tão alta virtude que mesmo a honestidade, quando praticada, deve levá-la em conta.
Se um dia me baixar o santo, que seja um de primeira: ou o Padre Eterno ou o Padre Vieira.
Conte a um poeta romântico seus sucessos amorosos, mas jamais as desilusões, a menos que você deseje matá-lo de inveja.
Venho descobrindo que minha maior contribuição para a literatura pode ser escrever cada vez menos ou definitivamente mais nada.
As mulheres inalcançáveis são as que inspiram as melhores escadas, os mais eficazes venenos e os suicídios mais justificáveis.
Hoje, se pensa no sexo e em suas engenhosas práticas, seu sorriso é o mesmo que abre ao se lembrar de bolo de fubá que a avó fazia quando ele era menino.
Gostaria de ser um mártir que, morrendo pelo amor, pudesse repetir o calvário quantas vezes quisesse.
Sente-se como alguém que subitamente, num velório, descobre que está deitado porque é o morto.
Raul Drewnick
***
Na vida de um escritor, não há como escapar. Só há dois modos de ser: ou viver para contar, ou contar para viver.
***
Honro minha espécie, sou dócil por inteiro. Que não possa quem me matar chamar-me de mau cordeiro.
***
Aos oitenta, para o poeta mais vale um bom prato de polenta e um pote de geleia que os dez cantos de uma epopeia.
***
Escrever tem sido igual, desde a primeira vez, tantas décadas atrás. O que vem mudando é a esperança, cada dia mais mirrada.
***
No terreno baldio, a placa: é proibido jogar gatos.
***
***
Quem fala com seus botões dá pano para mangas.
***
Para os preguiçosos e para os que têm calos nos pés, um passo já é meio caminho andado.
***
Como diz um velho político, a moderação é tão alta virtude que mesmo a honestidade, quando praticada, deve levá-la em conta.
***
Se um dia me baixar o santo, que seja um de primeira: ou o Padre Eterno ou o Padre Vieira.
***
Conte a um poeta romântico seus sucessos amorosos, mas jamais as desilusões, a menos que você deseje matá-lo de inveja.
***
Venho descobrindo que minha maior contribuição para a literatura pode ser escrever cada vez menos ou definitivamente mais nada.
***
As mulheres inalcançáveis são as que inspiram as melhores escadas, os mais eficazes venenos e os suicídios mais justificáveis.
***
Hoje, se pensa no sexo e em suas engenhosas práticas, seu sorriso é o mesmo que abre ao se lembrar de bolo de fubá que a avó fazia quando ele era menino.
***
Gostaria de ser um mártir que, morrendo pelo amor, pudesse repetir o calvário quantas vezes quisesse.
***
Sente-se como alguém que subitamente, num velório, descobre que está deitado porque é o morto.
Raul Drewnick
sábado, julho 27
O sino de ouro
 |
| Raimundo de Madrazo y Garreta |
Lembrança de antigo esplendor, gesto de gratidão, dádiva ao Senhor de um grão-senhor – nem Chartres, nem Colônia, nem São Pedro ou Ruão, nenhuma catedral imensa com seus enormes carrilhões tem nada capaz de um som tão lindo e puro como esse sino de ouro, de ouro catado e fundido na própria terra goiana nos tempos de antigamente.
É apenas um sino, mas é de ouro. De tarde seu som vai voando em ondas mansas sobre as matas e os cerrados, e as veredas de buritis, e a melancolia do chapadão, e chega ao distante e deserto carrascal, e avança em ondas mansas sobre os campos imensos, o som do sino de ouro. E a cada um daqueles homens pobres ele dá cada dia sua ração de alegria. Eles sabem que de todos os ruídos e sons que fogem do mundo em procura de Deus – gemidos, gritos, blasfêmias, batuques, sinos, orações e o murmúrio temeroso e agônico das grandes cidades que esperam a explosão atômica e no seu próprio ventre negro parecem conter o gérmen de todas as explosões –, eles sabem que Deus, com especial delícia e alegria, ouve o som alegre do sino de ouro perdido no fundo do sertão. E então é como se cada homem, o mais pobre, o mais doente e humilde, o mais mesquinho e triste, tivesse dentro da alma um pequeno sino de ouro.
Quando vem o forasteiro de olhar aceso de ambição e propõe negócios, fala em estradas, bancos, dinheiro, obras, progresso, corrução – dizem que esses goianos olham o forasteiro com um olhar lento e indefinível sorriso e guardam um modesto silêncio. O forasteiro de voz alta e fácil não compreende: fica, diante daquele silêncio, sem saber que o goiano está quieto, ouvindo bater dentro de si, com um som de extrema pureza e alegria, seu particular sino de ouro. E o forasteiro parte, e a povoação continua pequena, humilde e mansa, mas louvando a Deus com sino de ouro. Ouro que não serve para perverter nem o homem nem a mulher, mas para louvar a Deus.
E se Deus não existe não faz mal. O ouro do sino de ouro é neste mundo o único ouro de alma pura, o ouro no ar, o ouro da alegria. Não sei se isso acontece em Porangatu, Uruaçu ou outra cidade do sertão. Mas quem me contou foi um homem velho que esteve lá; contou dizendo: “eles têm um sino de ouro e acham que vivem disso, não se importam com mais nada, nem querem mais trabalhar; fazem apenas o essencial para comer e continuar a viver, pois acham maravilhoso ter um sino de ouro”.
O homem velho me contou isso com espanto e desprezo. Mas eu contei a uma criança e nos seus olhos se lia seu pensamento: que a coisa mais bonita do mundo deve ser ouvir um sino de ouro. Com certeza é esta mesma a opinião de Deus, pois ainda que Deus não exista, ele só pode ter a mesma opinião de uma criança. Pois cada um de nós quando criança tem dentro da alma seu sino de ouro que depois, por nossa culpa e miséria e pecado e corrução, vai virando ferro e chumbo, vai virando pedra e terra, e lama e podridão.
Rubem Braga
'O verão tardio', alegoria de uma surdez coletiva
O verão tardio condensa uma série de sentimentos que aparecem espalhados em outros livros dessa safra de um período do Brasil de rumo extremamente perigoso. 2013 não é em vão. Daquele ano em diante, ficou mais evidente a perda em passos largos da nossa capacidade de dialogar, de ouvir o outro e de conviver com a qualquer diferença de classe social, gênero, raça, etnia ou religião. Em um raio de ação adaptado, na narrativa de Ruffato, não ser ouvido também é um ponto de estrangulamento das relações e gerador de apatia. É como se Oséias fosse um cidadão qualquer, com quem cruzamos por aí, ou quem sabe nós mesmos, ora em nossa necessidade de sermos ouvidos ora na nossa inabilidade adquirida para ouvirmos o outro.
A literatura, neste caso, funciona como uma caixa de ressonância e nos arremessa em looping para a pergunta: por que perdemos o que também nos faz humanos, a troca das experiências por meio do diálogo? Ofensas nas redes sociais, bloqueios de Twitter, bate-boca nas sessões de comissões especiais no Congresso Nacional são alguns exemplares disso. Quando não se saber ouvir, perde-se o tom do debate, da argumentação, o caminho até a zona em que opiniões divergentes, mas sensatas movem as engrenagens da democracia.
No romance de Ruffato, o que aparece ao fundo é um país borrado, onde o narrador, representante de vendas de uma empresa de produtos agropecuários no Estado de São Paulo, volta a sua cidade após quase vinte anos afastado atrás de sua própria memória. Em seis dias, como se dividem os capítulos, ele revisita os irmãos Isabela, Rosana, João Lúcio e a memória de Lígia, a irmã de 15 anos que havia se suicidado há quarenta anos. A última vez que Oséias botou os pés na cidade foi antes da morte da mãe, em 1995. Em texto sobre os bastidores da obra, publicado pelo Suplemento Pernambuco, Ruffato conta que é na figura de Lígia que toda a trama nasceu, muitos anos antes do novo livro ser escrito. “Há uma passagem em Eles eram muitos cavalos, uma passagem sutil, quase imperceptível, que, por sua força dramática, me persegue desde sempre (...)Trata-se do fluxo de consciência de um personagem que, a certa altura lembra: “morreu no beira-rio, tiro no ouvido, uma menina, quinze anos, ouviu? É tiro!”, diz o trecho.
Assim, Ruffato admite ter convivido com a sombra dessa primeira remissão à personagem Lígia, que reaparece quase 20 anos depois em O verão tardio e que, em termos narrativos, opera como uma personagem ausente, espécie de Godot, a quem se deve a força-motriz do texto, mas que não está propriamente presente na ficção, a não ser na memória de Oséias. O irmão, um ano mais novo, é quem acende a lembrança da irmã para os demais; Rosana, Isinha e João Lúcio, deixando a sensação de que aquela morte mudaria para sempre os rumos da família, mesmo que o assunto não seja tocado. É que com os anos, Lígia não passa de uma lembrança longínqua, enquanto os outros vivem suas vidas precárias, seja no plano físico, na luta pela sobrevivência da família de Isinha, ou emocional, por meio da medicalização de Oséias ou dos tratamentos estéticos que prometem a juventude eterna de Rosana. De fato, os personagens tocaram suas vidas, porém o núcleo central onde todos gravitavam se desfez, restando a cada um girar em sua própria órbita em uma batalha entre lembrança e esquecimento daquele ano de 1975, governado pelo general Ernesto Geisel.
A partir do narrador, no esforço inútil de aproximação do seu passado, surgem as marcas da autoria repaginadas, desta vez pelo desencantamento não mais anônimo, mas materializado no olhar que Oséias lança a esses personagens; o colega da escola que virou prefeito, paparicado por uma meia dúzia de assessores parlamentares e que ele a todo custo tenta reencontrar, o garoto com tendências violentas que adulto tem um trabalho precário de atendente em uma lanchonete, o professor homossexual que vive isolado... A memória coletiva, acionada pela individual, como defende o sociólogo francês Maurice Halbwachs, é adensada pela escolha sempre presente de personagens de estratos sociais diferentes nos livros de Ruffato.
Entre quem sai e quem fica na cidade, as relações familiares desgastadas pela surdez não calculada fazem as vezes de câmara de ecos dos sentimentos do momento histórico atual. O narrador seria um personagem conhecido de Inferno provisório (2016) ou do próprio Eles eram muitos cavalos (2001), não fosse a envergadura própria que ganha pelo tempo presente. Não à toa, Oséias, homem comum, de origem humilde que migra para São Paulo e é soterrado pelo ambiente, vive a vida em atos repetitivos (muito bem calculados no plano textual de Ruffato), perdido e sem rumo em meio à multidão. Escaparemos quando voltarmos a ouvir: é este um dos principais chamados da literatura.
Edma de Góis
sexta-feira, julho 26
Feitos de histórias
 |
| Leo Espinosa |
Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de históriasEduardo Galeano
Morte de uma baleia
 |
| Anthonie Pietsser Schotel |
Senti um horror diante do que contavam e que talvez não fossem estritamente os fatos reais, mas a lenda já estava formada em torno do extraordinário que enfim, enfim! Acontecia, pois por pura sede de vida melhor estamos sempre à espera do extraordinário que talvez nos salve de uma vida contida. Se fosse um homem que estivesse agonizando na praia durante oito horas nós o santificaríamos, tanto precisamos de crer no que é impossível.
Não, não fui vê-la: detesto a morte. Deus, o que nos prometeis em troca de morrer? Pois o céu e o inferno nós já os conhecemos – cada um de nós em segredo quase de sonho já viveu um pouco do próprio apocalipse. E a própria morte.
Fora das vezes em que quase morri para sempre, quantas vezes num silêncio humano – que é o mais grave de todos do reino animal –, quantas vezes num silêncio humano minha alma agonizando esperava por uma morte que não vinha. E como escárnio, por ser o contrário do martírio em que minha alma sangrava, era quando o corpo mais florescia. Como se meu corpo precisasse dar ao mundo uma prova contrária de minha morte interna para esta ser mais secreta ainda. Morri de muitas mortes e mantê-las-ei em segredo até que a morte do corpo venha, e alguém, adivinhando, diga: esta, esta viveu.
Porque aquele que mais experimenta o martírio é dele que se poderá dizer: este, sim, este viveu.
O mais estranho é que todas as vezes em que era só o corpo que estava à morte, a alma o desconhecia: da última vez em que meu corpo quase morreu, ignorando o que sucedia, tinha uma espécie de rara alegria como se ela estivesse enfim liberta enquanto o corpo doía como o Inferno. Uma das vezes, só depois que passou é que me disseram: eu havia estado três dias entre vida e morte, e nada garantiam os médicos, senão que tudo tentariam. E eu tão inocente do que estava acontecendo que estranhava não permitirem visitas. Mas eu quero visitas, dizia, elas me distraem da dor terrível. E todos os que não obedeceram à placa “Silêncio”, todos foram recebidos por mim, gemendo de dor, como numa festa: eu tinha-me tornado falante e minha voz era clara: minha alma florescia como um áspero cactos. Até que o médico, realmente muito zangado e num tom definitivo, disse-me: mais uma só visita e lhe darei alta no estado mesmo em que você está. “O estado em que eu estava” eu o desconhecia, nunca nesses dias notei que estava no limiar da morte. Parece-me que eu vagamente sentia que, enquanto sofresse fisicamente de um modo tão insuportável, isso seria a prova de estar vivendo ao máximo.
Lembro-me agora de uma vez que ao olhar um pôr do sol interminável e escarlate também eu agonizei com ele lentamente e morri, e a noite veio para mim cobrindo-me de mistério, de insônia clarividente e, finalmente por cansaço, sucumbindo num sono que completava a minha morte. E quando acordei, surpreendi-me docemente. Nos primeiros ínfimos instantes de acordada pensei: então quando se está morta se conserva a consciência? Até que o corpo habituado a mover-se automaticamente me fez fazer um gesto muito meu: o de passar a mão pelos cabelos. Então num susto percebi que meu corpo e minha alma tinham sobrevivido. Tudo isto – a certeza de estar morta e a descoberta de que eu estava viva – tudo isto não durou, creio, mais que dois ínfimos segundos ou talvez menos ainda. Mas que de hoje em diante todos saibam através de mim que não estou mentindo: em menos de dois segundos podem-se viver uma vida e uma morte e uma vida de novo. Esses dois ínfimos segundos como forma de contar toscamente o tempo devem ser a diferença entre o ser humano e o animal: assim como Deus talvez conte o tempo em frações de século dos séculos: cada século um instante. Quem sabe se Deus conta a nossa vida em termos de dois segundos: um para nascer e outro para morrer. E o intervalo, meu Deus, talvez seja a maior criação do Homem: a vida, uma vida. Lembro-me de um amigo que há poucos dias citou o que um dos apóstolos disse de nós: vós sois deuses.
Sim, juro que somos deuses. Porque eu também já morri de alegria muitas vezes na minha vida. E quando passava essa espécie de gloriosa e suave morte, eu me surpreendia de que o mundo continuasse ao meu redor, de que houvesse uma disciplina para cada coisa, e de que eu mesma, a começar por mim, tinha o meu nome e já entrara na rotina: pensara que o tempo tinha parado e os homens subitamente se tinham imobilizado no meio do gesto que estivessem executando – enquanto eu vivera a morte por alegria.
Não fui ver a baleia que estava a bem dizer à porta de minha casa a morrer. Morte, eu te odeio.
Enquanto isso as notícias misturadas com lendas corriam pela cidade do Leme. Uns diziam que a baleia do Leblon ainda não morrera mas que sua carne retalhada em vida era vendida por quilos pois carne de baleia era ótimo de se comer, e era barato, era isso que corria pela cidade do Leme. E eu pensei: maldito seja aquele que a comerá por curiosidade, só perdoarei quem tem fome, aquela fome antiga dos pobres.
Outros, no limiar do horror, contavam que também a baleia do Leme, embora ainda viva e arfante, tinha seus quilos cortados para serem vendidos. Como acreditar que não se espera nem a morte para um ser comer outro ser? Não quero acreditar que alguém desrespeite tanto a vida e a morte, nossa criação humana, e que coma vorazmente, só por ser uma iguaria, aquilo que ainda agoniza, só porque é mais barato, só porque a fome humana é grande, só porque na verdade somos tão ferozes como um animal feroz, só porque queremos comer daquela montanha de inocência que é uma baleia, assim como comemos a inocência cantante de um pássaro. Eu ia dizer agora com horror: a viver desse modo, prefiro a morte.
E exatamente não é verdade. Sou uma feroz entre os ferozes seres humanos – nós, os macacos de nós mesmos, nós, os macacos que idealizaram tornarem-se homens, e esta é também a nossa grandeza. Nunca atingiremos em nós o ser humano: a busca e o esforço serão permanentes. E quem atinge o quase impossível estágio de Ser Humano, é justo que seja santificado.
Porque desistir de nossa animalidade é um sacrifício.
Clarice Lispector
quarta-feira, julho 24
Vergonha de viver
Há pessoas que têm vergonha de viver: são os tímidos, entre os quais me incluo. Desculpem, por exemplo, estar tomando lugar no espaço. Desculpem eu ser eu. Quero ficar só! grita a alma do tímido que só se liberta na solidão. Contraditoriamente quer o quente aconchego das pessoas. Vai, Carlos, vai ser "gauche" na vida. (Não sei se estou citando Drummond do modo certo, escrevo de cor.)
E para pedir aumento de salário – a tortura. Como começar? Apresentar-se com fingida segurança de quem sabe quanto vale em dinheiro – ou apresentar-se como se é, desajeitado e excessivamente humilde.
O que faz então? Mas é que há a grande ousadia dos tímidos. E de repente cheio de audácia pelo aumento com um tom reivindicativo que parece contundente. Mas logo depois, espantado, sente-se mal, julga imerecido o aumento, fica todo infeliz.
Sempre fui uma tímida muito ousada. Lembro-me de quando há muitos anos fui passar férias numa grande fazenda. Ia-se de trem até uma pequeníssima estação deserta. Donde se telefonava para a fazenda que ficava a meia hora dali, num caminho perigosíssimo, rude e tosco, de terra batida e estreito, aberto à beira constante de precipícios. Telefonei para a fazenda e eles me perguntaram se queria carro ou cavalo. Eu disse logo cavalo. E nunca tinha montado na vida.
Foi tudo muito dramático. Caiu uma grande chuva de tempestade furiosa e fez-se subitamente noite fechada. Eu, montada no belo cavalo, nada enxergava à minha frente. Mas os relâmpagos revelavam-me verdadeiros abismos. O cavalo escorregava nos cascos molhados. E eu, ensopada, morria de medo: sabia que corria risco de vida. Quando finalmente cheguei à fazenda não tinha força de desmontar: deixei-me praticamente cair nos braços do fazendeiro.
Nessa fazenda que recebia hóspedes e que era maravilhosa com seus bichos, sofri horrores. Só depois de uns três dias é que comecei a conversar com os outros hóspedes e a me descontrair na hora das refeições, pois eu tinha vergonha de comer na frente de estranhos e muita fome.
Lá estava um japonês que me perguntou se eu jogava xadrez. Respondi audaciosamente que ele me ensinasse, que eu aprenderia logo e jogaria com ele. E de repente me vi tendo que enfrentar tantas regras de jogo e com vergonha de não aprender. Mas logo em seguida aprendi superficialmente a jogar. Acontece que, creio eu, por puro acaso dei um xeque-mate no japonês que não quis mais jogar comigo. Senti-me infeliz, achava que o japonês não me perdoaria e que não gostava de mim. Fiquei muito tímida com ele. Foi pois com enorme espanto que o ouvi me dizer na hora da despedida, com uma delicadeza toda oriental que não elogia na cara, o que seria sufocante para a minha timidez. E ele disse: “Agradeço aos seus pais por terem feito você.”
De 12 para 13 anos mudamo-nos do Recife para o Rio, a bordo de um navio inglês. Eu não sabia ainda inglês. Mas escolhia no cardápio ousadamente os nomes de comida mais complicados. E me via tendo de comer, por exemplo, feijão-branco cozido na água e sal. Era o castigo de minha desenvoltura de tímida.
E quando eu era pequena em Recife meu encabulamento nunca me impediu de descer do sobrado, ir para a rua, e perguntar a moleques descalços: “Quer brincar comigo?” Às vezes me desprezavam como menina.
Com sete anos eu mandava histórias e histórias para a seção infantil que saía às quintas-feiras num diário. Nunca foram aceitas. E eu, teimosa, continuava escrevendo.
Aos nove anos escrevi uma peça de teatro em três atos, que coube dentro de quatro folhas de um caderno. E como eu já falava de amor, escondi a peça atrás de uma estante e depois, com medo de que a achassem e me revelasse, infelizmente rasguei o texto. Digo infelizmente porque tenho curiosidade do que eu achava do amor aos nove precoces anos.
Clarice Lispector
Um pouco de Saramago
Quando Joana Carda riscou o chão com a vara de negrilho, todos os cães de Cerbère começaram a ladrar, lançando em pânico e terror os habitantes, pois desde os tempos mais antigos se acreditava que, ladrando ali animais caninos que sempre tinham sido mudos, estaria o mundo universal próximo de extinguir-se. Como se teria formado a arreigada superstição, ou convicção firme, que é, em muitos casos, a expressão alternativa paralela, ninguém hoje o recorda, embora, por obra e fortuna daquele conhecido jogo de ouvir o conto e repeti-lo com vírgula nova, usassem distrair as avós francesas a seus netinhos com a fábula de que, naquele mesmo lugar, comuna de Cerbère, departamento dos Pirenétis Orientais, ladrara, nas gregas e mitológicas eras, um cão de três cabeças que ao dito nome de Cerbère respondia, se o chamava o barqueiro Caronte, seu tratador. Outra coisa que igualmente não se sabe é por que mutações orgânicas teria passado o famoso e altissonante canídeo até chegar à mudez histórica e comprovada dos seus descendentes de uma cabeça só, degenerados. Porém, e este ponto de doutrina só raros o desconhecem, sobretudo se pertencem à geração veterana, o cão Cérbero, que assim em nossa portuguesa língua se escreve e deve dizer, guardava terrivelmente a entrada do inferno, para que dele não ousassem sair as almas, e então, quiçá por misericórdia final de deuses já moribundos, calaram-se os cães futuros para a toda restante eternidade, a ver se com o silêncio se apagava da memória a ínfera região. Mas, não podendo o sempre durar sempre, como explicitamente nos tem ensinado a idade moderna, bastou que nestes dias, a centenas de quilómetros de Cerbère, em um lugar de Portugal de cujo nome nos lembraremos mais tarde, bastou que a mulher chamada Joana Carda riscasse o chão com a vara de negrilho, para que todos os cães de além saíssem à rua vociferantes, eles que, repete-se, nunca tinham ladrado. Se a Joana Carda alguém vier a perguntar que ideia fora aquela sua de riscar o chão com um pau, gesto antes de adolescente lunática do que de mulher cabal, se não pensara nas consequências de um acto que parecia não ter sentido, e esses, recordai-vos, são os que maior perigo comportam, talvez ela responda, Não sei o que me aconteceu, o pau estava no chão, agarrei-o e fiz o risco, Nem lhe passou pela ideia que poderia ser uma varinha de condão, Para varinha de condão pareceu-me grande, e as varinhas de condão sempre eu ouvi dizer que são feitas de ouro e cristal, com um banho de luz e uma estrela na ponta, Sabia que a vara era de negrilho, Eu de árvores conheço pouco, disseram-me depois que negrilho é o mesmo que ulmeiro, sendo ulmeiro o mesmo que olmo, nenhum deles com poderes sobrenaturais, mesmo variando os nomes, mas, para o caso, estou que um pau de fósforo teria causado o mesmo efeito, Por que diz isso, O que tem de ser, tem de ser, e tem muita força, não se pode resistir -lhe, mil vezes o ouvi à gente mais velha, Acredita na fatalidade, Acredito no que tem de ser.
terça-feira, julho 23
É o que se quer
Publicamos livros para dar prazer, para mudar o tema da conversa e para pôr algo novo no mundoAnúncio da editora australiana Text Publishing
As duas faces de Ezra Pound
Versa sobre muito mais do que dizem seu título e subtítulo, ou seja, os contratempos que James Joyce passou com seus livros, pela cegueira e covardia dos editores do Reino Unido e dos Estados Unidos que, temerosos pela censura, as multas e os julgamentos, não se atreviam a publicá-los. O caso de Joyce é único: foi famoso antes de ter um só livro editado.
 |
| Ezra Pound |
Pound não deu o braço a torcer. Respondeu a todas essas objeções com argumentos literários, acusando os editores de cegos e medíocres e afirmando que o jovem escritor irlandês estava revolucionando a literatura de seu tempo e, em especial, a prosa literária da língua inglesa. Seu entusiasmo contagiou duas mulheres extraordinárias: Harriet Weaver, diretora de uma pequena revista literária inglesa, The Egoist, onde apareceriam os primeiros contos de Dublinenses e capítulos de Retrato do Artista quando Jovem, e Margaret Anderson, que em 1918 começou a publicar episódios de Ulisses na revista que dirigia nos Estados unidos, The Little Review. As duas enfrentaram ações judiciais por sua ousadia. Impertérritas, continuaram empenhadas em divulgar a obra de James Joyce e, inclusive, lhe enviaram dinheiro para ajudá-lo a sobreviver apesar de suas crônicas crises econômicas e do que gastava em oculistas.
Ao contrário dos editores da época, muitos escritores e livreiros (entre esses, a primeira editora de Ulisses, Sylvia Beach, a criadora da Shakespeare and Company, a livraria norte-americana de Paris) ficaram muito impressionados ao tomar conhecimento dos textos de Joyce. Ainda que provavelmente nenhum tenha demonstrado isso como Valery Larbaud (que seria o primeiro tradutor ao francês de Ulisses), que, após ler em The Little Review os fragmentos do grande romance de Joyce, lhe escreveu uma carta oferecendo-lhe sua casa (com uma criada) e sua grande biblioteca, além de sua célebre coleção de soldadinhos de chumbo. Joyce se mudou para lá com Norah, sua mulher, e seus dois filhos e por um bom tempo pôde continuar trabalhando com tranquilidade nesse romance que lhe tomaria mais de sete anos.
Ainda que a primeira edição em livro de Ulisses tenha aparecido em Paris em 1922 graças a Sylvia Beach, somente 12 anos depois – 1934 – um juiz de Nova York – John Woolsey – em uma memorável sentença autorizou a circulação do romance, que apareceria pouco depois já na edição da Random House. A sentença de Woolsey foi reproduzida nessa nova edição e abriria desde então um precedente decisivo a todas as tentativas de proibir a circulação de obras “atrevidas e desavergonhadas” nos Estados Unidos. Uma sentença semelhante foi emitida na Inglaterra nesse mesmo ano.
Nos dois países a reação da crítica foi muito semelhante. Quase todos os que escreveram sobre o romance reconheceram – alguns a contragosto – o gênio de Joyce e as extraordinárias novidades que o livro trazia tanto no domínio da língua como na estrutura da narração desse dia tão minuciosamente descrito de Leopold Bloom. Mas quase todos eles denunciavam a vulgaridade atroz do palavreado “pestilento” com o qual se expressavam não só os personagens como o próprio narrador e, principalmente, no longo monólogo final de Molly Bloom, que alguns chamaram de “insolente” e até mesmo “demoníaco”.
Cedo ou tarde todos eles reconheceriam que o romance seria a partir de então algo radicalmente diferente graças a Joyce e a sua prodigiosa realização. Esse sucesso se deveu em boa parte ao instinto e aos esforços de Ezra Pound. No extraordinário ensaio que dedicou ao livro foi o primeiro a reconhecer que desde o surgimento de Ulisses todos os romancistas contemporâneos, incluindo os que nunca o leram, seriam discípulos de Joyce; e isso também reconheceu William Faulkner, outro romancista fora do comum que provavelmente nunca teria escrito sua saga sulista sem as lições que recebeu lendo Joyce.
O serviço que Ezra Pound prestou ao autor de Ulisses não consistiu somente em encontrar editores para seus textos; também conseguiu mecenas que o ajudaram economicamente e lhe permitiram, por exemplo, operar tantas vezes seu olho direito. Quando se conheceram pessoalmente, em Paris, em 1918, Ezra Pound já estava havia quatro anos multiplicando esforços para divulgar a quem chamaria de “o renovador da cultura do Ocidente”. Pound é a figura mais simpática que aparece no livro de Kevin Birmingham.
É difícil identificar esse homem generoso e altruísta com o Ezra Pound que, durante a Segunda Guerra Mundial, pedia na rádio italiana que os jovens soldados norte-americanos desertassem de suas fileiras e repetia todas as maldades que os nazistas atribuíam aos judeus. Por isso foi capturado pelo Exército norte-americano e levado por toda a Itália em uma jaula, como um louco furioso. Depois, nos Estados Unidos, um tribunal, para não o fuzilar por traição à pátria, o declarou louco. E passou alguns anos em um manicômio. Em nossos dias, na Itália fascista de Matteo Salvini, uma das seitas mais radicais da ultradireita antidemocrática se chama nada menos do que CasaPound. Georges Bataille escreveu que o ser humano é uma jaula onde habitam os anjos e os demônios. Em poucas pessoas isso foi tão evidente como no caso de Ezra Pound.
Mario Vargas Llosa
segunda-feira, julho 22
Para aquecer
O herói
Feitos superiores, inacreditáveis, aclamado como herói, inigualável.
Coragem digna dos heróis gregos. Cada proeza inspirava histórias de cordel surpreendentes, os trovadores vendiam os folhetos na feira.
Certa vez enfrentara uma onça preta, a mais temida entre os grandes felinos da Mata Atlântica. Fugira do circo, invadira a rua do comércio em plena luz do dia, faminta, há oito dias não se alimentava.
Gente correu para dentro das lojas, as portas imediatamente fechadas.
Menino lá dentro chorava, a mãe rezava, o pai se urinava.
Lá fora correu atrás da bichona, estava prestes a abocanhar uma criança. Saltou no cangote da fera, deu um murro no ouvido, quebrou-lhe o pescoço com um golpe.
Pessoas apavoradas deixaram as lojas, salvas pelo herói Hércules, abraçavam-se, sorrindo. Mais uma vez livres do perigo. Bateram palmas demoradas para o intrépido e audaz herói da cidade com um comércio próspero.
Outro dia venceu os assaltantes ao banco. Ali mesmo alvejou vários deles com os tiros certeiros deflagrados com o revólver cano longo, calibre 38. Saiu na moto em perseguição do último assaltante, o carro do vilão fazendo ziguezague na disparada. Atirou no pneu traseiro do carro em fuga, rodopiou, capotou e bateu no poste.
Trêmulo, o bandido cabeludo, a barba crescida, tatuagem de mulher nua no pescoço. A arma apontada na sua cabeça. Pedia com o rosto choroso, tenha dó, seu Hércules, não vou fazer mais isso, eu lhe prometo, não me dê uma surra, seja piedoso.
Recebido com palmas calorosas, vivas, assovios dos que assistiram as cenas, pasmos. Todos sabiam outra vez que com o seu herói infalível a cidade estava segura. Onde aquele homem de cara fechada conseguira tanta coragem?
Quando veio ao mundo, contam os mais antigos, ele foi dizendo logo, aqui cheguei para derrotar os malvados, proteger os injustiçados, não tenho medo de cara feia, lobisomem, muito menos de alma serva do demônio.
O Prefeito baixou decreto honroso, considerando seus feitos altamente corajosos, cívicos, exemplares. Seria condecorado com a Medalha Fundador Filinto Sabre, o homem que penetrou a mata hostil, pegou cobra com a mão, esmagou com o pé, afugentou raivosa onça solteira ou acasalada, comeu inseto, bebeu água de ribeirão com a concha da mão calosa. Depois dele tudo ficou mais fácil na selva impenetrável. De todas as partes os forasteiros chegavam, os acampamentos na mata viravam vilas, em poucos anos eram cidades.
Foi chamado ao palco no dia do centenário da cidade. Todos aplaudiram de pé. Antes que fosse condecorado com a distinção cobiçada, a mais alta honraria do executivo municipal, gaguejou com uma voz amedrontada diante do homem vermelhuço, rosto flácido, narigudo, orelhas de abano, um olho de vidro, em posição solene.
– Tire ela daqui, está perto de meu pé; se não tirar, saio correndo.
Acrescentou o herói, em pânico:
– Desde pequeno tenho medo de barata!
Cyro de Mattos
Coragem digna dos heróis gregos. Cada proeza inspirava histórias de cordel surpreendentes, os trovadores vendiam os folhetos na feira.
Certa vez enfrentara uma onça preta, a mais temida entre os grandes felinos da Mata Atlântica. Fugira do circo, invadira a rua do comércio em plena luz do dia, faminta, há oito dias não se alimentava.
Gente correu para dentro das lojas, as portas imediatamente fechadas.
Menino lá dentro chorava, a mãe rezava, o pai se urinava.
Lá fora correu atrás da bichona, estava prestes a abocanhar uma criança. Saltou no cangote da fera, deu um murro no ouvido, quebrou-lhe o pescoço com um golpe.
Pessoas apavoradas deixaram as lojas, salvas pelo herói Hércules, abraçavam-se, sorrindo. Mais uma vez livres do perigo. Bateram palmas demoradas para o intrépido e audaz herói da cidade com um comércio próspero.
Outro dia venceu os assaltantes ao banco. Ali mesmo alvejou vários deles com os tiros certeiros deflagrados com o revólver cano longo, calibre 38. Saiu na moto em perseguição do último assaltante, o carro do vilão fazendo ziguezague na disparada. Atirou no pneu traseiro do carro em fuga, rodopiou, capotou e bateu no poste.
Trêmulo, o bandido cabeludo, a barba crescida, tatuagem de mulher nua no pescoço. A arma apontada na sua cabeça. Pedia com o rosto choroso, tenha dó, seu Hércules, não vou fazer mais isso, eu lhe prometo, não me dê uma surra, seja piedoso.
Recebido com palmas calorosas, vivas, assovios dos que assistiram as cenas, pasmos. Todos sabiam outra vez que com o seu herói infalível a cidade estava segura. Onde aquele homem de cara fechada conseguira tanta coragem?
Quando veio ao mundo, contam os mais antigos, ele foi dizendo logo, aqui cheguei para derrotar os malvados, proteger os injustiçados, não tenho medo de cara feia, lobisomem, muito menos de alma serva do demônio.
O Prefeito baixou decreto honroso, considerando seus feitos altamente corajosos, cívicos, exemplares. Seria condecorado com a Medalha Fundador Filinto Sabre, o homem que penetrou a mata hostil, pegou cobra com a mão, esmagou com o pé, afugentou raivosa onça solteira ou acasalada, comeu inseto, bebeu água de ribeirão com a concha da mão calosa. Depois dele tudo ficou mais fácil na selva impenetrável. De todas as partes os forasteiros chegavam, os acampamentos na mata viravam vilas, em poucos anos eram cidades.
Foi chamado ao palco no dia do centenário da cidade. Todos aplaudiram de pé. Antes que fosse condecorado com a distinção cobiçada, a mais alta honraria do executivo municipal, gaguejou com uma voz amedrontada diante do homem vermelhuço, rosto flácido, narigudo, orelhas de abano, um olho de vidro, em posição solene.
– Tire ela daqui, está perto de meu pé; se não tirar, saio correndo.
Acrescentou o herói, em pânico:
– Desde pequeno tenho medo de barata!
Cyro de Mattos
sexta-feira, julho 19
Conhecer gente melhor
 |
| Carolina Monterrubio |
Os livros permitiram-me conhecer pessoas melhores do que nós. Que têm um calibre humano que eu não tenho
Antonio Lobo Antunes
Carolina
Ainda não vi Carolina Maria de Jesus, a autora do "Quarto de despejo". Ela é agora uma vip, e eu sinto uma grande timidez em procurar celebridades – acho mesmo que nunca falei com nenhum dos ilustres itinerantes que têm andado aqui na cidade, dando sopa pelos coquetéis – Aldous Huxley, Malraux, Sartre, Graham Greene, Simone de Beauvoir, Ionesco, Ferreira de Castro, Fulton Sheen, Louis Armstrong –, para só citar os mais recentes. Tenho um receio enorme de agredir com mais cumprimentos a pobre celebridade, já tão esmagada em afetos de admiradores. Ademais, além da vantagem da gente poder contar aos conhecidos que ouviu isto de Sartre, ou aquilo do “velho Satchmo”, o encontro entre um obscuro e um célebre não deixa resultados de maior proveito. Porque o coitado do famoso visitante, afogado naquele mar de cortesias e caras estranhas, apenas dá ao cumprimentante um olhar arregalado, vago e distraído, sem interesse nem simpatia, que ele não tem nem pode ter por nenhum de nós. Nunca leu nem lerá do que escrevemos, primeiro porque não conhece a nossa língua, depois porque, de regra, os seus interesses intelectuais se prendem às coisas da sua terra e da sua arte particular. Só pode sentir por nós aquela mesma espécie de condescendência desdenhosa com que o ilustre escritor federal acolhe os acrósticos do seu admirador beletrista de longínquo povoado de Santa Antônia do Mucunã. Há, é verdade, a oportunidade do toque da nossa mão de nativo naquela mão, além de ilustre, europeia ou americana do norte. Mas aí, já passei a idade do "hero worship" e do fetichismo e francamente também já não acredito que o simples contacto daquela mão famosa com a minha fosse infundir-me, por osmose, a essência de sua celebridade. Quanto à palavra importante, à mensagem inesquecível – meu Deus, ele não a dirá decerto durante a feijoada ou com o Martini na mão. Escritores, artistas, a mensagem deles há de estar na sua obra; e tenho para mim que muito melhor se conhece um Graham Greene, por exemplo, lendo-lhe os romances, do que no trato fugidio com aquele inglês vermelhão e esquivo. Pois, na sua estada aqui, queixam-se os fãs de que ele só deu uma impressão: chateou-se muito.
Perco-me nestas considerações, quando o que eu queria era explicar que ainda não vi Carolina nem falei com ela, apesar de a saber aqui no Rio, dando autógrafos e frequentando os círculos literários. Pelos retratos parece uma mulher severa e tranquila, muito menos atordoada do que seria de esperar, ao se ver tão repentinamente alçada ao galarim da fama. É que talvez essa fama foi repentina para nós, seus recentes leitores, mas não para ela. Pelo que se lê no seu diário, há muitos anos Carolina Maria de Jesus cobiçava a glória literária, lutava por ela, preparava-se para ela. O meu caro colega Audálio Dantas que a descobriu e a lançou à celebridade, foi apenas o instrumento do destino – mas um destino com que Carolina já contava.
***
A leitura de "Quarto de despejo" me fez pensar em alguns nomes – Samuel Pepys, Anne Frank, Helena Morley. Diários escritos sem intenção literária, completamente diversos desses jornais de bons autores, que são escritos para leitura e trabalhados como verdadeiras obras de arte, a despeito da fingida espontaneidade. Fragmentos do cotidiano de uma vida humana, sem disfarces nem enfeites, depoimento em cuja verdade se pode confiar porque não se destinava a olhos estranhos. Sim, o que choca e impressiona e nos vai direto ao coração num livro como o de Carolina é a sua autenticidade palpitante, e aquele gosto cru de vida ao natural, aquela sensação de contato com matéria-prima, em vez de produto manufaturado. Por isso me lembrei de Pepys, da menina judia prisioneira de um sótão, da pequena de Diamantina: todos três fizeram igualmente diários, que eram apenas desabafos, diálogos de pessoas solitárias travados consigo próprias. Pepys e Morley nos fazem sorrir porque eram criaturas alegres, vivendo uma vida feliz; enquanto a pobrezinha de Anne e a favelada Carolina nos contam uma história terrível que numa delas é medo, na outra é fome, e em ambas é a crueldade dos homens, supostamente irmãos.
Anotando dia a dia os fatos e os comentários que lhe são sugeridos por aquela vida que a gente só imagina, mas nenhum de nós conhece no seu brutal realismo, Carolina consegue suscitar as reações mais diversas em cada leitor. O diário de Carolina é uma ponta de fogo que vai ao ponto fraco de cada consciência, ou à paixão de cada coração. É dom Helder que se comove até às lágrimas, e vê naquelas páginas, explicadas e justificadas, as suas intuições de santo; é o burguês milionário que se assusta ao descobrir em que alicerces de sofrimento e ira mal contida se fundamenta a sua riqueza. É o político de esquerda que estremece ao verificar o desdém que os pobres de verdade, os pobres de demagogia, sentem pela sua pregação; ou o político propriamente dito, descobrindo que as suas mentiras e promessas não iludem mais ninguém – nem sequer aqueles mais naturalmente iludíveis.
Fala-se que Carolina inicia agora uma carreira literária, com romances, poesias, máximas. Não sei se isso será possível, se para isso ela tem o instrumento adequado. Mas o que não se pode negar é que, aparecendo nesta hora, o seu livro está funcionando como aquelas palavras escritas na parede, durante o banquete do rei Baltazar.
Rachel de Queiroz
quinta-feira, julho 18
Sopa de macarrão
O filho olha emburrado o prato vazio, o pai pergunta se não está com fome.
— Com fome eu tô, não to é com vontade de comer comida de velho.
Lá da cozinha a mãe diz que decretou ― De-cre-tei! — que ou ele come legumes e verduras, ou vai passar fome.
— Não quero filho meu engordando agora para ter problemas de saúde depois. Só quer batata frita e carne, carne e batata frita!
Ela vem com a travessa de bifes, o pai tira um, ela senta e tira o outro, o filho continua com o prato vazio.
— Nos Estados Unidos — continua ela — um jornalista passou um mês comendo só fastfood, engordou mais de seis quilos!
— E como é que ele aguentou um mês só comendo isso?! — perguntou o pai, o filho responde:
— Porque é gostoso! — E pega com nojo uma folhinha de alface, põe no prato e fica olhando como se fosse um bicho.
A mãe diz que é preciso ao menos experimentar para saber o que é ou não gostoso, e o pai diz que, quando era da idade dele, comia cenoura crua, pepino, manga verde com sal, comia até milho verde cru
— E devorava o cozido de legumes da sua avó! E essa alface? Pra comer, é preciso botar na boca..
O filho enfia a alface na boca, mastiga fazendo careta, pega um bife, a mãe pula na cadeira, pega o bife de volta:
— Não-senhor! Só com salada pra valer, arroz, feijão, tudo!
— Ele continua olhando o prato vazio, até que resmunga:
— Se vocês sempre comeram tão bem, como é que acabaram barrigudos assim?
O pai diz que isso é da idade, o importante é ter saúde.
— E você, se continuar comendo só fritura, carne, doce e refrigerante, na nossa idade vai pesar mais de cem quilos!
— No Japão — resmunga ele — podia ser lutador de sumo e ganhar uma nota.
— E no Natal — cantarola a mãe — vai ser Papai Noel né? E Rei Momo no carnaval...
— Não tripudie — diz o pai. — Ele ainda vai comer de tudo. Quando eu era menino,detestava sopa. Aí um dia minha mãe fez sopa com macarrão de letrinhas, passei a gostar de sopa!
O filho pergunta o que é macarrão de letrinhas, o pai explica. Ele põe na boca uma rodela de tomate, o pai e a mãe trocam um vitorioso olhar. O pai faz uma voz doce:
— Está descobrindo que salada é gostoso, não está?
— Não, peguei tomate para tirar da boca o gosto nojento de alface, mas acabo de descobrir que tomate também é nojento.
— Mas catchup você come não é? Pois é feito de tomate!
— E ele também não come ovo — emenda a mãe — mas come maionese, que é feita de ovo!
O filho continua olhando o prato vazio.
— Coma ao menos feijão com arroz — diz o pai.
Ele pega uma colher de feijão, outra de arroz dizendo que viu um filme onde num campo de concentração só comiam assim pouquinho, só o suficiente pra sobreviver... Mastiga tristemente, até que o pai lhe bota o bife no prato de novo, mas a mãe retira novamente:
— Ou salada ou nada! Sem chantagem sentimental!
O pai come dolorosamente, a mãe come furiosamente, o filho olha o prato tristemente.
Depois a mãe retira a comida, ele continua olhando a mesa vazia. Na cozinha, o pai sussura para ela:
— Mas ele comeu duas folhas de alface, não pode comer dois pedaços de bife?!...
Ela diz que de jeito nenhum, desta vez é pra valer; então o pai vai ler o jornal, mas de passagem pelo filho, pergunta se ele não quer um sanduíche de bife — com salada, claro. Não, diz o filho, só quer saber de uma coisa da tal sopa de letras. O pai se anima:
— Pergunte, pergunte!
— Você podia escrever o que quisesse com as letras no prato?
— Claro! Por que, o que você quer escrever?
— Hambúrguer, maionese e catchup
É teimoso que nem o pai, diz a mãe. Teimoso é quem teima comigo, diz o pai. O filho vai para o quarto, só sai na hora da janta: sopa de macarrão. Então, vai escrevendo, e engolindo as palavras: escravidão, carrascos, nojo, e enfim escreve amor, o pai e mãe lacrimejam, mas ele explica:
— Ainda não acabei, tá faltando letra pra escrever: amo rosbife com batata frita... Domingos Pellegrini
— Com fome eu tô, não to é com vontade de comer comida de velho.
Lá da cozinha a mãe diz que decretou ― De-cre-tei! — que ou ele come legumes e verduras, ou vai passar fome.
— Não quero filho meu engordando agora para ter problemas de saúde depois. Só quer batata frita e carne, carne e batata frita!
Ela vem com a travessa de bifes, o pai tira um, ela senta e tira o outro, o filho continua com o prato vazio.
— Nos Estados Unidos — continua ela — um jornalista passou um mês comendo só fastfood, engordou mais de seis quilos!
— E como é que ele aguentou um mês só comendo isso?! — perguntou o pai, o filho responde:
— Porque é gostoso! — E pega com nojo uma folhinha de alface, põe no prato e fica olhando como se fosse um bicho.
A mãe diz que é preciso ao menos experimentar para saber o que é ou não gostoso, e o pai diz que, quando era da idade dele, comia cenoura crua, pepino, manga verde com sal, comia até milho verde cru
— E devorava o cozido de legumes da sua avó! E essa alface? Pra comer, é preciso botar na boca..
O filho enfia a alface na boca, mastiga fazendo careta, pega um bife, a mãe pula na cadeira, pega o bife de volta:
— Não-senhor! Só com salada pra valer, arroz, feijão, tudo!
— Ele continua olhando o prato vazio, até que resmunga:
— Se vocês sempre comeram tão bem, como é que acabaram barrigudos assim?
O pai diz que isso é da idade, o importante é ter saúde.
— E você, se continuar comendo só fritura, carne, doce e refrigerante, na nossa idade vai pesar mais de cem quilos!
— No Japão — resmunga ele — podia ser lutador de sumo e ganhar uma nota.
— E no Natal — cantarola a mãe — vai ser Papai Noel né? E Rei Momo no carnaval...
— Não tripudie — diz o pai. — Ele ainda vai comer de tudo. Quando eu era menino,detestava sopa. Aí um dia minha mãe fez sopa com macarrão de letrinhas, passei a gostar de sopa!
O filho pergunta o que é macarrão de letrinhas, o pai explica. Ele põe na boca uma rodela de tomate, o pai e a mãe trocam um vitorioso olhar. O pai faz uma voz doce:
— Está descobrindo que salada é gostoso, não está?
— Não, peguei tomate para tirar da boca o gosto nojento de alface, mas acabo de descobrir que tomate também é nojento.
— Mas catchup você come não é? Pois é feito de tomate!
— E ele também não come ovo — emenda a mãe — mas come maionese, que é feita de ovo!
O filho continua olhando o prato vazio.
— Coma ao menos feijão com arroz — diz o pai.
Ele pega uma colher de feijão, outra de arroz dizendo que viu um filme onde num campo de concentração só comiam assim pouquinho, só o suficiente pra sobreviver... Mastiga tristemente, até que o pai lhe bota o bife no prato de novo, mas a mãe retira novamente:
— Ou salada ou nada! Sem chantagem sentimental!
O pai come dolorosamente, a mãe come furiosamente, o filho olha o prato tristemente.
Depois a mãe retira a comida, ele continua olhando a mesa vazia. Na cozinha, o pai sussura para ela:
— Mas ele comeu duas folhas de alface, não pode comer dois pedaços de bife?!...
Ela diz que de jeito nenhum, desta vez é pra valer; então o pai vai ler o jornal, mas de passagem pelo filho, pergunta se ele não quer um sanduíche de bife — com salada, claro. Não, diz o filho, só quer saber de uma coisa da tal sopa de letras. O pai se anima:
— Pergunte, pergunte!
— Você podia escrever o que quisesse com as letras no prato?
— Claro! Por que, o que você quer escrever?
— Hambúrguer, maionese e catchup
É teimoso que nem o pai, diz a mãe. Teimoso é quem teima comigo, diz o pai. O filho vai para o quarto, só sai na hora da janta: sopa de macarrão. Então, vai escrevendo, e engolindo as palavras: escravidão, carrascos, nojo, e enfim escreve amor, o pai e mãe lacrimejam, mas ele explica:
— Ainda não acabei, tá faltando letra pra escrever: amo rosbife com batata frita... Domingos Pellegrini
quarta-feira, julho 17
Alto da Boa Vista & Floresta
 |
| Nikolay Repin |
À margem da ladeira, na grama lisa que acompanha o asfalto, casais tijucanos trouxeram travesseiros e estão tirando partido da noite calorenta. De barriga para cima, mandam seus problemas ao inferno e dizem frases da marca de "nada mais lindo que o céu do meu país". Depois, quando chegam em casa, é que vão ver o corpo todo picado de micuim.
São grandes e bonitas estas casas da beira do caminho. Gente que se preza tem chalé de verão por essas bandas. Jardim, piscina, um manga-larga para o passeio de tarde, uns dois ou três automóveis para ir buscar boatos na cidade, rede no terraço, canastra, buraco, passeinho ali por perto para importunar os casais nos automóveis parados. Quando o seu carro passa pelo Sacré Coeur, a moça que vai ao seu lado toma um jeito de saudade e diz sempre: "foi aqui que eu estudei" e conta uns três ou quatro casos, onde aparecem nomes já manjados de algumas freiras. Não satisfeita, em favor da estirpe, a moça dirá que esses colégios são rigorosíssimos, que só aceitam meninas das melhores famílias – e contará, com a revolta do uso, o caso de Bibi Ferreira, que não foi aceita porque o pai era artista. Aí, depois do show de pedigree, você chegou ao portão grande da Floresta.
Cheiro de mato e de flor. Vem a vontade de morar uns anos por aqui, sem sair daqui e, com o tempo, ficar um pouco vegetal. Não ter defluxo, axilose, pé chato, afta, caspa e dor de dente. Neste portão entrou um monge – há uns três anos e virou árvore ou zumbi, talvez, mas ninguém soube dele nunca. Agora, entram centenas de namorados, pretextando a noite quente, com as melhores intenções deste mundo, sentido o cheiro da rosa que desabotoou de manhã e ouvindo o canto esparso de passarinhos com insônia. Surgem centenas de placas mostrando os caminhos e você escolhe uma para seu guia: "Gruta de Paulo e Virgínia". Uma capela, à direita, dá margem a que se fale em Cândido Portinari – assunto seguro durante meia hora (lá dentro, há um painel de Candinho). Então, você pode dizer uma porção de coisas interessantes sobre pintura. Num brilhante a propósito, é conveniente citar o caso de Van Gogh, que cortou a orelha e deu a uma rapariga. Sobre Gauguin, é aconselhável não sair do livro "Um gosto e seis vinténs", carregando um pouco a narração de sua morte, com a face leonina, destruindo, nas chamas, sua pintura, toda ela feita sobre motivos e modelos do Taiti. Depois, o nosso Picasso. Frisar bem que se trata de comunista, embora leve uma vida de burguês. Aproveitando, fale, com apetite, na esposa de Picasso, provocará um certo ciúme na moça-toda-ouvidos. De Picasso, pule para Pancetti. Foi marujo, morou na Itália, é tio de Isaurinha Garcia, sofre de tísica, apaixona-se com imensa facilidade e é doutor em marinhas. Você dará uma nota de funda erudição se lançar um foguete assim: "eu gosto das marinhas, mas os melhores quadros dele são os pintados em Campos de Jordão". Depois, num fecho de ouro, lamente a doença de Matisse e terá passado brilhantemente pela igrejinha da Floresta. À sua frente, continuará a placa da Gruta de Paulo e Virgínia, chamando para um lugar que nunca chega. Aqui e ali, um barulhinho de fonte. Depois, uma casa toda vermelha, proporcionando à moça o direito de exclamar: "esta é uma pinta de sangue na floresta". Nessa altura, o lirismo é inevitável. Será de bom tom você dizer de cor, tirando a mão direita da direção, aqueles versos de Paulo Mendes Campos:
O instante é tudo para mim, que ausente,
Do segredo que os dias encandeia
Me abisma na canção que pastoreia
As infinitas nuvens do presente...
Ao fim desses versos, a moça tem o direito de suspirar e dizer uma frase da marca de: "a noite é tão noite". E estará tudo sem jeito. Os caminhos da Floresta da Tijuca são redondos, inacabáveis e nunca levam à Gruta de Paulo e Virgínia. Não são caminhos, são pretextos. E você os segue, sem pensar no assalto que está a dois minutos e a um metro de você. Sem saber que essa moça é um abismo. Sem atentar para os canhotos do seu livro de cheques. E você continuará, até que o ponteiro da gasolina descanse no suporte à esquerda do mostrador, até que o carro tussa e pare. Ah, além daquele monge, que virou flor, pelo portão da Floresta passou muita gente, em clima de namoro suave e amigação em começo. Todos, depois de dar muitas voltas, saíram na Gávea Pequena pelos portões do fundo. Todos, menos o monge, que virou flor.
Antônio Maria
Assinar:
Postagens (Atom)