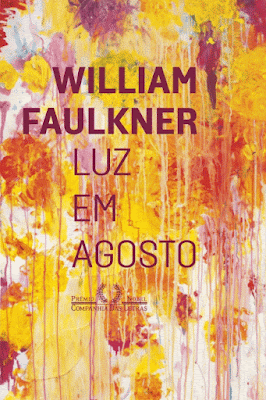quinta-feira, setembro 30
Maior livraria de Gaza renasce dos escombros
Mais de 3.000 casas declaradas inabitáveis. 50 colégios e seis hospitais danificados pelas bombas. E, pela primeira vez nas quatro guerras ocorridas em Gaza desde 2008, três livrarias arrasadas. Israel reduziu a escombros em maio o local com 100.000 volumes que Samir Mansur havia transformado nos últimos 20 anos na maior e mais prestigiosa livraria da Faixa palestina. Outros dois estabelecimentos especializados em textos universitários também ficaram total e parcialmente destruídos nos ataques. Graças à uma coleta de microfinanciamento popular internacional e às doações de exemplares oferecidos do estrangeiro, o livreiro e editor se dispõe a reabrir no final do ano em um novo espaço na capital.
“Quando o edifício Kahil for reconstruído, no centro da cidade, após ser bombardeado na madrugada de18 de maio, nosso projeto é criar ali um centro cultural com as obras doadas”, diz Mansur, de 54 anos, no escritório localizado na galeria em que está sua outra livraria, situada ao lado das faculdades da Universidade Islâmica. “Nasci entre os livros e meu pai me ensinou o ofício ao pé das estantes desde os 14 anos”, detalha enquanto seu filho mais velho, Mohamed, oferece café e suco de laranja ao jornalista estrangeiro. “E agora tenho ao meu lado uma nova geração da família para seguir em frente”. Alunos universitários, estudantes de colégio, intelectuais e autores, estudantes de idiomas, para todos sua grande livraria era lugar de parada obrigatória, sem comparação em todo o território, antes de ser devastada.
Liderada pelos advogados defensores dos direitos humanos Clive Stafford Smith e Mahvish Rukhsana, que defenderam presos em Guantánamo, a coleta à reconstrução já chegou aos 240.000 dólares (1,3 milhão de reais) e está prestes a chegar ao objetivo fixado. Milhares de obras também foram oferecidas por editoras e particulares para repor seu fundo editorial, ainda que Mansur reconheça que será difícil que cheguem ao seu novo local do porto israelense de Ashdod. “O Exército controla tudo o que entra em Gaza”, avisa.
Mansur recebia as últimas novidades editoriais publicadas no Cairo, Amã e Beirute, e tinha a melhor oferta de literatura e ensaios em inglês da Faixa mediterrânea. “Tínhamos muitas obras infantis, religiosas, de ensino de idiomas...”, lembra com saudades do estabelecimento desaparecido do centro da cidade, ponto de reunião de autores e intelectuais e que para muitos leitores de Gaza era uma via de escape cultural ao bloqueio imposto por Israel ao enclave palestino há 15 anos. Amontoados em apenas 365 quilômetros quadrados, os dois milhões de habitantes de Gaza têm uma das mais altas densidades populacionais do mundo.
“Não entendo por que nos atacaram. Não somos um objetivo militar e não temos ligação com nenhuma organização política” questiona Mansur quatro meses depois do bombardeio. O Exército israelense afirmou à época que o edifício da livraria havia sido utilizado por milicianos do Hamas para fabricar armas e que a organização islamista escondia suas atividades em imóveis civis, mas o livreiro responde que só existiam escritórios de centros educacionais privados.
Mansur editava em média uma centena de obras de autores locais por ano, sempre em tiragens limitadas de 500 a 1.000 exemplares. Também publicou traduções ao árabe de clássicos como Os Miseráveis, de Victor Hugo, e Crime e Castigo, de Fiodor Dostoievski. Mas seu trabalho editorial acabou desde a escalada bélica de maio, que causou mais de 250 mortes em Gaza, entre elas 66 crianças, em 600 bombardeios israelenses, e outras 13 em Israel pelos disparos de mais de 4.000 foguetes pelas milícias islamistas.
Outras duas livrarias, entre um total de uma dúzia de estabelecimentos relevantes, também ficaram destruídas e gravemente danificadas na quarta guerra de Gaza, em um revés cultural sem precedentes ao combalido território palestino. Shaban Eslim, de 34 anos, conserva como um tesouro o Corão impresso com elegante caligrafia que resgatou dos escombros da livraria Irqa (Ler, em árabe), localizada perto dos campi universitários. Acaba de alugar um local ao lado do que foi arrasado pelas bombas em maio para tentar retomar a atividade em outubro, coincidindo com o início do ano letivo nas faculdades. “Os militares israelenses só nos deram tempo de evacuar a livraria. Não pudemos salvar nenhuma obra”, afirma Eslim, que diz ter perdido mais de 70.000 dólares (375.000 reais) pela destruição dos exemplares de seu estabelecimento.
Mesmo também tentando organizar uma coleta popular de fundos no exterior, o livreiro lamenta que as autoridades do Hamas, o movimento islamista que governa de fato a Faixa desde 2007, tenha impedido o prosseguimento da campanha de microfinanciamento. “Prefiro não comentar esse assunto”, finaliza quando pedimos para que detalhe o ocorrido. “Também não recebi ajudas públicas para reconstruir meu negócio”, afirma. “Eu me pergunto se há algum interesse oficial pelos livros em Gaza”.
O ataque à livraria de Mansur e a outras da Faixa de Gaza representa um golpe demolidor à difusão do conhecimento do qual o território palestino demorará para se recuperar. Graças ao trabalho editorial de alguns livreiros, os autores locais puderam romper seu isolamento forçado e enviar ao Egito documentos digitalizados com as obras compostas para que fossem impressas no país vizinho antes de ser distribuídas no mundo árabe. Muitos desses textos também retornam, por fim, à Gaza no formato de livros, evitando as barreiras do bloqueio.
A campanha de coleta internacional pretende ultrapassar o objetivo fixado de 250.000 dólares (1,35 milhão de reais) para reerguer a livraria Mansur dos escombros da última guerra. “Somos vítimas de uma agressão à cultura; danos colaterais de um conflito do qual não participamos diretamente. É óbvio que Israel cometeu um grave erro conosco”, conclui o veterano livreiro e editor. Agora sonha em organizar a cerimônia de inauguração de seu novo local com dezenas de milhares de volumes, provavelmente em novembro. Espera poder convidar ao evento todos os artífices da operação de mecenato internacional e os autores do enclave cujas obras publicou nas duas últimas décadas. “Nossa livraria sobreviveu a duas Intifadas e a três guerras, mas não pôde resistir às bombas do quarto conflito”, lamenta Mansur, “mas os livros continuam sendo minha vida, meus filhos espirituais”.
“Quando o edifício Kahil for reconstruído, no centro da cidade, após ser bombardeado na madrugada de18 de maio, nosso projeto é criar ali um centro cultural com as obras doadas”, diz Mansur, de 54 anos, no escritório localizado na galeria em que está sua outra livraria, situada ao lado das faculdades da Universidade Islâmica. “Nasci entre os livros e meu pai me ensinou o ofício ao pé das estantes desde os 14 anos”, detalha enquanto seu filho mais velho, Mohamed, oferece café e suco de laranja ao jornalista estrangeiro. “E agora tenho ao meu lado uma nova geração da família para seguir em frente”. Alunos universitários, estudantes de colégio, intelectuais e autores, estudantes de idiomas, para todos sua grande livraria era lugar de parada obrigatória, sem comparação em todo o território, antes de ser devastada.
Liderada pelos advogados defensores dos direitos humanos Clive Stafford Smith e Mahvish Rukhsana, que defenderam presos em Guantánamo, a coleta à reconstrução já chegou aos 240.000 dólares (1,3 milhão de reais) e está prestes a chegar ao objetivo fixado. Milhares de obras também foram oferecidas por editoras e particulares para repor seu fundo editorial, ainda que Mansur reconheça que será difícil que cheguem ao seu novo local do porto israelense de Ashdod. “O Exército controla tudo o que entra em Gaza”, avisa.
Mansur recebia as últimas novidades editoriais publicadas no Cairo, Amã e Beirute, e tinha a melhor oferta de literatura e ensaios em inglês da Faixa mediterrânea. “Tínhamos muitas obras infantis, religiosas, de ensino de idiomas...”, lembra com saudades do estabelecimento desaparecido do centro da cidade, ponto de reunião de autores e intelectuais e que para muitos leitores de Gaza era uma via de escape cultural ao bloqueio imposto por Israel ao enclave palestino há 15 anos. Amontoados em apenas 365 quilômetros quadrados, os dois milhões de habitantes de Gaza têm uma das mais altas densidades populacionais do mundo.
 |
| Livreiro e editor Samir Mansur, diante dos restos de sua livraria em Gaza ( Marcus Yan - Los Angeles Times) |
“Não entendo por que nos atacaram. Não somos um objetivo militar e não temos ligação com nenhuma organização política” questiona Mansur quatro meses depois do bombardeio. O Exército israelense afirmou à época que o edifício da livraria havia sido utilizado por milicianos do Hamas para fabricar armas e que a organização islamista escondia suas atividades em imóveis civis, mas o livreiro responde que só existiam escritórios de centros educacionais privados.
Mansur editava em média uma centena de obras de autores locais por ano, sempre em tiragens limitadas de 500 a 1.000 exemplares. Também publicou traduções ao árabe de clássicos como Os Miseráveis, de Victor Hugo, e Crime e Castigo, de Fiodor Dostoievski. Mas seu trabalho editorial acabou desde a escalada bélica de maio, que causou mais de 250 mortes em Gaza, entre elas 66 crianças, em 600 bombardeios israelenses, e outras 13 em Israel pelos disparos de mais de 4.000 foguetes pelas milícias islamistas.
Outras duas livrarias, entre um total de uma dúzia de estabelecimentos relevantes, também ficaram destruídas e gravemente danificadas na quarta guerra de Gaza, em um revés cultural sem precedentes ao combalido território palestino. Shaban Eslim, de 34 anos, conserva como um tesouro o Corão impresso com elegante caligrafia que resgatou dos escombros da livraria Irqa (Ler, em árabe), localizada perto dos campi universitários. Acaba de alugar um local ao lado do que foi arrasado pelas bombas em maio para tentar retomar a atividade em outubro, coincidindo com o início do ano letivo nas faculdades. “Os militares israelenses só nos deram tempo de evacuar a livraria. Não pudemos salvar nenhuma obra”, afirma Eslim, que diz ter perdido mais de 70.000 dólares (375.000 reais) pela destruição dos exemplares de seu estabelecimento.
Mesmo também tentando organizar uma coleta popular de fundos no exterior, o livreiro lamenta que as autoridades do Hamas, o movimento islamista que governa de fato a Faixa desde 2007, tenha impedido o prosseguimento da campanha de microfinanciamento. “Prefiro não comentar esse assunto”, finaliza quando pedimos para que detalhe o ocorrido. “Também não recebi ajudas públicas para reconstruir meu negócio”, afirma. “Eu me pergunto se há algum interesse oficial pelos livros em Gaza”.
O ataque à livraria de Mansur e a outras da Faixa de Gaza representa um golpe demolidor à difusão do conhecimento do qual o território palestino demorará para se recuperar. Graças ao trabalho editorial de alguns livreiros, os autores locais puderam romper seu isolamento forçado e enviar ao Egito documentos digitalizados com as obras compostas para que fossem impressas no país vizinho antes de ser distribuídas no mundo árabe. Muitos desses textos também retornam, por fim, à Gaza no formato de livros, evitando as barreiras do bloqueio.
A campanha de coleta internacional pretende ultrapassar o objetivo fixado de 250.000 dólares (1,35 milhão de reais) para reerguer a livraria Mansur dos escombros da última guerra. “Somos vítimas de uma agressão à cultura; danos colaterais de um conflito do qual não participamos diretamente. É óbvio que Israel cometeu um grave erro conosco”, conclui o veterano livreiro e editor. Agora sonha em organizar a cerimônia de inauguração de seu novo local com dezenas de milhares de volumes, provavelmente em novembro. Espera poder convidar ao evento todos os artífices da operação de mecenato internacional e os autores do enclave cujas obras publicou nas duas últimas décadas. “Nossa livraria sobreviveu a duas Intifadas e a três guerras, mas não pôde resistir às bombas do quarto conflito”, lamenta Mansur, “mas os livros continuam sendo minha vida, meus filhos espirituais”.
Assim começa...
Por muito incongruente que possa parecer a quem não ande ao tento da importância das alcovas, sejam elas sacramentadas, laicas ou irregulares, no bom funcionamento das administrações públicas, o primeiro passo da extraordinária viagem de um elefante à áustria que nos propusemos narrar foi dado nos reais aposentos da corte portuguesa, mais ou menos à hora de ir para a cama. Registre-se já que não é obra de simples acaso terem sido aqui utilizadas estas imprecisas palavras, mais ou menos. Deste modo, dispensámo-nos, com assinalável elegância, de entrar em pormenores de ordem física e ?siológica algo sórdidos, e quase sempre ridículos, que, postos em pelota sobre o papel, ofenderiam o catolicismo estrito de dom joão, o terceiro, rei de portugal e dos algarves, e de dona catarina de áustria, sua esposa e futura avó daquele dom sebastião que irá a pelejar a alcácer-quibir e lá morrerá ao primeiro assalto, ou ao segundo, embora não falte quem a?rme que se ?nou por doença na véspera da batalha. De sobrolho carregado, eis o que o rei começou por dizer à rainha, Estou duvidando, senhora, Quê, meu senhor, O presente que demos ao primo maximiliano, quando do seu casamento, há quatro anos, sempre me pareceu indigno da sua linhagem e merecimentos, e agora que o temos aqui tão perto, em valladolid, como regente de espanha, por assim dizer à mão de semear, gostaria de lhe oferecer algo mais valioso, algo que desse nas vistas, a vós que vos parece, senhora, Uma custódia estaria bem, senhor, tenho observado que, talvez pela virtude conjunta do seu valor material com o seu signi?cado espiritual, uma custódia é sempre bem acolhida pelo obsequiado, A nossa santa igreja não apreciaria tal liberalidade, ainda há-de ter presentes em sua infalível memória as confessas simpatias do primo maximiliano pela reforma dos protestantes luteranos, luteranos ou calvinistas, nunca soube ao certo, Vade retro, satanás, nem em tal tinha pensado, exclamou a rainha, benzendo-se, amanhã terei de me confessar à primeira hora, Porquê amanhã em particular, senhora, se é vosso costume confessar-vos todos os dias, perguntou o rei, Pela nefanda ideia que o inimigo me pôs nas cordas da voz, olhai que ainda sinto a garganta queimada como se por ela tivesse roçado o bafo do inferno. Habituado aos exageros sensoriais da rainha, o rei encolheu os ombros e regressou à espinhosa tarefa de descobrir um presente capaz de satisfazer o arquiduque maximiliano de áustria. A rainha bisbilhava uma oração, principiara já outra, quando de repente se interrompeu e quase gritou, Temos o salomão, Quê, perguntou o rei, perplexo, sem perceber a intempestiva invocação ao rei de judá, Sim, senhor, salomão, o elefante, E para que quero eu aqui o elefante, perguntou o rei já algo abespinhado, Para o presente, senhor, para o presente de casamento, respondeu a rainha, pondo-se de pé, eufórica, excitadíssima, Não é presente de casamento, Dá o mesmo. O rei acenou com a cabeça lentamente três vezes seguidas, fez uma pausa e acenou outras três vezes, ao ?m das quais admitiu, Parece-me uma ideia interessante, É mais do que interessante, é uma ideia boa, é uma idéia excelente, retrucou a rainha com um gesto de impaciência, quase de insubordinação, que não foi capaz de reprimir, há mais de dois anos que esse animal veio da índia, e desde então não tem feito outra coisa que não seja comer e dormir, a dorna da água sempre cheia, forragens aos montões, é como se es tivéssemos a sustentar uma besta à argola, e sem esperança de pago, O pobre bicho não tem culpa, aqui não há trabalho que sirva para ele, a não ser que o mandasse para os estaleiros do tejo a transportar tábuas, mas o coitado iria padecer, porque a sua especialidade pro?ssional são os troncos, que se ajeitam melhor à tromba pela curvatura, Então que vá para viena, E como irá, perguntou o rei, Ah, isso não é da nossa conta, se o primo maximiliano passar a ser odono, ele que resolva, imagino que ainda continuará em valladolid, Não tenho notícia em contrário, Claro que para valladolid o salomão terá de ir à pata, que boas andadeiras tem, E para viena também, não terá outro remédio, Um estirão, disse a rainha, Um estirão, assentiu o rei gravemente, e acrescentou, Amanhã escreverei ao primo maximiliano, se ele aceitar haverá que combinar datas e fazer alguns acertos, por exemplo, quando tenciona ele partir para viena, de quantos dias irá precisar salomão para chegar de lisboa a valladolid, daí para diante já não será connosco, lavamos as mãos, Sim, lavamos as mãos, disse a rainha, mas, lá no íntimo profundo, que é onde se digladiam as contradições do ser, sentiu uma súbita dor por deixar ir o salomão sozinho para tão distantes terras e tão estranhas gentes.
No dia seguinte, manhãzinha cedo, o rei mandou vir o secretário pêro de alcáçova carneiro e ditou-lhe uma carta que não lhe saiu bem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, e que teve de ser con?ada por inteiro à habilidade retórica e ao experimentado conhecimento da pragmática e das fórmulas epistolares usadas entre soberanos que exornava o competente funcionário, o qual na melhor das escolas possíveis havia aprendido, a de seu próprio pai, antónio carneiro, de quem, por morte, herdara o cargo. A carta ?cou perfeita tanto de letra como de razões, não omitindo sequer a possibilidade teórica, diplomaticamente expressa, de que o presente pudesse não ser do agrado do arquiduque, o qual teria, porém, todas as di?culdades do mundo em responder com uma negativa, pois o rei de portugal a?rmava, numa passagem estratégica da carta, que em todo o seu reino não possuía nada de mais valioso que o elefante salomão, quer pelo sentimento unitário da criação divina que liga e aparenta todas as espécies umas às outras, há mesmo quem diga que o homem foi feito com as sobras do elefante, quer pelos valores simbólico, intrínseco e mundano do animal. Fechada e selada a carta, o rei deu ordem para que se apresentasse o estribeiro-mor, ?dalgo da sua maior con?ança, a quem resumiu a missiva, depois do que lhe ordenou que escolhesse uma escolta digna da sua qualidade, mas, sobretudo, à altura da responsabilidade da missão de que ia incumbido. O ?dalgo beijou a mão ao rei, que lhe disse, com a solenidade de um oráculo, estas sibilinas palavras, Que sejais tão rápido como o aquilão e tão seguro como o voo da águia, Sim, meu senhor. Depois, o rei mudou de tom e deu alguns conselhos práticos, Não precisais que vos recorde que deveis mudar de cavalos todas as vezes que sejam necessárias, as postas não estão lá para outra coisa, não é hora de poupar, vou mandar que reforcem as quadras, e, já agora, sendo possível, para ganhar tempo, opino que deveríeis dormir em cima do vosso cavalo enquanto ele for galopando pelos caminhos de castela. O mensageiro não compreendeu o risonho jogo ou preferiu deixar passar, e limitou-se a dizer, As ordens de vossa alteza serão cumpridas ponto por ponto, empenho nisso a minha palavra e a minha vida, e foi-se retirando às arrecuas, repetindo as vénias de três em três passos. É o melhor dos estribeiros-mores, disse o rei. O secretário resolveu calar a adulação que consistiria em dizer que o estribeiro-mor não poderia ser e portar-se doutra maneira, uma vez que havia sido escolhido pessoalmente por sua alteza. Tinha a impressão de ter dito algo semelhante não há muitos dias. Já nessa altura lhe viera à lembrança um conselho do pai, Cuidado, meu ? lho, uma adulação repetida acabará inevitavelmente por tornar-se insatisfatória, e portanto ferirá como uma ofensa. Posto o que, o secretário, embora por razões diferentes das do estribeiro-mor, preferiu também calar-se. Foi neste breve silêncio que o rei deu voz, ?nalmente, a um cuidado que lhe havia ocorrido ao despertar, Estive a pensar, acho que deveria ir ver o salomão, Quer vossa alteza que mande chamar a guarda real, perguntou o secretário, Não, dois pajens são mais do que su? cientes, um para os recados e o outro para ir saber por que é que o primeiro ainda não voltou, ah, e também o senhor secretário, se me quiser acompanhar, Vossa alteza honra-me muito, por cima dos meus merecimentos, Talvez para que venha a merecer mais e mais, como seu pai, que deus tenha em glória, Beijo as mãos de vossa alteza, com o amor e o respeito com que beijava as dele, Tenho a impressão de que isso é que está muito por cima dos meus merecimentos, disse o rei, sorrindo, Em dialéctica e em resposta pronta ninguém ganha a vossa alteza, Pois olhe que não falta por aí quem diga que as fadas que presidiram ao meu nascimento não me fadaram para o exercício das letras, Nem tudo são letras no mundo, meu senhor, ir visitar o elefante salomão neste dia é, como talvez se venha a dizer no futuro, um acto poético, Que é um acto poético, perguntou o rei, Não se sabe, meu senhor, só damos por ele quando aconteceu, Mas eu, por enquanto, só tinha anunciado a intenção de visitar o salomão, Sendo palavra de rei, suponho que terá sido o bastante, Creio ter ouvido dizer que, em retórica, chamam a isso ironia, Peço perdão a vossa alteza, Está perdoado, senhor secretário, se todos os seus pecados forem dessa gravidade, tem o céu garantido, Não sei, meu senhor, se este será o melhor tempo de ir para o céu, Que quer isso dizer, Vem aí a inquisição, meu senhor, acabaram-se os salvo-condutos de con?ssão e absolvição, A inquisição manterá a unidade entre os cristãos, esse é o seu objectivo, Santo objectivo, sem dúvida, meu senhor, resta saber por que meios o alcançará, Se o objectivo é santo, santos serão também os meios de que se servir, respondeu o rei com certa aspereza, Peço perdão a vossa alteza, além disso, Além disso, quê, Rogo-vos que me dispenseis da visita ao salomão, sinto que hoje não seria uma companhia agradável para vossa alteza, Não dispenso, preciso absolutamente da sua presença no cercado, Para quê, meu senhor, se não estou a ser demasiado con?ado em perguntar, Não tenho luzes para perceber se vai acontecer o que chamou acto poético, respondeu o rei com um meio sorriso em que a barbae o bigode desenhavam uma expressão maliciosa, quase me?stofélica, Espero as suas ordens, meu senhor, Sendo cinco horas, quero quatro cavalos à porta do palácio, recomende que aquele que montarei seja grande, gordo e manso, nunca fui de cavalgadas, e agora ainda menos, com esta idade e os achaques que ela trouxe, Sim, meu senhor, E escolha-me bem os pajens, que não sejam daqueles que se riem por tudo e por nada, dá-me vontade de lhes torcer o pescoço, Sim, meu senhor.
No dia seguinte, manhãzinha cedo, o rei mandou vir o secretário pêro de alcáçova carneiro e ditou-lhe uma carta que não lhe saiu bem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, e que teve de ser con?ada por inteiro à habilidade retórica e ao experimentado conhecimento da pragmática e das fórmulas epistolares usadas entre soberanos que exornava o competente funcionário, o qual na melhor das escolas possíveis havia aprendido, a de seu próprio pai, antónio carneiro, de quem, por morte, herdara o cargo. A carta ?cou perfeita tanto de letra como de razões, não omitindo sequer a possibilidade teórica, diplomaticamente expressa, de que o presente pudesse não ser do agrado do arquiduque, o qual teria, porém, todas as di?culdades do mundo em responder com uma negativa, pois o rei de portugal a?rmava, numa passagem estratégica da carta, que em todo o seu reino não possuía nada de mais valioso que o elefante salomão, quer pelo sentimento unitário da criação divina que liga e aparenta todas as espécies umas às outras, há mesmo quem diga que o homem foi feito com as sobras do elefante, quer pelos valores simbólico, intrínseco e mundano do animal. Fechada e selada a carta, o rei deu ordem para que se apresentasse o estribeiro-mor, ?dalgo da sua maior con?ança, a quem resumiu a missiva, depois do que lhe ordenou que escolhesse uma escolta digna da sua qualidade, mas, sobretudo, à altura da responsabilidade da missão de que ia incumbido. O ?dalgo beijou a mão ao rei, que lhe disse, com a solenidade de um oráculo, estas sibilinas palavras, Que sejais tão rápido como o aquilão e tão seguro como o voo da águia, Sim, meu senhor. Depois, o rei mudou de tom e deu alguns conselhos práticos, Não precisais que vos recorde que deveis mudar de cavalos todas as vezes que sejam necessárias, as postas não estão lá para outra coisa, não é hora de poupar, vou mandar que reforcem as quadras, e, já agora, sendo possível, para ganhar tempo, opino que deveríeis dormir em cima do vosso cavalo enquanto ele for galopando pelos caminhos de castela. O mensageiro não compreendeu o risonho jogo ou preferiu deixar passar, e limitou-se a dizer, As ordens de vossa alteza serão cumpridas ponto por ponto, empenho nisso a minha palavra e a minha vida, e foi-se retirando às arrecuas, repetindo as vénias de três em três passos. É o melhor dos estribeiros-mores, disse o rei. O secretário resolveu calar a adulação que consistiria em dizer que o estribeiro-mor não poderia ser e portar-se doutra maneira, uma vez que havia sido escolhido pessoalmente por sua alteza. Tinha a impressão de ter dito algo semelhante não há muitos dias. Já nessa altura lhe viera à lembrança um conselho do pai, Cuidado, meu ? lho, uma adulação repetida acabará inevitavelmente por tornar-se insatisfatória, e portanto ferirá como uma ofensa. Posto o que, o secretário, embora por razões diferentes das do estribeiro-mor, preferiu também calar-se. Foi neste breve silêncio que o rei deu voz, ?nalmente, a um cuidado que lhe havia ocorrido ao despertar, Estive a pensar, acho que deveria ir ver o salomão, Quer vossa alteza que mande chamar a guarda real, perguntou o secretário, Não, dois pajens são mais do que su? cientes, um para os recados e o outro para ir saber por que é que o primeiro ainda não voltou, ah, e também o senhor secretário, se me quiser acompanhar, Vossa alteza honra-me muito, por cima dos meus merecimentos, Talvez para que venha a merecer mais e mais, como seu pai, que deus tenha em glória, Beijo as mãos de vossa alteza, com o amor e o respeito com que beijava as dele, Tenho a impressão de que isso é que está muito por cima dos meus merecimentos, disse o rei, sorrindo, Em dialéctica e em resposta pronta ninguém ganha a vossa alteza, Pois olhe que não falta por aí quem diga que as fadas que presidiram ao meu nascimento não me fadaram para o exercício das letras, Nem tudo são letras no mundo, meu senhor, ir visitar o elefante salomão neste dia é, como talvez se venha a dizer no futuro, um acto poético, Que é um acto poético, perguntou o rei, Não se sabe, meu senhor, só damos por ele quando aconteceu, Mas eu, por enquanto, só tinha anunciado a intenção de visitar o salomão, Sendo palavra de rei, suponho que terá sido o bastante, Creio ter ouvido dizer que, em retórica, chamam a isso ironia, Peço perdão a vossa alteza, Está perdoado, senhor secretário, se todos os seus pecados forem dessa gravidade, tem o céu garantido, Não sei, meu senhor, se este será o melhor tempo de ir para o céu, Que quer isso dizer, Vem aí a inquisição, meu senhor, acabaram-se os salvo-condutos de con?ssão e absolvição, A inquisição manterá a unidade entre os cristãos, esse é o seu objectivo, Santo objectivo, sem dúvida, meu senhor, resta saber por que meios o alcançará, Se o objectivo é santo, santos serão também os meios de que se servir, respondeu o rei com certa aspereza, Peço perdão a vossa alteza, além disso, Além disso, quê, Rogo-vos que me dispenseis da visita ao salomão, sinto que hoje não seria uma companhia agradável para vossa alteza, Não dispenso, preciso absolutamente da sua presença no cercado, Para quê, meu senhor, se não estou a ser demasiado con?ado em perguntar, Não tenho luzes para perceber se vai acontecer o que chamou acto poético, respondeu o rei com um meio sorriso em que a barbae o bigode desenhavam uma expressão maliciosa, quase me?stofélica, Espero as suas ordens, meu senhor, Sendo cinco horas, quero quatro cavalos à porta do palácio, recomende que aquele que montarei seja grande, gordo e manso, nunca fui de cavalgadas, e agora ainda menos, com esta idade e os achaques que ela trouxe, Sim, meu senhor, E escolha-me bem os pajens, que não sejam daqueles que se riem por tudo e por nada, dá-me vontade de lhes torcer o pescoço, Sim, meu senhor.
quarta-feira, setembro 29
Crônicas
Outro dia me fizeram a pergunta clássica: "para quem escreve você?" É claro que quem escreve para jornal está escrevendo para toda gente; mas o indagador queria saber é em quem o cronista pensa quando está escrevendo, a quem ele se dirige mentalmente de maneira especial.
Isso, na verdade, varia muito. Às vezes, é fato, a gente escreve para algum amigo; a crônica é uma espécie de prolongamento de uma conversa; ou é um recado disfarçado, alguma coisa que a gente gostaria de dizer, mas prefere não dizer diretamente. Também acontece que, ao escrever, a gente está pensando, por exemplo, naquela mulher - que, por sinal, pode muito bem acontecer que não leia a crônica. Ou, pior ainda, que a leia, e não goste, ache cacete e nada mais. Nesses casos pode suceder que outra mulher se comova com aquilo que não comoveu a destinatária; e uma terceira ache que estamos lhe mandando uma velada mensagem. A própria pessoa que escreve nem sempre identifica perfeitamente a mulher que o está inspirando; há uma parte de inconsciente na escrita, e não foram os surrealistas que inventaram isso.
Uma das boas coisas de ofício de cronista ainda é reparar que uma página que a gente acha ruim, malfeita, incapaz de interessar alguém, é recebida, surpreendentemente com emoção e carinho. Até hoje recebo cartas de pessoas encantadas com uma crônica sobre o Jardim Botânico que eu acreditava fraquíssima: estive quase deixando essa crônica para acabar no dia seguinte, tão ruim me parecia pouco antes de terminá-la: entretanto ali havia uma emoção legítima que se transmitiu a muita gente e obrigou várias pessoas a irem até a Gávea ver a flor de que eu falava. Casos inversos também acontecem em número suficiente para impedir que o cronista se encha de vaidade.
Assim é, oh leitor, o nosso vão ofício. Tem suas tristezas e decepções, seus tédios, mas também seu consolo. O menor deles, ainda que vulgar, não é este que neste momento sinto, como todo dia, ao chegar o instante de fechar a crônica "enfim, eu fiz o que podia, cumpri o meu dever". Adeus.
Isso, na verdade, varia muito. Às vezes, é fato, a gente escreve para algum amigo; a crônica é uma espécie de prolongamento de uma conversa; ou é um recado disfarçado, alguma coisa que a gente gostaria de dizer, mas prefere não dizer diretamente. Também acontece que, ao escrever, a gente está pensando, por exemplo, naquela mulher - que, por sinal, pode muito bem acontecer que não leia a crônica. Ou, pior ainda, que a leia, e não goste, ache cacete e nada mais. Nesses casos pode suceder que outra mulher se comova com aquilo que não comoveu a destinatária; e uma terceira ache que estamos lhe mandando uma velada mensagem. A própria pessoa que escreve nem sempre identifica perfeitamente a mulher que o está inspirando; há uma parte de inconsciente na escrita, e não foram os surrealistas que inventaram isso.
Só um cronista diário que seja um monstro de vaidade pode ter a pretensão de fazer todo dia alguma coisa interessante. Na maior parte das vezes ele se contenta em achar que o que fez está passável; às vezes luta entre o remorso de falhar e o remorso talvez pior de mandar para o secretário do jornal uma coisa que sabe medíocre demais, ruim. Esses remorsos não matam o profissional; talvez o engordem. Todo cronista sensato sabe que seu gênero é o mais precário que existe, e depende de tudo, inclusive da moda. E não acreditem muito no cronista que diz que está pensando em fazer um romance; na verdade depois de alguns anos ele já gastou aos pedacinhos, aqui e ali, na sua meio-literatura apressada todo o material emotivo, todo o conjunto de impressões e lembranças que lhe serviriam para compor um romance que fosse realmente alguma coisa sincera e viva, alguma coisa sua. A "mensagem" do romance ele já a transmitiu no "Morse" ocasional das crônicas.
Uma das boas coisas de ofício de cronista ainda é reparar que uma página que a gente acha ruim, malfeita, incapaz de interessar alguém, é recebida, surpreendentemente com emoção e carinho. Até hoje recebo cartas de pessoas encantadas com uma crônica sobre o Jardim Botânico que eu acreditava fraquíssima: estive quase deixando essa crônica para acabar no dia seguinte, tão ruim me parecia pouco antes de terminá-la: entretanto ali havia uma emoção legítima que se transmitiu a muita gente e obrigou várias pessoas a irem até a Gávea ver a flor de que eu falava. Casos inversos também acontecem em número suficiente para impedir que o cronista se encha de vaidade.
Assim é, oh leitor, o nosso vão ofício. Tem suas tristezas e decepções, seus tédios, mas também seu consolo. O menor deles, ainda que vulgar, não é este que neste momento sinto, como todo dia, ao chegar o instante de fechar a crônica "enfim, eu fiz o que podia, cumpri o meu dever". Adeus.
Cúmulo dos cúmulos
Às vezes de noite – meditava naquela ocasião a Pulga – quando a insónia não me deixa dormir como agora e leio, faço um parênteses na leitura, penso no meu ofício de escritor e, olhando fixamente o teto, por breves instantes imagino que sou, o que poderia ser se a isso me propusesse com seriedade desde manhã, como Kafka (claro que sem a sua existência miserável), ou como Joyce (sem a sua vida cheia de trabalhos para sobreviver com dignidade), ou como Cervantes (sem os inconvenientes da pobreza), ou como Catulo (ainda que contra o seu prazer em sofrer pelas mulheres, ou talvez por isso mesmo), ou como Swift (sem a ameaça da loucura), ou como Goethe (sem o seu triste destino de ganhar a vida no Palácio), ou como Bloy (apesar da sua firme inclinação para se sacrificar pelas putas), ou como Thoreau (apesar de nada), ou como Sóror Juana (apesar de tudo); nunca Anónimo; sempre Lui Même, o cúmulo dos cúmulos de qualquer glória terrestre.
Augusto Monterroso,, "A Ovelha Negra e outras fábulas"
Augusto Monterroso,, "A Ovelha Negra e outras fábulas"
terça-feira, setembro 28
Livros
Livros viscosos como pântanos, nos quais uma pessoa se afunda e clama, em vão, que a salvem; livros ásperos, cortantes, perigosos, que nos enchem de cicatrizes; livros acolchoados, de dunlopillo, onde pulamos e saltamos; livros-meteoro que nos transportam para territórios ignotos e nos permitem escutar a música das esferas; livros chatos e resvaladiços, onde escorregamos e partimos a cabeça; livros inexpugnáveis nos quais não conseguimos entrar, quer seja pelo meio, pelo início ou pelo fim; livros tão transparentes que penetramos neles como no ar e, quando voltamos a cara, já não existem; livros-larva que deixam ouvir a sua voz anos depois de os termos lido; livros peludos e com garra que nos contam histórias peludas e com garra; livros orquestrais, sinfónicos, corais, mas que parecem dirigidos pelo tambor principal da banda da aldeia; livros, livros, livros…
Julio Ramón Ribeyro, "Prosas Apátridas"
Julio Ramón Ribeyro, "Prosas Apátridas"
O sábio da Efelogia
Durante a última excursão que fiz a Marrocos, encontrei um dos tipos mais curiosos que tenho visto em minha vida.
Conheci-o casualmente, no velho hotel de Yazid El-Kedim, em Marrakech. Era um homem alto, magro, de barbas pretas e olhos escuros; vestia sempre pesadíssimo casaco de astracã, com esquisita gola de peles que lhe chegava até às orelhas. Falava pouco; quando conversava casualmente com os outros hóspedes, não fazia a menor referência à sua vida ou ao seu passado. Deixava porém, de vez em quando, escapar observações eruditas, denotadoras de grande e extraordinário saber.
Além do nome — Vladimir Kolievich — pouco mais se conhecia dele. Entre os viajantes que se achavam em “El-Kedim”, constava que o misterioso cavalheiro era um antigo e notável professor da Universidade de Riga, que vivia foragido por ter tomado parte numa revolução contra o governo da Letônia.
Uma noite, como de costume estávamos reunidos na sala de jantar, quando uma jovem escritora russa, Sônia Baliakine, que se entretinha com a leitura de um romance, me perguntou:
— Sabe o senhor onde fica o rio Falgu?
— O quê? Rio Falgu?
Ao cabo de alguns momentos de baldada pesquisa nos escaninhos da memória, fui obrigado a confessar a minha ignorância, lamentável nesse ponto. Nunca tinha ouvido falar em semelhante rio, apesar de ter feito um curso completo e distinto na Universidade de Moscou.
Com surpresa de todos, o misterioso Vladimir Kolievich, que fumava em silêncio a um canto, veio esclarecer a dúvida da encantadora excursionista russa:
— O Rio Falgu fica nas proximidades da cidade de Gaya, na Índia. Para os budistas, o Falgu é um rio sagrado, pois foi junto a ele que Buda, fundador da grande religião, recebeu a inspiração de Deus.
Diante da admiração geral dos hóspedes, aquele cavalheiro, habitualmente taciturno e concentrado, continuou:
— É muito curioso o rio Falgu. O seu leito apresenta-se coberto de areia; parece eternamente seco, árido, como um deserto. O viajante que dele se aproxima não vê água nem ouve o menor rumor do líquido. Cavando-se, porém, alguns palmos na areia, encontra-se um lençol de água pura e límpida.
Com a simplicidade e clareza peculiares aos grandes sábios, passou a contar-nos coisas curiosas, não só da Índia, como de várias outras partes do mundo. Falou-nos minuciosamente das “filazenes”, espécie de cadeiras em que se assentam, quando viajam, os habitantes de Madagáscar.
— Que grande talento! Que invejável cultura científica! — segredou, a meu lado, um missionário católico, sinceramente admirado.
A formosa Sônia afirmou que encontrara referências ao rio Falgu exatamente no livro que estava lendo, uma obra de Otávio Feuillet.
— Ah! Feuillet, o célebre romancista francês! — atalhou ainda o erudito cavalheiro do astracã. — Otávio Feuillet nasceu em 1821 e morreu em 1890. As suas obras, de um romantismo um pouco exagerado, são notáveis pela finura das observações e pela concisão e brilho do estilo.
Durante algum tempo, prendeu a atenção de todos, discorrendo sobre Otávio Feuillet, sobre a França e sobre os escritores franceses. Ao referir-se aos romances realistas, citou as obras de Gustavo Flaubert: “Salambô”, “Madame Bovary”, “Educação Sentimental”...
— Não se limita a conhecer a Geografia — acrescentou, a meia-voz, o velho missionário. — Sabe também literatura a fundo!
Realmente. A precisão com que o erudito Vladimir citava datas e nomes, e a segurança com que expunha os diversos assuntos, não deixavam dúvida alguma sobre a extensão de seu considerável saber.
Nesse momento, começava uma forte ventania. As janelas e portas batem com violência. Alguns excursionistas que se achavam na sala mostraram-se assustados.
— Não tenham medo — acudiu, bondoso, o extraordinário Kolievich. — Não há motivo para temores ou receios. Faye, o grande astrônomo, que estudou a teoria dos ciclones...
Discorreu longamente sobre a obra de Faye, e depois passou a falar, com grande loquacidade, dos ciclones, avalanches, erupções e todos os flagelos da natureza.
Senti-me seriamente intrigado. Quem seria, afinal, aquele homem tão sábio, de rara e copiosa erudição, que se deixava ficar modesto, incógnito, como simples aventureiro, numa velha e monótona cidade marroquina?
No dia seguinte, ao regressar de fatigante excursão aos jardins de El-Menara, encontrei-o casualmente, sozinho, no pátio da linda mesquita de Kasb. Não me contive e fui ter com ele.
— O senhor maravilhou-nos ontem com o seu saber — confessei, respeitoso. — Não podíamos imaginar, com franqueza, que fosse um homem de tão grande cultura. Na sua academia, com certeza...
— Qual, meu amigo! — obtemperou ele, amável, batendo-me no ombro. — Não me considere um sábio, um acadêmico ou um professor. Eu pouco sei, ou melhor, nada sei. Não reparou nas palavras de que tratei? Falgu, filazenes, Feuillet, França, Flaubert, Faye, flagelo. Começam todas pela letra F. Eu só sei falar sobre palavras que começam pela letra F.
Fiquei ainda mais admirado. Qual seria a razão de tão curiosa extravagância no saber?
— Eu lhe explico — acudiu com bom humor o estranho viajante. — Sou natural de Petrogrado e vivo do comércio do fumo. Estive, porém, por motivos políticos, durante dez anos nas prisões da Sibéria. O condenado que me havia precedido, na cela em que me puseram, deixou-me como herança os restos de uma velha enciclopédia francesa. Eu conhecia um pouco esse idioma, e como não tivesse em que me ocupar, li e reli centenas de vezes as páginas que possuía. Eram todas da letra F. Ao final, fiquei sabendo muita coisa; tudo, porém sem sair da letra F: fá, fabagela, fabela, fabiana, fabordão.
Achei curiosa aquela conclusão da original história do inteligente Kolievich, o negociante de fumo. Ele era precisamente o contrário do famoso e venerado rio Falgu, da Índia. Parecia possuir uma corrente enorme, profunda e tumultuosa de saber; entretanto, sua erudição, que nos causara tanto assombro, não ia além dos vários capítulos decorados da letra F de uma velha enciclopédia.
Era, inquestionavelmente, o homem que mais conhecia a ciência que ele próprio denominara “efelogia”.
Malba Tahan, "Os melhores contos"–
Conheci-o casualmente, no velho hotel de Yazid El-Kedim, em Marrakech. Era um homem alto, magro, de barbas pretas e olhos escuros; vestia sempre pesadíssimo casaco de astracã, com esquisita gola de peles que lhe chegava até às orelhas. Falava pouco; quando conversava casualmente com os outros hóspedes, não fazia a menor referência à sua vida ou ao seu passado. Deixava porém, de vez em quando, escapar observações eruditas, denotadoras de grande e extraordinário saber.
Além do nome — Vladimir Kolievich — pouco mais se conhecia dele. Entre os viajantes que se achavam em “El-Kedim”, constava que o misterioso cavalheiro era um antigo e notável professor da Universidade de Riga, que vivia foragido por ter tomado parte numa revolução contra o governo da Letônia.
Uma noite, como de costume estávamos reunidos na sala de jantar, quando uma jovem escritora russa, Sônia Baliakine, que se entretinha com a leitura de um romance, me perguntou:
— Sabe o senhor onde fica o rio Falgu?
— O quê? Rio Falgu?
Ao cabo de alguns momentos de baldada pesquisa nos escaninhos da memória, fui obrigado a confessar a minha ignorância, lamentável nesse ponto. Nunca tinha ouvido falar em semelhante rio, apesar de ter feito um curso completo e distinto na Universidade de Moscou.
Com surpresa de todos, o misterioso Vladimir Kolievich, que fumava em silêncio a um canto, veio esclarecer a dúvida da encantadora excursionista russa:
— O Rio Falgu fica nas proximidades da cidade de Gaya, na Índia. Para os budistas, o Falgu é um rio sagrado, pois foi junto a ele que Buda, fundador da grande religião, recebeu a inspiração de Deus.
Diante da admiração geral dos hóspedes, aquele cavalheiro, habitualmente taciturno e concentrado, continuou:
— É muito curioso o rio Falgu. O seu leito apresenta-se coberto de areia; parece eternamente seco, árido, como um deserto. O viajante que dele se aproxima não vê água nem ouve o menor rumor do líquido. Cavando-se, porém, alguns palmos na areia, encontra-se um lençol de água pura e límpida.
Com a simplicidade e clareza peculiares aos grandes sábios, passou a contar-nos coisas curiosas, não só da Índia, como de várias outras partes do mundo. Falou-nos minuciosamente das “filazenes”, espécie de cadeiras em que se assentam, quando viajam, os habitantes de Madagáscar.
— Que grande talento! Que invejável cultura científica! — segredou, a meu lado, um missionário católico, sinceramente admirado.
A formosa Sônia afirmou que encontrara referências ao rio Falgu exatamente no livro que estava lendo, uma obra de Otávio Feuillet.
— Ah! Feuillet, o célebre romancista francês! — atalhou ainda o erudito cavalheiro do astracã. — Otávio Feuillet nasceu em 1821 e morreu em 1890. As suas obras, de um romantismo um pouco exagerado, são notáveis pela finura das observações e pela concisão e brilho do estilo.
Durante algum tempo, prendeu a atenção de todos, discorrendo sobre Otávio Feuillet, sobre a França e sobre os escritores franceses. Ao referir-se aos romances realistas, citou as obras de Gustavo Flaubert: “Salambô”, “Madame Bovary”, “Educação Sentimental”...
— Não se limita a conhecer a Geografia — acrescentou, a meia-voz, o velho missionário. — Sabe também literatura a fundo!
Realmente. A precisão com que o erudito Vladimir citava datas e nomes, e a segurança com que expunha os diversos assuntos, não deixavam dúvida alguma sobre a extensão de seu considerável saber.
Nesse momento, começava uma forte ventania. As janelas e portas batem com violência. Alguns excursionistas que se achavam na sala mostraram-se assustados.
— Não tenham medo — acudiu, bondoso, o extraordinário Kolievich. — Não há motivo para temores ou receios. Faye, o grande astrônomo, que estudou a teoria dos ciclones...
Discorreu longamente sobre a obra de Faye, e depois passou a falar, com grande loquacidade, dos ciclones, avalanches, erupções e todos os flagelos da natureza.
Senti-me seriamente intrigado. Quem seria, afinal, aquele homem tão sábio, de rara e copiosa erudição, que se deixava ficar modesto, incógnito, como simples aventureiro, numa velha e monótona cidade marroquina?
No dia seguinte, ao regressar de fatigante excursão aos jardins de El-Menara, encontrei-o casualmente, sozinho, no pátio da linda mesquita de Kasb. Não me contive e fui ter com ele.
— O senhor maravilhou-nos ontem com o seu saber — confessei, respeitoso. — Não podíamos imaginar, com franqueza, que fosse um homem de tão grande cultura. Na sua academia, com certeza...
— Qual, meu amigo! — obtemperou ele, amável, batendo-me no ombro. — Não me considere um sábio, um acadêmico ou um professor. Eu pouco sei, ou melhor, nada sei. Não reparou nas palavras de que tratei? Falgu, filazenes, Feuillet, França, Flaubert, Faye, flagelo. Começam todas pela letra F. Eu só sei falar sobre palavras que começam pela letra F.
Fiquei ainda mais admirado. Qual seria a razão de tão curiosa extravagância no saber?
— Eu lhe explico — acudiu com bom humor o estranho viajante. — Sou natural de Petrogrado e vivo do comércio do fumo. Estive, porém, por motivos políticos, durante dez anos nas prisões da Sibéria. O condenado que me havia precedido, na cela em que me puseram, deixou-me como herança os restos de uma velha enciclopédia francesa. Eu conhecia um pouco esse idioma, e como não tivesse em que me ocupar, li e reli centenas de vezes as páginas que possuía. Eram todas da letra F. Ao final, fiquei sabendo muita coisa; tudo, porém sem sair da letra F: fá, fabagela, fabela, fabiana, fabordão.
Achei curiosa aquela conclusão da original história do inteligente Kolievich, o negociante de fumo. Ele era precisamente o contrário do famoso e venerado rio Falgu, da Índia. Parecia possuir uma corrente enorme, profunda e tumultuosa de saber; entretanto, sua erudição, que nos causara tanto assombro, não ia além dos vários capítulos decorados da letra F de uma velha enciclopédia.
Era, inquestionavelmente, o homem que mais conhecia a ciência que ele próprio denominara “efelogia”.
Malba Tahan, "Os melhores contos"–
segunda-feira, setembro 27
Passarinho cantador
Passarinho cantador veio voando de longe. Lá de cima descaiu. Viu o galho de goiabeira com a goiaba madura, peneirou e desceu em pique. Pousou no galho, beliscou a fruta, deu dois trinados bem alto e saiu atrás do companheiro.
Na janela estava a moça do cabelo ruivo. Pensava aos seus amores e escutando o passarinho deu um suspiro sentido e gemeu: Ai que saudades que eu tenho.
Podia ter continuado: ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Mas, coitadinha, não era dos oito anos nem da aurora da sua vida que ela sentia saudades; e sim de um meio dia quente de verão, das amendoeiras na praia, de um banco de cimento e de um tenente.
Ai, tenente que embarcaste. Ou embarcaste ou sumiste.
Tenente vestiu a farda garance, engraxou os talabartes, botou o quepe de lado, frechou o olhar verde-mar.
Tenente fez continência, perguntou se incomodava. A moça deu um muxoxo e disse: "Oxente, não pago aluguel do banco".
Tenente, moço tão fino, agradeceu a licença, bateu com o lenço no banco por amor de não empoeirar a farda garance, sentou-se, cruzou as pernas, e falou que não tinha se referido só ao banco; referira-se ao coração também. Que ela assim à beira-mar só parecia que tinha vindo arejar tristezas e longe dele a ousadia de perturbar a meditação de jovem tão bela.
A mocinha do cabelo ruivo mostrou pela primeira vez o seu sorriso, disse que bela não era, mas triste, com efeito, estava. O mar, sendo também triste, por isso é bom companheiro.
Ai, o mar.
Mas para a moça, o pior do mar era em relação ao tenente, pois digo e repito que ele tinha o olhar verde-mar, e ali junto, comparando.... Quem diria? A mocinha esqueceu tristezas, deu um suspiro fundíssimo e o mais que soube dizer foi igualmente o mar, sim o mar. Ai o mar.
Daí por diante ficaram calados e com pouco mais a mocinha consentira que o tenente segurasse a sua mão.
Diz que embarcou, foi para o norte. Outros dizem que foi para o sul, no trem internacional. Ai que tenente malino. E hoje o mar pode crescer, pode minguar com a maré, pode se assanhar em ressaca, mocinha desvia os olhos, que mar castanho, amarelo, cinzento, roxo, oleoso, só não é mais verde-mar!
Do oitão da sua casa a moça do cabelo ruivo suspira debruçada à janela. Passarinho cantador torna a pousar no galho da goiabeira, dá dois trinados penosos. Logo vem o companheiro, partilham ambos da fruta toda amarela por fora, toda vermelha por dentro. Depois começam um namoro. E a mocinha ― ai, mocinha, que vida triste, que mundo tão desigual! Mocinha afasta o seu rosto. Mas não pode afastar o ouvido. Passarinho cantador, amando na goiabeira, canta que é um desadoro.
Mocinha bate a janela. Assim também é demais.
Na janela estava a moça do cabelo ruivo. Pensava aos seus amores e escutando o passarinho deu um suspiro sentido e gemeu: Ai que saudades que eu tenho.
Podia ter continuado: ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Mas, coitadinha, não era dos oito anos nem da aurora da sua vida que ela sentia saudades; e sim de um meio dia quente de verão, das amendoeiras na praia, de um banco de cimento e de um tenente.
Pobre mocinha, sentida, consumida de saudade, chega a chorar na janela.
Ai, tenente que embarcaste. Ou embarcaste ou sumiste.
Tenente vestiu a farda garance, engraxou os talabartes, botou o quepe de lado, frechou o olhar verde-mar.
A mocinha do cabelo ruivo estava no oitão da sua casa, trajada de vestido branco. E vendo a farda garance, e vendo o quepe de lado, e vendo o olhar verde-mar, saiu como quem não quer querendo e foi sentar com ar de fastio no banco, debaixo da amendoeira grande, e lá ficou, cismadora, com os olhos na água do cais.
Tenente fez continência, perguntou se incomodava. A moça deu um muxoxo e disse: "Oxente, não pago aluguel do banco".
Tenente, moço tão fino, agradeceu a licença, bateu com o lenço no banco por amor de não empoeirar a farda garance, sentou-se, cruzou as pernas, e falou que não tinha se referido só ao banco; referira-se ao coração também. Que ela assim à beira-mar só parecia que tinha vindo arejar tristezas e longe dele a ousadia de perturbar a meditação de jovem tão bela.
A mocinha do cabelo ruivo mostrou pela primeira vez o seu sorriso, disse que bela não era, mas triste, com efeito, estava. O mar, sendo também triste, por isso é bom companheiro.
Então, tornou o tenente, bem, na verdade o mar, sim o mar...
Ai, o mar.
Mas para a moça, o pior do mar era em relação ao tenente, pois digo e repito que ele tinha o olhar verde-mar, e ali junto, comparando.... Quem diria? A mocinha esqueceu tristezas, deu um suspiro fundíssimo e o mais que soube dizer foi igualmente o mar, sim o mar. Ai o mar.
Daí por diante ficaram calados e com pouco mais a mocinha consentira que o tenente segurasse a sua mão.
*
Isso já faz muito tempo. Por duas vezes os garis da Prefeitura vieram com os seus serrotes e a amendoeira foi podada. Tenente deixou de vir. O banco é que não mudava e nele todas as tardes vinha sentar-se a mocinha com o seu cabelo ruivo não mais solto pelos ombros, mas todo enrolado em cachos. E ora aparecia um fuzileiro, ora chegava um paisano; ora atleta de calção; tenente nunca mais veio.Diz que embarcou, foi para o norte. Outros dizem que foi para o sul, no trem internacional. Ai que tenente malino. E hoje o mar pode crescer, pode minguar com a maré, pode se assanhar em ressaca, mocinha desvia os olhos, que mar castanho, amarelo, cinzento, roxo, oleoso, só não é mais verde-mar!
Do oitão da sua casa a moça do cabelo ruivo suspira debruçada à janela. Passarinho cantador torna a pousar no galho da goiabeira, dá dois trinados penosos. Logo vem o companheiro, partilham ambos da fruta toda amarela por fora, toda vermelha por dentro. Depois começam um namoro. E a mocinha ― ai, mocinha, que vida triste, que mundo tão desigual! Mocinha afasta o seu rosto. Mas não pode afastar o ouvido. Passarinho cantador, amando na goiabeira, canta que é um desadoro.
Mocinha bate a janela. Assim também é demais.
Assim começa...
Sentada à beira da estrada, espiando a carroça subir a colina em sua direção, Lena pensa: “Vim do Alabama: um estirão. O caminho todo do Alabama até aqui andando. Um estirão”. Pensando apesar de não fazer nem um mês que estou na estrada já cheguei no Mississippi, o mais longe de casa que já fui. Estou mais longe agora da Serraria do Doane do que já estive desde que tinha doze anos.
Ela nem mesmo fora à Serraria do Doane antes de seu pai e sua mãe morrerem, embora seis ou oito vezes por ano fosse à cidade nos sábados, na carroça, usando um vestido comprado por reembolso postal e com os pés descalços sobre o assoalho da
carroça e os sapatos embrulhados num pedaço de papel ao seu lado no assento. Ela calçaria os sapatos pouco antes de a carroça chegar na cidade. Depois de se tornar uma mocinha, pediria ao pai que parasse a carroça na entrada da cidade, desceria e seguiria andando. Não diria ao pai por que preferia caminhar em vez de seguir na carroça. Ele achava que era por causa das ruas planas, das calçadas. Mas era porque ela acreditava que as pessoas que a vissem ou cruzassem com ela a pé achariam que ela também morava na cidade.
Quando tinha doze anos, o pai e a mãe morreram no mesmo verão, numa casa de troncos de três quartos e uma sala, sem telas, num quarto iluminado por um lampião de querosene rodeado por um turbilhão de insetos, o assoalho nu polido como prata velha por pés descalços. Ela era a filha viva mais nova. A mãe morreu primeiro. Ela disse: “Cuide do pai”. Lena obedeceu. Um dia o pai disse: “Você vai até a Serraria do Doane com o McKinley. Prepare-se para ir, esteja pronta quando ele chegar”.
E morreu. McKinley, o irmão, chegou numa carroça. Eles sepultaram o pai num bosque atrás de uma igreja rural uma tarde, com laje tumular de pinho. Na manhã seguinte, ela partiu para sempre, mas é possível que não soubesse que isso ia acontecer na ocasião, na carroça com McKinley, a caminho da Serraria do Doane. A carroça era emprestada, e o irmão prometera devolvê-la ao anoitecer.
O irmão trabalhava na serraria. Todos os homens da vila trabalha vam na serraria ou para ela. A serraria cortava pinho. Já estava ali havia sete anos e em outros sete destruiria toda a floresta ao seu alcance. Depois, algumas máquinas e a maioria
dos homens que as operavam e viviam delas e para elas seriam colocados em vagões de carga e levados embora. Mas uma parte do maquinário seria abandonada, já que peças novas sempre poderiam ser compradas a prestação—engrenagens gastas, emperradas, petrificadas, projetando-se dos montículos de tijolo quebrado e tufos de mato com uma aparência extremamente assombrosa, e caldeiras destruídas por dentro alçando as chaminés ferrugentas e inativas com um ar teimoso, frustrado e estúpido sobre uma paisagem pustulada de tocos de silenciosa e profunda desolação, não arada, não semeada, esvaindo-se lentamente em ravinas vermelhas cunhadas debaixo das chuvas longas e mansas do outono e da fúria galopante dos equinócios primaveris. E a vila, que mesmo nos seus melhores dias não tivera o nome registrado nos anais dos Correios, agora nem sequer seria lembrada pelos herdeiros opilados, que puseram abaixo os edifícios e os queimaram em seus fogões e lareiras.
Eram talvez cinco famílias no lugar quando Lena chegou. Havia um trilho e uma estação, e uma vez por dia um trem misto passava resfolegando por ela. O trem podia ser parado com uma bandeira vermelha, mas em geral surgia das colinas devastadas de repente como uma aparição e gemendo feito uma banshee, cruzava e deixava para trás aquele menos-que-vilarejo como a conta esquecida de um colar arrebentado. O irmão era vinte anos mais velho. Ela mal se lembrava dele quando fora viver em sua companhia. Ele morava numa casa de quatro quartos sem pintura com a mulher assoberbada de filhos e trabalho duro. Durante quase a metade de cada ano, a cunhada ou estava parindo, ou estava se recuperando. Nesse período, Lena fazia todo o trabalho doméstico e cuidava dos outros filhos. Um dia disse para si mesma: “Acho que foi por isso que tive um tão cedo”.
Ela nem mesmo fora à Serraria do Doane antes de seu pai e sua mãe morrerem, embora seis ou oito vezes por ano fosse à cidade nos sábados, na carroça, usando um vestido comprado por reembolso postal e com os pés descalços sobre o assoalho da
carroça e os sapatos embrulhados num pedaço de papel ao seu lado no assento. Ela calçaria os sapatos pouco antes de a carroça chegar na cidade. Depois de se tornar uma mocinha, pediria ao pai que parasse a carroça na entrada da cidade, desceria e seguiria andando. Não diria ao pai por que preferia caminhar em vez de seguir na carroça. Ele achava que era por causa das ruas planas, das calçadas. Mas era porque ela acreditava que as pessoas que a vissem ou cruzassem com ela a pé achariam que ela também morava na cidade.
Quando tinha doze anos, o pai e a mãe morreram no mesmo verão, numa casa de troncos de três quartos e uma sala, sem telas, num quarto iluminado por um lampião de querosene rodeado por um turbilhão de insetos, o assoalho nu polido como prata velha por pés descalços. Ela era a filha viva mais nova. A mãe morreu primeiro. Ela disse: “Cuide do pai”. Lena obedeceu. Um dia o pai disse: “Você vai até a Serraria do Doane com o McKinley. Prepare-se para ir, esteja pronta quando ele chegar”.
E morreu. McKinley, o irmão, chegou numa carroça. Eles sepultaram o pai num bosque atrás de uma igreja rural uma tarde, com laje tumular de pinho. Na manhã seguinte, ela partiu para sempre, mas é possível que não soubesse que isso ia acontecer na ocasião, na carroça com McKinley, a caminho da Serraria do Doane. A carroça era emprestada, e o irmão prometera devolvê-la ao anoitecer.
O irmão trabalhava na serraria. Todos os homens da vila trabalha vam na serraria ou para ela. A serraria cortava pinho. Já estava ali havia sete anos e em outros sete destruiria toda a floresta ao seu alcance. Depois, algumas máquinas e a maioria
dos homens que as operavam e viviam delas e para elas seriam colocados em vagões de carga e levados embora. Mas uma parte do maquinário seria abandonada, já que peças novas sempre poderiam ser compradas a prestação—engrenagens gastas, emperradas, petrificadas, projetando-se dos montículos de tijolo quebrado e tufos de mato com uma aparência extremamente assombrosa, e caldeiras destruídas por dentro alçando as chaminés ferrugentas e inativas com um ar teimoso, frustrado e estúpido sobre uma paisagem pustulada de tocos de silenciosa e profunda desolação, não arada, não semeada, esvaindo-se lentamente em ravinas vermelhas cunhadas debaixo das chuvas longas e mansas do outono e da fúria galopante dos equinócios primaveris. E a vila, que mesmo nos seus melhores dias não tivera o nome registrado nos anais dos Correios, agora nem sequer seria lembrada pelos herdeiros opilados, que puseram abaixo os edifícios e os queimaram em seus fogões e lareiras.
Eram talvez cinco famílias no lugar quando Lena chegou. Havia um trilho e uma estação, e uma vez por dia um trem misto passava resfolegando por ela. O trem podia ser parado com uma bandeira vermelha, mas em geral surgia das colinas devastadas de repente como uma aparição e gemendo feito uma banshee, cruzava e deixava para trás aquele menos-que-vilarejo como a conta esquecida de um colar arrebentado. O irmão era vinte anos mais velho. Ela mal se lembrava dele quando fora viver em sua companhia. Ele morava numa casa de quatro quartos sem pintura com a mulher assoberbada de filhos e trabalho duro. Durante quase a metade de cada ano, a cunhada ou estava parindo, ou estava se recuperando. Nesse período, Lena fazia todo o trabalho doméstico e cuidava dos outros filhos. Um dia disse para si mesma: “Acho que foi por isso que tive um tão cedo”.
domingo, setembro 26
A era em que podíamos cultuar o supérfluo está terminando
Durante a guerra civil em Angola, nas cidades mais atingidas pelos confrontos, conheci pessoas que dormiam com os sapatos calçados e uma pequena mochila a servir de travesseiro. Guardavam na mochila tudo o que para elas era essencial, caso tivessem de fugir de repente.
Se alguma coisa nos ensinam estes dias estranhos, perigosos e voláteis, é que chegou o momento de colocar numa mochila aquilo que considerarmos essencial. Não porque precisemos fugir — na verdade, não temos para onde fugir —, mas porque a era em que podíamos cultuar o supérfluo, o ruído e o desperdício, está terminando. Precisamos retornar ao essencial.
Se alguma coisa nos ensinam estes dias estranhos, perigosos e voláteis, é que chegou o momento de colocar numa mochila aquilo que considerarmos essencial. Não porque precisemos fugir — na verdade, não temos para onde fugir —, mas porque a era em que podíamos cultuar o supérfluo, o ruído e o desperdício, está terminando. Precisamos retornar ao essencial.
Mas o que é essencial? Para uns pode ser uma garrafa de bom vinho do Porto, para outros um livro, as fotografias da infância, um console de videogame, uns tênis de marca, ou um anel de prata. O essencial de uns é o supérfluo de outros.
Volto ao brevíssimo período em que fiz reportagem de guerra em Angola. Certa manhã, vi um velho camponês carregando um colchão à cabeça. Lembro-me de ter comentado, em tom de troça, com outro jornalista: “Eis alguém que valoriza a preguiça”. Voltei a ver o velho ao entardecer, carregando a mulher no colchão. Envergonhado, atormentado pelos remorsos, fui falar com ele. “Só o colchão me pesa”, disse-me o homem com um sorriso tímido. Pesava-lhe mais quando não a carregava. A mulher tirava peso do colchão. É que o amor não pesa — liberta-nos do peso das coisas.
Volto ao brevíssimo período em que fiz reportagem de guerra em Angola. Certa manhã, vi um velho camponês carregando um colchão à cabeça. Lembro-me de ter comentado, em tom de troça, com outro jornalista: “Eis alguém que valoriza a preguiça”. Voltei a ver o velho ao entardecer, carregando a mulher no colchão. Envergonhado, atormentado pelos remorsos, fui falar com ele. “Só o colchão me pesa”, disse-me o homem com um sorriso tímido. Pesava-lhe mais quando não a carregava. A mulher tirava peso do colchão. É que o amor não pesa — liberta-nos do peso das coisas.
Regra geral, quanto menor for uma palavra, quanto menos sílabas tiver, mais antiga ela é. E, quanto mais antiga for, mais importante, mais fundamental, tende a ser aquilo que exprime: mãe, pai, Sol, mar, sal, pão, chão, grão, amor, dor, bom, mau, fogo, cão, boi, fruta, água, paz, samba ou rabada com agrião. Certo, a rabada com agrião, a feijoada e Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski são exceções à regra.
Ou seja, o que realmente importa cabe, quase sempre, nas palavras pequenas. O que realmente importa não costuma ter muito peso, nem ocupar muito espaço. O essencial está sempre conosco, nesse pequeno volume, chamado cabeça, que carregamos ao pescoço.
Regressei esta semana à Ilha de Moçambique, onde tenho vivido alguns meses por ano, desde 2016. A Ilha, como quase todos os territórios isolados, é um bom lugar para exercitar o desapego. Quem quiser viver num lugar como este tem de de se habituar a viver com pouco. Naturalmente, uma coisa é viver bem, com menos gastos e menos desperdício, e outra é sobreviver em situação de pobreza, como acontece com uma larga parte da população africana. Não há beleza nenhuma na miséria. Por outro lado, vivendo entre gente que tem tão pouco — e ainda assim manifesta uma alegria e uma sabedoria de vida que é raro encontrar, por exemplo, entre os povos prósperos do norte da Europa —, aprende-se a valorizar o essencial. Além disso, torna-se escandalosamente óbvio algo que tendemos a esquecer enquanto permanecermos encerrados na nossa bolha de prosperidade: num planeta com recursos limitados, e em risco de colapso, o ignóbil esbanjamento de uns poucos será sempre a mesa vazia de muitíssimos.
Regressei esta semana à Ilha de Moçambique, onde tenho vivido alguns meses por ano, desde 2016. A Ilha, como quase todos os territórios isolados, é um bom lugar para exercitar o desapego. Quem quiser viver num lugar como este tem de de se habituar a viver com pouco. Naturalmente, uma coisa é viver bem, com menos gastos e menos desperdício, e outra é sobreviver em situação de pobreza, como acontece com uma larga parte da população africana. Não há beleza nenhuma na miséria. Por outro lado, vivendo entre gente que tem tão pouco — e ainda assim manifesta uma alegria e uma sabedoria de vida que é raro encontrar, por exemplo, entre os povos prósperos do norte da Europa —, aprende-se a valorizar o essencial. Além disso, torna-se escandalosamente óbvio algo que tendemos a esquecer enquanto permanecermos encerrados na nossa bolha de prosperidade: num planeta com recursos limitados, e em risco de colapso, o ignóbil esbanjamento de uns poucos será sempre a mesa vazia de muitíssimos.
sábado, setembro 25
A pedra no caminho
 |
| Giola Gandini |
Uma noite, enquanto todos dormiam, pôs uma enorme pedra na estrada que passava pelo palácio. Depois, foi esconder-se atrás de uma cerca e esperou para ver o que acontecia. Primeiro, veio um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes que ele levava para a moagem.
— Onde já se viu tamanho descuido? — disse ele contrariado, enquanto desviava a sua parelha e contornava a pedra. — Por que motivo esses preguiçosos não mandam retirar a pedra da estrada? E continuou a reclamar sobre a inutilidade dos outros, sem ao menos tocar, ele próprio, na pedra.
Logo depois surgiu a cantar um jovem soldado. A longa pluma do seu quépi ondulava na brisa, e uma espada reluzente pendia-lhe à cintura. Ele pensava na extraordinária coragem que revelaria na guerra. O soldado não viu a pedra, mas tropeçou nela e estatelou-se no chão poeirento. Ergueu-se, sacudiu a poeira da roupa, pegou na espada e enfureceu-se com os preguiçosos que insensatamente haviam deixado uma pedra enorme na estrada. Também ele se afastou então, sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar a pedra. Assim correu o dia. Todos os que por ali passavam reclamavam e resmungavam por causa da pedra colocada na estrada, mas ninguém lhe tocava. Finalmente, ao cair da noite, a filha do moleiro passou por lá. Era muito trabalhadora e estava cansada, pois desde cedo andara ocupada no moinho. Mas disse consigo própria: “Já está quase a escurecer e de noite, alguém pode tropeçar nesta pedra e ferir-se gravemente. Vou tirá-la do caminho.” E tentou arrastar dali a pedra. Era muito pesada, mas a moça empurrou, e empurrou, e puxou, e inclinou, até que conseguiu retirá-la do lugar. Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da pedra. Ergueu a caixa. Era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Havia na tampa os seguintes dizeres: “Esta caixa pertence a quem retirar a pedra.” Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. A filha do moleiro foi para casa com o coração cheio de alegria. Quando o fazendeiro e o soldado e todos os outros ouviram o que havia ocorrido, juntaram-se em torno do local onde se encontrava a pedra. Revolveram com os pés o pó da estrada, na esperança de encontrarem um pedaço de ouro.
— Meus amigos — disse o rei — com frequência encontramos obstáculos e fardos no nosso caminho. Podemos, se assim preferirmos, reclamar alto e bom som enquanto nos desviamos deles, ou podemos retirá-los e descobrir o que eles significam. A decepção é normalmente o preço da preguiça.
Então, o sábio rei montou no seu cavalo e, dando delicadamente as boas-noites, retirou-se.
William J. Bennett, "O Livro das Virtudes II"
sexta-feira, setembro 24
Quem ama, cuida
 |
| Frank Frigyes |
O que existe por aí não nos satisfaz. Sofremos com a falta de uma espinha dorsal mais firme que nos sustente, com a desmoralização generalizada que contamina velhos e jovens, com uma baixa auto-estima e descaso que, penso eu, transpareceram em nossa equipe de futebol na Copa do Mundo.
Algum remédio deve ser buscado na realidade, sem desprezar a força da imaginação e a raiz das tradições — até no trato com as crianças.
Uma duradoura influência em minha vida, meu trabalho e arte, foram os contos de fadas: antiquíssimas histórias populares revistas e divulgadas por Andersen e pelos Irmãos Grimm, para povoar e enriquecer alma de milhões de crianças — e adultos.
Esses relatos, plenos de fantasia, falam de realidades e mitos arcaicos que transcendem linguagem, raça e geografia, e nos revelam.
Nessa literatura infantil reúnem-se dois elementos que me apaixonam: o belo e o sinistro. Ela abre, através da imaginação, olhos e medos para a vida real, tecida de momentos bons e ameaças sinistras, experiências divertidas e outras dolorosas — também na infância.
Na realidade, nem sempre os fortes vencem e os frágeis são anulados: a força da inteligência de pessoas, grupos, ou povos ditos “fracos”, inúmeras vezes derrota a brutalidade dos “fortes” menos iluminados. Porém o mal existe, a perversão existe, atualmente a impunidade reina neste país nosso, confundindo critérios que antes nos orientavam. Cabe à família, à escola, e a qualquer pessoa bem intencionada, reinstaurar alguns fundamentos de vida e instaurar novos.
Não vejo isso em certa — não generalizada — tendência para uma educação imbecilizante de nossas crianças, segundo a qual só se deve aprender brincando, a escola passou a ser quase um pátio tumultuado, e a falta de respeito reproduz o que acontece tanto em casa quanto em alguns altos escalões do país.
Essa mesma corrente de pensamento quer mutilar histórias infantis arcaicas como a do Chapeuzinho Vermelho: agora o Lobo acaba amigo da Vovó… e nada de devorar a velha, nada de abrir a barriga da fera e retirá-la outra vez. Tudo numa boa, todos na mais santa paz, tudo de brincadeirinha — como não é assim a vida.
Modificam-se textos de cantigas como “Atirei o pau no gato”, transformando-a em um ridículo “Não atire o pau no gato” e outras bobajadas, porque o gato é bonzinho e nós devemos ser idem, no mais detestável politicamente correto que já vi.
O mundo não é assim. Coisas más e assustadoras acontecem, por isso nossas crianças e jovens devem ser preparados para a realidade. Não com pessimismo ou cinismo, mas com a força de um otimismo lúcido.
Medo faz parte de existir, e de pensar. Não precisa ser terror da violência doméstica, física ou verbal, ou da violência nas ruas — mas o medo natural e saudável que nos faz cautelosos, pois nem todo mundo é bonzinho, adultos e mesmo crianças podem ser maus, nem todos os líderes são modelos de dignidade. Uma dose de realismo no trato com crianças ajudará a lhes dar o necessário discernimento, habilidade para perceber o positivo e o negativo, e escolher melhor.
Temos muitos adolescentes infantilizados pelo excesso de proteção paterna ou pela sua omissão, na gravíssima crise de autoridade que nos assola; temos jovens adultos incapazes porque quase nada lhes foi exigido, nem na escola, nem em casa. Talvez tenha lhes faltado a essencial atenção e interesse dos pais, na onda de “tudo numa boa”.
Dar a volta por cima significará mudar algumas posturas e opções, exigir mais de nós mesmos e de nossos filhos, de professores e alunos, dos governos, das instituições. Ou vamos transformar as novas gerações em fracotes despreparados, vítimas fáceis das armadilhas que espreitam de todos os lados, no meio do honrado e do amoroso — que também existem e precisam se multiplicar.
Não prego desconfiança básica, mas uma perspectiva menos alienada: duendes de pesadelo aparecem em nosso cotidiano. Nem todos os amigos, vizinhos, parentes, professores ou autoridades nos amam e nos protegem. Nem todos são boas pessoas, nem todos são preparados para sua função, nem todos são saudáveis.
Para construir de forma mais positiva nossa vida, é preciso, repito, dispor da melhor das armas, que temos de conquistar sozinhos, duramente, quando não a recebemos em casa nem na escola: discernimento. Capacidade de analisar, argumentar, e escolher para nosso bem — o que nem sempre significa comodidade ou sucesso fácil.
Quem ama, cuida: de si mesmo, da família, da comunidade, do país — pode ser difícil, mas é de uma assustadora simplicidade, e não vejo outro caminho.
Lya Luft, “Em outras palavras”
Assim começa...
Eles levantaram feito homens. Eu vi. Feito homens, ficaram em pé.
A gente não devia estar nem perto daquele lugar. Como quase todas as fazendas em volta de Lotus, Geórgia, essa aí tinha uma porção de placas que assustavam. As ameaças penduradas nas cercas de alambrado com um mourão a cada quinze metros mais ou menos. Mas quando a gente viu um espaço pra rastejar que algum bicho tinha cavado — um coiote, quem sabe, ou um guaxinim —, não deu pra resistir. A gente era só criança. Naquela época, a grama batia no ombro pra ela e na cintura pra mim; então, vigiando se não tinha cobra, a gente passou rastejando de barriga. A recompensa valia a dor do sumo da grama e das nuvens de mosquitinhos nos olhos, porque bem ali na nossa frente, a uns quinze metros, eles estavam em pé feito homens. Os cascos erguidos batendo com estrondo, as crinas sacudindo por cima dos olhos brancos enlouquecidos. Eles se mordiam feito cachorros, mas quando levantavam, erguidos nas patas de trás, as da frente em volta do cangote um do outro, a gente ficava sem ar de emoção. Um era cor de ferrugem, o outro muito preto, os dois brilhando de suor. Os relinchos não assustavam tanto quanto o silêncio depois de um coice na boca do oponente. Ali perto, os potros e as éguas, indiferentes, mascavam a grama, olhavam pro outro lado. Então eles pararam. O cor de ferrugem baixou a cabeça e bateu o casco no chão, enquanto o vencedor saiu trotando num arco, empurrando as éguas na frente dele. Engatinhando pela grama, procurando o buraco cavado, evitando a fila de caminhões estacionados adiante, a gente se perdeu.
Mesmo demorando uma eternidade pra ver de novo a cerca, nenhum de nós dois entrou em pânico quando ouviu vozes, aflitas, mas falando baixo. Agarrei o braço dela e pus um dedo nos meus lábios. Sem erguer a cabeça, só espiando pela grama, nós vimos eles puxarem um corpo de um carrinho de mão e jogar dentro de um buraco que já estava esperando. Um pé ficou espetado pra fora na beirada e tremeu, como se conseguisse sair, como se com um pequeno esforço pudesse escapar da terra que jogavam por cima. Não dava pra ver a cara dos homens que enterravam o corpo, só as calças; mas a gente viu a ponta de uma pá empurrar pra baixo o pé que tremia pra se juntar com o resto. Quando ela viu aquele pé preto com a sola clara e rosada riscada de lama empurrado pra dentro do túmulo, o corpo dela inteiro começou a tremer. Abracei os ombros dela com força e tentei puxar o seu tremor pros ossos do meu corpo porque, como irmão quatro anos mais velho, achei que eu aguentava. Os homens já tinham ido embora fazia tempo e a lua era um melão quando a gente sentiu que não tinha perigo mexer a grama e continuar saindo de, procurando a parte cavada debaixo da cerca. Chegando em casa, a gente achou que ia levar uma surra ou pelo menos uma bronca por ficar fora até tão tarde, mas os adultos nem ligaram pra nós. Estavam ocupados com alguma perturbação.
Como você está querendo escrever a minha história, pense o que for pensar e escreva o que escrever, fique sabendo de uma coisa: eu esqueci mesmo o enterro. Só lembrava dos cavalos. Eram tão bonitos. Tão brutos. E em pé feito homens.
A gente não devia estar nem perto daquele lugar. Como quase todas as fazendas em volta de Lotus, Geórgia, essa aí tinha uma porção de placas que assustavam. As ameaças penduradas nas cercas de alambrado com um mourão a cada quinze metros mais ou menos. Mas quando a gente viu um espaço pra rastejar que algum bicho tinha cavado — um coiote, quem sabe, ou um guaxinim —, não deu pra resistir. A gente era só criança. Naquela época, a grama batia no ombro pra ela e na cintura pra mim; então, vigiando se não tinha cobra, a gente passou rastejando de barriga. A recompensa valia a dor do sumo da grama e das nuvens de mosquitinhos nos olhos, porque bem ali na nossa frente, a uns quinze metros, eles estavam em pé feito homens. Os cascos erguidos batendo com estrondo, as crinas sacudindo por cima dos olhos brancos enlouquecidos. Eles se mordiam feito cachorros, mas quando levantavam, erguidos nas patas de trás, as da frente em volta do cangote um do outro, a gente ficava sem ar de emoção. Um era cor de ferrugem, o outro muito preto, os dois brilhando de suor. Os relinchos não assustavam tanto quanto o silêncio depois de um coice na boca do oponente. Ali perto, os potros e as éguas, indiferentes, mascavam a grama, olhavam pro outro lado. Então eles pararam. O cor de ferrugem baixou a cabeça e bateu o casco no chão, enquanto o vencedor saiu trotando num arco, empurrando as éguas na frente dele. Engatinhando pela grama, procurando o buraco cavado, evitando a fila de caminhões estacionados adiante, a gente se perdeu.
Mesmo demorando uma eternidade pra ver de novo a cerca, nenhum de nós dois entrou em pânico quando ouviu vozes, aflitas, mas falando baixo. Agarrei o braço dela e pus um dedo nos meus lábios. Sem erguer a cabeça, só espiando pela grama, nós vimos eles puxarem um corpo de um carrinho de mão e jogar dentro de um buraco que já estava esperando. Um pé ficou espetado pra fora na beirada e tremeu, como se conseguisse sair, como se com um pequeno esforço pudesse escapar da terra que jogavam por cima. Não dava pra ver a cara dos homens que enterravam o corpo, só as calças; mas a gente viu a ponta de uma pá empurrar pra baixo o pé que tremia pra se juntar com o resto. Quando ela viu aquele pé preto com a sola clara e rosada riscada de lama empurrado pra dentro do túmulo, o corpo dela inteiro começou a tremer. Abracei os ombros dela com força e tentei puxar o seu tremor pros ossos do meu corpo porque, como irmão quatro anos mais velho, achei que eu aguentava. Os homens já tinham ido embora fazia tempo e a lua era um melão quando a gente sentiu que não tinha perigo mexer a grama e continuar saindo de, procurando a parte cavada debaixo da cerca. Chegando em casa, a gente achou que ia levar uma surra ou pelo menos uma bronca por ficar fora até tão tarde, mas os adultos nem ligaram pra nós. Estavam ocupados com alguma perturbação.
Como você está querendo escrever a minha história, pense o que for pensar e escreva o que escrever, fique sabendo de uma coisa: eu esqueci mesmo o enterro. Só lembrava dos cavalos. Eram tão bonitos. Tão brutos. E em pé feito homens.
quinta-feira, setembro 23
Bom dia, ressaca
Não é fácil, muito pelo contrário, despedir uma ressaca que se instale em seu quarto, disposta a ficar o dia todo, sobretudo quando a gente não é mais o que se chama um broto. São em geral as ressacas muito fieis e suscetíveis; para driblá-las, é preciso ser de circo e, como nos números acrobáticos, qualquer distração pode, no caso, causar a morte do artista.
A primeira providência a tomar, quando você desprega os olhos e vê que ela está realmente a seu lado, é não demonstrar o mais ligeiro sinal de surpresa, mas tratá-la com um carinho um pouco distraído:
─ Bom dia, ressaquinha.
Então respire fundo três vezes. Não prestar atenção aos vagidos dela, às suas caretas, àquele hálito de abominável melancolia. Não se considere um crápula, que é isso o que ela quer. Mantenha a cabeça imóvel a fim de não denunciar, com um gemido, a sua dor sísmica. Esqueça os seus compromissos, por mais graves que sejam (o remorso é uma das brechas por onde pode penetrar a fera), fingindo-se absolutamente livre, como se dispusesse de seu tempo à vontade. É de todo necessário que ela não desconfie que você tem na cidade um encontro com um gerente de banco.
Se ela lhe oferecer maldosamente um cigarro, aceite-o, para abandoná-lo depois de três ou quatro tragadas lentas. Olhar pela janela é sempre perigoso; isso porque pode estar fazendo um magnífico dia frio e chuvoso; mas também pode uivar lá fora um sinistro e tempestuoso sol. A visão macabra de um dia luminoso costuma esmorecer sem remédio os ressacados de mais hábil talento.
Por mais violenta que seja a sua vontade de tossir, não o faça; tal coisa poderia trazer-lhe consequências imprevisíveis, sendo compensador qualquer sacrifício no sentido de adiar esse desejo para momento mais propício.
Evite o café. Faça como se fosse dormir ainda, sem cair na leviandade de prometer que jamais porá de novo a boca em álcool. Essa capitulação, além de falsa, condiciona uma desmoralização interior que insufla forças novas à inimiga.
As ressacas não morrem de amores pela cama, existindo algumas, no entanto, extremamente espertas, que se acomodam a essa situação, podendo permanecer indeterminadamente no seu leito. Escute o que lhe digo e mande vir o jornal: contorne os cronistas da noite, mergulhe com paciência nas seções de economia, caso você goste de futebol, e nas páginas esportivas, caso você se interesse por economia. Essa atitude é capaz de desorientá-la um pouco. Sem levar a mão ao coração (e se o fizer, pelo menos não revele o seu nervosismo pela taquicardia), peça um jarro de água geladíssima e duas aspirinas. Como o gato, a ressaca teme a água. Aguarde o momento preciso. No que a ressaca bobear, arraste-se até o chuveiro, escancare a torneira de água fria, enquanto escova os dentes com um exagero de pasta e por muito tempo. O jorro da água, prenunciando o impacto frio, amolece um pouco mais a covarde. Em seguida, com o destemor digno de um almirante batavo, enfrente o chuveiro, sem importar que a água o sufoque um pouco, pois a sufocação deverá também atingi-la. Reze então três padre-nossos e três ave-marias, e comece a tossir.
Se existe mar perto de sua casa, ótimo; se não existe, paciência. Almoce, não deixe de almoçar, faça-me o favor. Se gostar de jiló, pode-se ter em conta de um homem privilegiado, pois todas as ressacas de meu conhecimento, como quase todo mundo, detestam jiló. Fígado fresco de galinha é outro alimento que elas não apreciam nada. Bebida, o ideal, por enquanto, é mate gelado. Toque na vitrola discos de Bach ou Débussy, mas somente peças para piano ou cravo, jamais sinfônicas. Uma boa ressaca é tarada por música orquestral. Fuja igualmente das arestas do rock´n´roll, das espirais do bolero e dos círculos concêntricos da valsa vienense.
Vá deitar-se no divã e ler mais um pouco, de preferência uma história boba de revista frívola. Quando a ressaca já estiver bastante aborrecida com esse tratamento, levante-se e caia na rua, cometendo no primeiro botequim a violência final, um copo de chope bem tirado, um só. E vá enfrentar o gerente.
Mas há ressacas versáteis, assim como há sujeitos indefesos. Posto o quê, não aceitaremos reclamações.
quarta-feira, setembro 22
O pássaro do seu medo
 |
| Tullia Socin |
– Não aconteceu fosse o que fosse pois não?
e não aconteceu fosse o que fosse dado que os vasos intactos, a avó que morreu há tantos anos ali viva com ele, o avô defunto há mais tempo a ler o jornal com o seu aparelho de surdo, o silêncio do avô alarmou-o fazendo com que o ouriço se lhe dilatasse nas tripas arranhando, doendo, coloco-o numa placa de granito, bato com o martelo e a doença esmagada, alguém que não distinguia empurrava-lhe a maca corredor adiante, notava a chuva, caras, letreiros, a governanta do senhor vigário no alpendre enquanto pensava
– É o meu esquife que empurram
a oferecer-lhe uvas
– Apetecem-te uvas menino?
e desapareceu logo, não se lembrar do nome da governanta do senhor vigário preocupou-o, lembrava-se do avental, dos chinelos, do riso, não se lembrava do nome e por não se lembrar do nome não iria curar-se, o avô dobrou o jornal no sofá e não o olhou sequer, quis pedir
– Não consegue fazer nada por mim?
e o mais que podia esperar era a concha da mão na orelha
– O quê?
e sobrancelhas juntas no sentido de ninguém
– Que disse ele?
de forma que o pássaro do seu medo continuava aos círculos, olha as raízes dos pés e os dedos que apertam o lençol, os pobres, aqueles que esperavam o elevador deixaram a maca entrar primeiro, fitaram-no um momento e esqueceram-se, achou impossível que não se recordassem dele, a avó punha-lhe um chapéu de palha com o elástico roto durante as vindimas, qual a razão de todos os chapéus de palha com o elástico roto e quase todas as chávenas sem um pedaço da pega, tinha seis, sete anos, descobria calhaus de mica e girava-os para a direita e para a esquerda a reflectirem a luz, não acreditava que o não notassem na varanda para a serra procurando apanhar os insectos da trepadeira com uma caixa de fósforos vazia e nunca apanhou nenhum, não estava no hospital em março, à chuva, estava em agosto na vila, se o mandavam fazer recados trocava de passeio antes de alcançar a moradia com a dona Lucrécia na cadeira de inválida ao alto dos degraus a acenar-lhe a bengala.
António Lobo Antunes, "Sôbolos Rios que Vão"
A forma da casa
A primeira coisa que se vê ao sair da curva é a casa elevada no bojo da pedra. Pode estar suspensa, pode estar encravada. Às vezes se confunde com a pedra, às vezes escapa dela e brilha. É sempre uma visão de relance, ligeira, pois imediatamente vem outra curva e a casa já ficou para trás. Não há como parar. Cada viajante faz um comentário, são várias as maneiras de perceber a casa. Dizem que parece castelo, que é um cubo, um quadrado; que deve ser quente, inacessível, que destoa da vegetação. Alguns ouvem um zumbido que viria dela, o eco de um diapasão. Uns veem janelas, a fachada de vidro, outros não veem nada. Já notaram uma torre, uma águia pousada no cume. Falaram de um jardim no teto, de uma placa solar. A casa é branca, é amarela, é laranja, é dourada. É cor de chumbo, cinza, lilás. Depende do dia, das nuvens, do ângulo do sol. Eu próprio já passei pela curva e dei de cara com a casa. Achei-a resplandecente, senti vontade de descer e abraçá-la, de me esquentar no sol que ela devolve. Por um segundo, tive vontade de ser a casa. Todo dia passam centenas de carros diante da casa, entre as curvas da estrada. Cada viajante leva na retina um reflexo de sua forma. A casa não é uma casa, é um estilhaço na memória do viajante. Seria preciso reunir todos eles para desenhá-la. Nunca serão suficientes para completá-la.
terça-feira, setembro 21
Ao correr das teclas
Às vezes me ocorrem boas ideias. Hoje, por exemplo, me veio esta: a de que o melhor que posso fazer pela literatura é não fazê-la mais.
Quando eu era um adolescente, fui um perdulário nos meus sonhos eróticos. Lembro-me de, num deles, recusar um convite de Marilyn Monroe porque estava indo para um ménage com Sophia Loren e Brigitte Bardot.
Dependendo dos lábios de quem a proclama, a meia-idade pode ser não mais que uma meia-verdade.
No romantismo vivia-se de amor para se poder morrer por ele.
Se a beleza tiver forma de mulher, são dispensáveis os adjetivos.
Sempre tive certa verve humorística. Quando, com vinte e dois anos, eu disse que seria escritor, sorriram. Ao repetir isso aos oitenta e dois, gargalharam.
Se ela não sabe que eu a amo, não saberá por quem sofro, não saberá por quem choro, não saberá por quem morro.
Se o Amor não é teu senhor, por que aceitas seu chicote, por que lhe abres tua carne, por que lambes sua mão?
Que tolos foram os tempos em que, ao vermos uma mulher, o primeiro adjetivo que nos ocorria era bela. Como se a um passarinho só pudéssemos atribuir os dons de voar e cantar.
Amante das palavras, a mais preciosa de todas ele, com medo de que a furtem, jamais deixa que lhe saia dos lábios. Receia, num descuido ou na inconfidência de um sonho, dizer essa palavra mágica, esse tesouro, esse nome de mulher.
Raul Drewnick
***
Quando eu era um adolescente, fui um perdulário nos meus sonhos eróticos. Lembro-me de, num deles, recusar um convite de Marilyn Monroe porque estava indo para um ménage com Sophia Loren e Brigitte Bardot.
***
Dependendo dos lábios de quem a proclama, a meia-idade pode ser não mais que uma meia-verdade.
***
No romantismo vivia-se de amor para se poder morrer por ele.
***
Se a beleza tiver forma de mulher, são dispensáveis os adjetivos.
***
Sempre tive certa verve humorística. Quando, com vinte e dois anos, eu disse que seria escritor, sorriram. Ao repetir isso aos oitenta e dois, gargalharam.
***
Se ela não sabe que eu a amo, não saberá por quem sofro, não saberá por quem choro, não saberá por quem morro.
***
Se o Amor não é teu senhor, por que aceitas seu chicote, por que lhe abres tua carne, por que lambes sua mão?
***
Que tolos foram os tempos em que, ao vermos uma mulher, o primeiro adjetivo que nos ocorria era bela. Como se a um passarinho só pudéssemos atribuir os dons de voar e cantar.
***
Amante das palavras, a mais preciosa de todas ele, com medo de que a furtem, jamais deixa que lhe saia dos lábios. Receia, num descuido ou na inconfidência de um sonho, dizer essa palavra mágica, esse tesouro, esse nome de mulher.
Raul Drewnick
Assim começa....
O mundo é o que é; homens que não são nada, os que se deixam tornar-se nada, nele não têm lugar.
Nazruddin, que me vendera barato a loja, achou que eu teria dificuldades ao assumir o negócio. O país, como outros na África, vivera distúrbios depois da independência. A cidade no interior, na curva do grande rio, quase deixara de existir; Nazruddin disse que eu precisaria começar do zero.
Parti da costa dirigindo meu Peugeot. Não é o tipo de viagem que se possa fazer hoje em dia na África — do litoral diretamente ao centro. No caminho, há um grande número de lugares fechados ou cheios de sangue. E, mesmo naquele tempo, quando as estradas estavam mais ou menos abertas, o trajeto me tomou mais de uma semana.
Não foram só os areais e os atoleiros, as estradas serpeantes, esburacadas e estreitas subindo pelas montanhas. Havia toda aquela negociação nos postos de fronteira, aquelas barganhas na floresta, do lado de fora de cabanas de madeira que ostentavam bandeiras estranhas. Eu tinha de convencer os homens armados a nos deixar passar — eu e o meu Peugeot —, apenas para encontrar mato e mais mato. E depois eu tinha de arengar mais ainda, e desfazer-me de mais dinheiro, e ceder mais um pouco de minha comida enlatada, para sair — com o Peugeot — dos lugares em que convencera alguém a nos deixar entrar.
Algumas dessas negociações podiam levar a metade de um dia. O encarregado do lugar pediria uma quantia ridícula — dois ou três mil dólares. Eu diria não. Ele entraria em sua cabana como se não houvesse nada mais a discutir; eu ficaria do lado de fora, porque não havia outra coisa que pudesse fazer. E aí, depois de uma hora ou duas, eu entraria na cabana, ou ele sairia dela, e fecharíamos um acordo por dois ou três dólares. Era como Nazruddin dissera, quando lhe perguntei sobre vistos e ele disse que dinheiro era melhor. “Você sempre pode entrar nesses lugares. O difícil é sair. É uma luta particular. Cada um tem de achar seu caminho.”
Conforme eu me aprofundava na África — os descampados, o deserto, a subida rochosa das montanhas, os lagos, a chuva das tardes, a lama e depois o outro lado, o lado mais úmido das montanhas, as florestas de samambaias e as florestas dos gorilas —, conforme eu me aprofundava, refletia: “Mas isto é loucura. Estou indo na direção errada. Não pode haver uma nova vida no final disto”.
Mas fui em frente. Cada dia na estrada era como uma conquista; a conquista de cada dia fazia com que fosse mais difícil voltar atrás. Eu não conseguia deixar de pensar que nos velhos tempos também fora assim, com os escravos. Eles haviam feito a mesma jornada. A pé, é claro, e na direção oposta: do interior do continente para a costa ocidental. Quanto mais eles se distanciavam do interior e de sua área tribal, mais diminuía a probabilidade de fugirem das caravanas e voltarem para casa, mais temerosos eles ficavam dos africanos estranhos que viam ao seu redor, até que finalmente, no litoral, já não causavam problema nenhum e mostravam-se positivamente ansiosos para entrar nos barcos e ser transportados para um lar seguro do outro lado do oceano. Como o escravo distante de casa, tudo o que eu queria era chegar. Quanto maiores os contratempos da viagem, mais disposição eu sentia para seguir adiante e abraçar minha nova vida.
Quando cheguei, descobri que Nazruddin não mentira. O lugar tivera problemas: a cidade na curva do rio estava em boa parte destruída. O bairro europeu próximo às quedas-d’água fora incendiado e o mato crescera entre as ruínas; era difícil distinguir o que fora jardim do que fora rua. As áreas oficiais e comerciais próximas das docas e da alfândega haviam sobrevivido, assim como certas ruas residenciais no centro. Mas não restava muito além disso. Mesmo as cités africanas só estavam habitadas nas esquinas, mostrando-se arruinadas em outros pontos, com muitas das casas baixas de concreto, pintadas de azul ou verde-pálido e semelhantes a caixotes, abandonadas e infestadas de trepadeiras tropicais que cresciam rápido e morriam rápido, formando tapeçarias marrons e verdes nas paredes.
A loja de Nazruddin ficava numa praça que abrigava um mercado. Cheirava a rato e estava repleta de fezes, mas intacta. Eu comprara o estoque de Nazruddin — mas dele não vi sinal. Também havia pago por sua freguesia — mas isso já não queria dizer nada, porque um grande número de africanos voltara para a mata, para a segurança de vilas escondidas em afluentes de difícil acesso. Depois de toda a ansiedade para chegar, não encontrei quase nada que pudesse fazer. Mas não estava sozinho. Havia outros comerciantes, outros estrangeiros; alguns haviam presenciado os distúrbios. Esperei com eles. A paz se manteve. As pessoas começaram a voltar para a cidade; os quintais da cité se encheram. As pessoas começaram a ter necessidade dos bens que podíamos fornecer. E os negócios, devagar, recomeçaram.
Assinar:
Postagens (Atom)