Kianda estava cerca de cem metros à minha frente e avançava, avançava sempre, como num palco, empurrada pela luz. Os sapatos afundavam-se na terra, vermelho-laca sobre vermelho-velho.
Ao longe dançavam palmeiras. Ainda mais ao longe erguia-se a sólida silhueta de um embondeiro. Kianda caminhava muito direita, de rosto erguido, as belas mãos, de dedos longuíssimos e finos, cruzadas sobre o peito. A luz era uma substância dourada e densa, quase líquida, à qual se colavam folhas secas, papéis velhos, a fina poeira afogueada, matéria que o vento ia erguendo nos seus
braços tortos.
O meu amor continuava a avançar de encontro à massa negra das nuvens. Lembrei-me das palavras de um famoso crítico de música, um velho inglês, um tanto excêntrico, tentando explicar o sucesso dela: “O que primeiro nos cativa é o contraste entre a fragilidade da silhueta, estranhamente angulosa, estranhamente elegante, e a altiva ferocidade do olhar. A voz poderosa e delicada. Apetece ao mesmo tempo protegê-la e espancá-la”. Kianda entrou na chuva. O leve vestido de seda, de um encarnado muito vivo, colou-se-lhe à pele, enquanto ia mudando de cor, para um tom escuro, quase roxo. O amplo decote nas costas deixava ver as duas asas azuis que Kianda tatuou numa viagem ao Japão. A mim impressionam-me sempre, por melhor que as conheça, devido ao detalhe das penas e à técnica, em trompe-l’oeil, que cria uma ilusão de relevo. As asas movendo-se ao ritmo da respiração. A furiosa cabeleira em chamas, que tantas mulheres tentam imitar, apagou-se, perdeu volume e brilho, alongando-se sobre o firme desenho dos ombros.
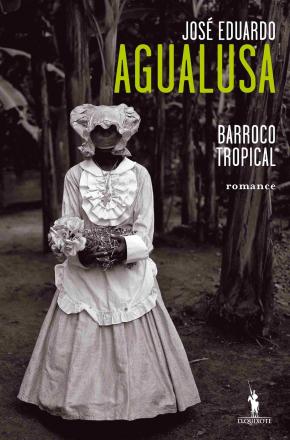
Nenhum comentário:
Postar um comentário