Estava procurando livros que o ajudassem a estudar o anglo-saxão, que se tornara sua última paixão, e tínhamos encomendado para ele o dicionário de Skeat e uma versão comentada de Battle of Maldon [A batalha de Maldon]. A mãe de Borges impacientou-se: “Oh, Georgie, não sei por que você perde tempo com o anglo-saxão, em vez de estudar algo útil como latim ou grego!”. No final, ele se virou e pediu-me vários livros. Achei alguns e anotei os outros, e então, quando estava para sair, perguntou-me se eu estava ocupado no período da noite, porque precisava (disse isso pedindo muitas desculpas) de alguém que lesse para ele, pois sua mãe agora se cansava com muita facilidade. Eu respondi que leria para ele.
Nos dois anos seguintes, li para Borges, tal como o fizeram muitos outros conhecidos afortunados e casuais, à noite ou, quando a escola permitia, pela manhã. O ritual era quase sempre o mesmo. Ignorando o elevador, eu subia pelas escadas até o apartamento (escadas semelhantes àquelas que uma vez Borges subira levando um exemplar recém-adquirido das Mil e uma noites; ele não viu uma janela aberta e fez um corte profundo que infeccionou, levando-o ao delírio e à crença de que estava ficando louco); tocava a campainha; era conduzido por uma criada, através de uma entrada acortinada, até uma pequena sala de estar onde Borges vinha ao meu encontro, a mão macia estendida. Não havia preliminares: enquanto eu me acomodava na poltrona, ele se sentava ansioso no sofá e, com uma voz levemente asmática, sugeria a leitura daquela noite. “Deveríamos escolher Kipling hoje? Hein?” E é claro que não esperava realmente uma resposta.
Naquela sala de estar, sob uma gravura de Piranesi representando ruínas romanas circulares, li Kipling, Stevenson, Henry James, vários verbetes da enciclopédia alemã Brockhaus, versos de Marino, Enrique Banchs, Heine (mas esses últimos ele sabia de cor, de forma que eu mal começava a ler e sua voz hesitante passava a recitá-los de memória; a hesitação estava apenas na cadência, não nas palavras, que lembrava corretamente). Eu não lera muitos desses autores antes, e assim o ritual era curioso. Eu descobria um texto lendo-o em voz alta, enquanto Borges usava seus ouvidos como outros leitores usam os olhos, para esquadrinhar a página em busca de uma palavra, de uma frase, de um parágrafo que confirme alguma lembrança. Enquanto eu lia, ele interrompia, fazendo comentários sobre o texto a fim de (suponho) tomar notas em sua mente. Detendo-me depois de uma linha que achou hilariante em New Arabian nights [Novas noites árabes], de Stevenson (“vestido e pintado para representar uma pessoa na penúria ligada à Imprensa” “Como pode alguém se vestir assim, hein? No que você acha que Stevenson estava pensando? Em ser impossivelmente preciso? Hein?”), passou a analisar o procedimento estilístico de definir alguém ou algo por meio de uma imagem ou categoria que, ao mesmo tempo em que parece ser exata, força o leitor a criar uma definição pessoal. Ele e seu amigo Adolfo Bioy Casares tinham brincado com essa ideia em um conto de dez palavras: "O estranho subiu as escadas no escuro: tic-toc, tic-toc, tic-toc".
Ouvindo-me ler uma história de Kipling, “Beyond the pale” [Fora dos limites], Borges interrompeu-me após uma cena em que uma viúva hindu manda uma mensagem a seu amante, feita de diferentes objetos reunidos numa trouxa. Chamou a atenção para a adequação poética disso e perguntou-se em voz alta se Kipling teria inventado aquela linguagem concreta e, não obstante, simbólica. Depois, como que consultando uma biblioteca mental, comparou-a com a “linguagem filosófica” de John Wilkins, na qual cada palavra é uma definição de si mesma. Por exemplo, Borges observou que a palavra salmão não nos diz nada sobre o objeto que representa; zana, a palavra correspondente na língua de Wilkins, baseada em categorias preestabelecidas, significa “um peixe de rio escamoso e de carne vermelha”: z para peixe, za para peixe de rio, zan para peixe de rio escamoso e zana para peixe de rio escamoso e de carne vermelha. Ler para Borges resultava sempre em um novo embaralhamento mental dos meus próprios livros; naquela noite, Kipling e Wilkins ficaram lado a lado na mesma estante imaginária.
Em outra ocasião (não lembro do que me pedira para ler), começou a compilar uma antologia improvisada de versos ruins de autores famosos, incluindo “A coruja, apesar de todas as suas penas, estava com frio”, de Keats, “Oh, minha alma profética! Meu tio!”, de Shakespeare (Borges achava a palavra “tio” não-poética, inadequada para Hamlet pronunciar — teria preferido “Irmão de meu pai!” ou “Parente de minha mãe!””), “Somos apenas as bolas de tênis das estrelas”, de Webster, em The duchess of Malfi [A duquesa de Malfi], e as últimas linhas de Milton em Paraíso reconquistado, “ele, sem ser observado,! para o lar de sua Mãe solitário voltou” — o que, pensava Borges, fazia de Cristo um cavalheiro inglês de chapéu-coco retornando para casa a fim de tomar chá com a mamãe.
Às vezes, fazia uso das leituras para seus escritos. Descobrir um tigre fantasma em “The guns of fore and aft” [Os canhões de popa a proa], de Kipling, que lemos pouco antes do Natal, levou-o a compor uma de suas últimas histórias, “Tigres azuis”; “Duas imagens em um lago”, de Giovanni Papini, inspirou o seu 24 de agosto de 1982, uma data que ainda estava no futuro; sua irritação com Lovecraft (cujas histórias me fez começar e abandonar meia dúzia de vezes) levou-a criar uma versão corrigida" de um conto de Lovecraft e a publicá-la em O informe de Brodie. Pedia-me amiúde para escrever algo na guarda do livro que estávamos lendo — uma referência a algum capítulo ou um pensamento. Não sei como fazia uso dessas anotações, mas o hábito de falar de um livro nas costas de sua capa tornou-se meu também.
Alberto Manguel, "História da leitura"
Alberto Manguel, "História da leitura"
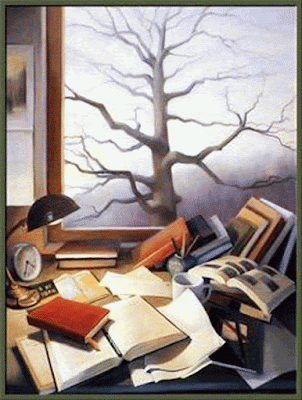
Nenhum comentário:
Postar um comentário