Pablo Neruda escreveu o surpreendente poema “Ode ao Dicionário” em que ele, como mago das palavras, se rende ao valor desse livro “que não é tumba, túmulo ou mausoléu”, mas é “preservação, fogo escondido, plantação de rubis, perpetuação viva da essência, “celeiro do idioma”.
Abro ao acaso uma das páginas do dicionário: “eufemia”, “eufonia”, “euforia”. Eu-fo-ria: que sensação de bem-estar perfeito, de alegria intensa, ao pronunciar estas sílabas devagar, sentindo minha respiração, um gosto de damasco na boca.
Os dicionários tiveram sua origem na antiga Mesopotâmia: tabletes de escrita cuneiforme informando signos, profissões, divindades, objetos. Os gregos criaram os catálogos, os lexicons. Os monges copistas da Idade Média, os glossários. Houve também o estudo sistemático dos enciclopedistas de ciências, artes e ofícios como Diderot. O advento da imprensa alavancou a difusão desses livros de informações tão práticos e úteis.
Aurélio: incrível o nome de um homem com vocação de escriba como o professor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira tornar-se sinônimo de dicionário. Quão grandes devem ter sido sua coragem, suas vigílias, as opressões sobre seu espírito, para nos oferecer esse tijolo recoberto por um jaquetão de couro preto com seu nome gravado em letras douradas. Uma mina de pedras preciosas a ser escavada.
Os escritores lutam com as palavras. Drummond escreveu que “Lutar com palavras/ é a luta mais vã./ Entanto lutamos/ Mal rompe a manhã.” No nosso direito de artistas aceitamos as explicações propostas pelo dicionário ou modificamos o sentido, ou criamos novas palavras. No esforço pelo texto, pelo poema, pelo autoconhecimento, recorrem também ao dicionário de símbolos para decifrar linguagens profundas, mergulhar nas camadas ocultas da mente, domar energias, vislumbrar o extraordinário poder das palavras que criam realidades; ao dicionário de ideias afins onde as palavras são agrupadas de acordo com a área de significado comum unindo, por exemplo, palavras como “ovo”, “começo”, “embrião”, “infância”, “feto”, “princípio”, “germe”, “gênese”, “aurora”; ao dicionário de rimas, “salvação da lavoura poética”, como declarou o próprio Drummond, pois uma rima não gera um poema, mas pode vitalizá-lo, iluminar sentidos com emoção e espanto e, aliás, a palavra “dicionário” rima com “diário”, “necessário”, “destinatário”, “devocionário”; ao dicionário etimológico, que aponta a origem, a composição, a evolução dos vocábulos como, por exemplo, “colina”, “pequeno monte ou outeiro”, deriva do francês “colline”, do italiano “collina” e, este, do latim “collina”.
Ouvi do poeta Manoel de Barros, certa vez, que muitas de suas invenções com as palavras surgiram da leitura e pesquisa em seus dicionários. Era com esse auxílio que ele criava o seu “idioleto manoelês arcaico”. Em O Guardador de Águas ele afirma que “crescem jacintos sobre palavras”; que seu personagem poético, Bernardo da Mata, conversa com Rã como quem conversa em Aramaico. Em nota explica que “o Dialeto-Rã falado por pessoas remanescentes do Mar de Xaraiés, na sua escrita, se assemelha ao Aramaico, idioma falado pelos povos que antigamente habitavam a região pantanosa entre o Tigre e o Eufrates. Sabe-se que o Aramaico e o Dialeto-Rã são línguas escorregadias e carregadas de consoantes líquidas.” Em Arranjos para Assobio, Manoel cria um “Glossário de Transnominações em que não se explicam algumas delas (nenhumas) ou menos” e vai elencando e enunciando palavras: “Cisco, s. m./ Pessoa esbarrada em raiz de parede...”; “Poesia, s. f./ ... Produto de uma pessoa inclinada a antro”; “Lesma, s. f / Semente molhada de caracol que se arrasta sobre as/ pedras deixando um caminho de gosma/escrito com o corpo.” Registro esta outra frase louca: “Poeta é um ente que lambe as palavras e depois se alucina.”
Quando em 1952, em pleno trabalho de gestação de Grande Sertão: Veredas, Rosa visitou Mato Grosso para observar a natureza e o comportamento dos boiadeiros, Manoel de Barros foi seu guia pantaneiro. Que embate formidável de mentes poderosas, dois colhedores de palavras-frutos. Manoel falou sobre isso em entrevista para a revista Bric-à-Brac: “... vi poucas notas da viagem de Rosa ao Pantanal. Quis saber, ele, ainda, de meus receios sobre as confusões com o exótico. Falei, falei demais, espichei. Dei a entender que estava olhando o Pantanal só como uma coisa exótica. Um superficial para só ver e bater chapa. Mesmo os que cantavam em prosa e verso ficavam enumerando bichos, carandás, aves, jacarés, seriemas; e que essa enumeração não transmite a essência do pantanal, porém só sua aparência... Precisamos de um escritor como você, Rosa, para frear com sua estética, com sua linguagem calibrada, os excessos de natural. Temos que enlouquecer o verbo, adoecê-lo de nós, a ponto que esse verbo possa transfigurar a natureza.”
Desse encontro, segundo artigo de Paulo Ribeiro, surgiu um livro raríssimo de Rosa intitulado Um certo vaqueiro Mariano, em que Manoel de Barros transformou-se num personagem. Rosa escreveu na abertura: “Em julho, na Nhecolândia, Pantanal do Mato Grosso, encontrei um vaqueiro que reunia em si, em qualidade e cor, quase tudo o que a literatura empresta esparso aos vaqueiros principais. Típico e não um herói, nenhum. Era tão de carne e osso, que nele não poderia empessoar-se o cediço e fácil da pequena lenda. Apenas um profissional esportista: um técnico, amoroso de sua oficina. Mas denso, presente, almado, bom condutor de sentimentos, crepitante de calor humano, governador de si mesmo; e inteligente. Essa pessoa, este homem, é o vaqueiro José Mariano da Silva, meu amigo.”
No livro Ave, Palavra, de Guimarães Rosa, destacam-se dois capítulos que falam sobre essa expedição a Mato Grosso: em “Sanga Puytã” ele descreve sua viagem a partir de Aquidauana, sul avante, rodando as etapas por onde passou a Retirada da Laguna. Cita as macaubeiras amarelas tostadas pela geada, o verde veloz dos cerrados, a serra de Amambai refletida no poente, as casas velhas e espaçadas de Nioaque. Chega a Campo Grande, onde “aportam risos do Paraguai em pares de olhos escuros”, no ritmo das polcas e das guarânias. E lá estão também a serra de Maracaju; o rio Machorra, com sua mata em galeria; os cinamomos às portas de Bela Vista; o Apa, cor de folha e a cidade fronteiriça de Pedro Juan Caballero, num “relento de eremitério e guerra”. E, finalmente, Rosa lança um derradeiro olhar para o vilarejo de Sanga Puytã, “à borda de um campo com cupins e queimadas”. Confessa o escritor amante das palavras: “Apenas a gente pensa que a viagem foi toda para recolher esse nome encarnado, molhado, coisa de nem vista flor”.
No capítulo “Uns índios (sua fala)”, Rosa refere-se aos terenos, povo meridional dos Aruaques, que ele observou em Campo Grande. Foi uma surpresa para um filólogo como ele escutá-los coloquiar entre si no seu ríspido idioma. Uma língua não guarani, não nasal, mas firme e contida. Respeitou os falantes daquela língua, como se eles representassem uma cultura antiquíssima. Anotou algumas palavras: frio: kás-as-ti; onça: sí-i-ní; peixe: khró-é. “Toda as línguas são rastros de velhos mistérios”, concluiu ele.
E por falar nisso, reputo como um tesouro o dicionário Português-Guarani, de Tertuliano Amarilha, que ganhei de meu tio Cazuza, quando o visitamos em Cuiabá. Pinço algumas palavras: nhu-verá: campo brilhante; jeroky: baile; panambi: borboleta; porã: belo; moroti: branco; ygá: canoa; pira: peixe; hovy: azul; avati: milho. Súbito, uma borboleta branca pousa como um pétala de neve na estante. Exclamo: “Panambi moroti! Porã!”, enquanto fecho o dicionário.
Ficou curioso para saber qual a palavra que eu estava mesmo procurando no dicionário? Era simplesmente “humildade”. Modéstia, submissão, pobreza, inferioridade. Vem de “húmus”, “humo”, que significa “terra”, “solo”. Não é lindo?
Raquel Naveira
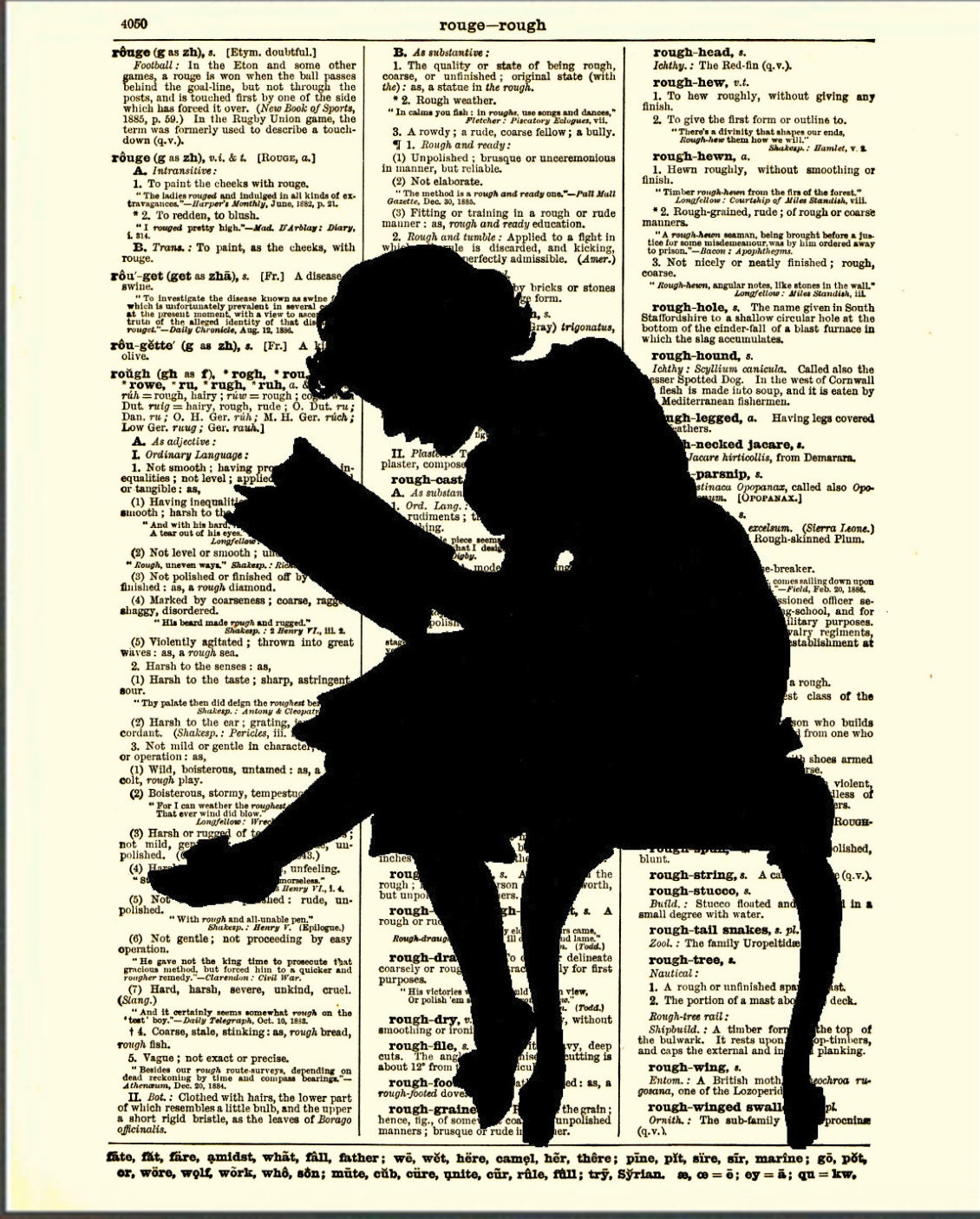
Nenhum comentário:
Postar um comentário