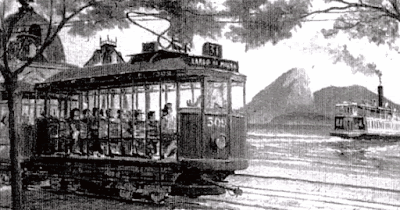Até boa parte da Idade Média, os escritores supunham que seus leitores iriam escutar, em vez de simplesmente ver o texto, tal como eles pronunciavam em voz alta as palavras à medida que as compunham. Uma vez que, em termos comparativos, poucas pessoas sabiam ler, as leituras públicas eram comuns e os textos medievais repetidamente apelavam à audiência para que “prestasse ouvidos” à história. Talvez um eco ancestral dessas práticas de leitura persista em algumas de nossas expressões idiomáticas, como quando dizemos I've heard from So-and so [Ouvi por aí] (significando “recebi uma carta”), ou “fulano disse” (significando “fulano escreveu”), ou “este texto não soa bem” (significando “não está bem escrito”).
Se os livros eram principalmente lidos em voz alta, as letras que os compunham não precisavam ser separadas em unidades fonéticas; bastava amarrá-las juntas em frases contínuas. A direção em que os olhos deveriam seguir esses carretéis de letras variava de lugar para lugar e de época para época; o modo como atualmente lemos um texto no mundo ocidental – da esquerda para a direita e de cima para baixo – não é de forma alguma universal. Alguns escritos eram lidos da direita para a esquerda (hebreu e árabe), outros em colunas, de cima para baixo) (chinês e japonês); uns poucos eram lidos em pares de colunas verticais (maia); alguns tinham linhas alternadas lidas em direções opostas, de um lado para o outro – método chamado boustrophedon, como “um boi dá voltas para arar”, na Grécia antiga. Outros ainda serpenteavam pela página, como um jogo de trilha, sendo a direção indicada por linhas ou pontos (asteca).
A antiga escrita em rolos – que não separava palavras, não distinguia maiúsculas e minúsculas nem usava pontuação – servia aos objetivos de alguém acostumado a ler em voz alta, alguém que permitiria ao ouvido desembaralhar o que ao olho parecia uma linha contínua de signos. Tão importante era essa continuidade que atenienses supostamente ergueram uma estátua em homenagem a um certo Filácio, que inventara uma cola para unir folhas de pergaminho ou papiro. Contudo, até mesmo o rolo contínuo, embora tornasse mais fácil a tarefa do leitor, não ajudava muito na separação dos agrupamentos de sentido. A pontuação, tradicionalmente atribuída a Aristófanes de Bizâncio (cerca de 200 a.C.) e desenvolvida por outros eruditos da biblioteca de Alexandria, era, na melhor das hipóteses, errática. Agostinho, tal como Cícero antes dele, com certeza tinham de ensaiar um texto antes de lê-lo em voz alta, uma vez que a leitura à primeira vista era uma habilidade incomum naquela época e levava amiúde a erros de interpretação. Sérvio, o gramático do século IV, criticou seu colega Donato por ler, na Eneida de Virgílio, as palavras col ectam ex Ilio pubem (“um povo reunido de Tróia”), em vez de col ectam exilio pubem (“um povo reunido para o exílio”). Erros como esse eram comuns na leitura de um texto contínuo.
As Epístolas de Paulo, quando lidas por Agostinho, não eram um rolo, mas um códice, um papiro encadernado e manuscrito em escrita contínua, na nova letra uncial ou semi-uncial que aparecera nos documentos romanos nos últimos anos do século III. O códice foi uma invenção pagã. Segundo Suetônio, Júlio César foi o primeiro a dobrar um rolo em páginas, para despachos a suas tropas. Os cristãos primitivos adotaram o códice porque descobriram que era muito prático para carregar escondidos em suas vestes, textos que estavam proibidos pelas autoridades romanas. As páginas podiam ser numeradas, permitindo ao leitor acesso fácil às seções, e textos separados, como as Epístolas, podiam ser facilmente encadernados em um pacote conveniente.
A separação das letras em palavras e frases desenvolveu-se muito gradualmente. Para a maioria das primeiras escritas – hieróglifos egípcios, caracteres cuneiformes sumérios, sânscrito – essas divisões não tinham utilidade. Os escribas antigos estavam tão familiarizados com as convenções de sua arte que aparentemente precisavam muito pouco de auxílios visuais, e os primeiros monges cristãos amiúde sabiam de cor os textos que transcreviam. A fim de ajudar os que tinham pouca habilidade para ler os monges do scriptorium dos conventos usavam um método de escrita conhecido como per cola et commata, no qual o texto era dividido em linhas de significado – uma forma primitiva de pontuação que ajudava o leitor inseguro a baixar ou elevar a voz no final de um bloco de pensamento. (Esse formato ajudava também os estudiosos a encontrar mais facilmente algum trecho que estivessem buscando). Foi são Jerônimo que, no final do século IV, tendo descoberto esse método em cópias de Demóstenes e Cícero, descreveu-o pela primeira vez no prólogo a sua tradução do Livro de Ezequiel, explicando que “o que está escrito per cola et commata transmite um significado mais óbvio aos leitores”.
A pontuação continuava precária, mas esses dispositivos primitivos ajudaram indiscutivelmente no progresso da leitura silenciosa. No final do século VI, santo Isaac da Síria pôde descrever os benefícios do método: “Eu exercito o silêncio, que os versos de minhas leituras e orações encham-me de deleite. E quando o prazer de compreendê-los Silencia minha língua, então, como num sonho, entro num estado em que meus sentidos e pensamentos ficam concentrados. Quando então, com o prolongamento desse silêncio, o tumulto das lembranças acalma-se em meu coração, ondas incessantes de satisfação são-me enviadas por pensamentos interiores, superando expectativas, elevando-se subitamente, para deleitar meu coração”. E na metade do século VII, o teólogo Isidoro de Sevilha estava familiarizado com a leitura silenciosa a ponto de poder elogiá-la como um método para “ler sem esforço, refletindo sobre o que foi lido, tornando sua fuga da memória mais difícil”. Tal como Agostinho, Isidoro acreditava que a leitura possibilitava uma conversação que atravessava o tempo e o espaço, mas com uma distinção importante: “As letras têm o poder de nos transmitir silenciosamente os ditos daqueles que estão ausentes”, escreveu ele e suas Etimologias. As letras de Isidoro não precisavam de sons.
Os avatares da pontuação continuaram. Depois do século VII, uma combinação de pontos e traços indicava uma parada plena, um ponto elevado ou alto equivalia a nossa vírgula, e o ponto-e-vírgula era usado como o utilizamos atualmente. No século IX, é provável que a leitura silenciosa fosse suficientemente comum no scriptorium para que os escribas começassem a separar cada palavra de suas vizinhas com vistas a simplificar a leitura de um texto – mas talvez também por motivos estéticos. Mais ou menos na mesma época, os escribas irlandeses, famosos em todo o mundo cristão por sua habilidade, começaram a isolar não somente partes do discurso, mas também os constituintes gramaticais dentro de uma frase, e introduziram muitos dos sinais de pontuação que usamos hoje? No século X, para facilitar ainda mais a tarefa do leitor silencioso, as primeiras linhas das seções principais de um texto (os livros da Bíblia, por exemplo) eram comumente escritas com tinta vermelha, assim como as rubricas (“vermelho”, em latim), explicações independentes do texto propriamente dito. A prática antiga de começar um novo parágrafo com um traço divisório (paragraphos, em grego) ou cunha (diple) continuou; mais tarde, a primeira letra do novo parágrafo passou a ser escrita um pouco maior ou em maiúscula.
Os primeiros regulamentos exigindo que os escribas ficassem em silêncio nos scriptoriums dos conventos datam do século IX. Até então, haviam trabalhado com ditados ou lendo para si mesmos, em voz alta, o texto que estavam copiando. Às vezes o próprio autor ou um “editor” ditava o livro. Um escriba anônimo, concluindo uma cópia no século VIII, escreveu: “Ninguém pode saber que esforços são exigidos. Três dedos escrevem, dois olhos veem. Uma língua fala, o corpo inteiro labuta”. Uma língua fala enquanto o copista trabalha, enunciando as palavras que está transcrevendo.
Depois que a leitura silenciosa tornou-se norma no scriptorium, a comunicação entre os escribas passou a ser feita por sinais: se queria um novo livro para copiar, o escriba virava páginas imaginárias; se precisava especificamente de um Livro dos Salmos, colocava as mãos sobre a cabeça, em forma de coroa (referência ao rei Davi); um lecionário era indicado enxugando-se a cera imaginária de velas; um missal, pelo sinal-da-cruz; uma obra pagã, pelo gesto de coçar-se como um cachorro.
A leitura em voz alta com outra pessoa na sala implicava compartilhar a Leitura, deliberadamente ou não. A leitura de Ambrósio havia sido um ato solitário. “Talvez ele tivesse medo de que, se lesse em voz alta, algum trecho difícil do autor que estivesse Lendo poderia suscitar uma indagação na mente de um ouvinte atento, e ele teria então de explicar o significado da passagem ou mesmo discutir sobre alguns dos pontos mais abstrusos”, especulou Agostinho. Mas, com a leitura silenciosa, o leitor podia ao menos estabelecer uma relação sem restrições com o livro e as palavras. As palavras não precisavam mais ocupar o tempo exigido para pronunciá-las. Podiam existir em um espaço interior, passando rapidamente ou apenas se insinuando plenamente decifradas ou ditas pela metade, enquanto os pensamentos do leitor as inspecionavam à vontade, retirando novas noções delas, permitindo comparações de memória com outros livros deixados abertos para consulta simultânea. O leitor tinha tempo para considerar e reconsiderar as preciosas palavras cujos sons – ele sabia agora – podiam ecoar tanto dentro como fora. E o próprio texto, protegido de estranhos por suas capas, tornava-se posse do Leitor, conhecimento íntimo do leitor, fosse na azáfama do scriptorium, no mercado ou em casa.
Alguns dogmatistas ficaram desconfiados da nova moda; em suas mentes, a leitura silenciosa abria espaço para sonhar acordado, para o perigo da preguiça – o pecado da ociosidade, “a epidemia que grassa ao meio-dia”. Mas a leitura em silêncio trouxe com ela outro perigo que os padres cristãos não tinham previsto.
Um livro que pode ser lido em particular e sobre o qual se pode refletir enquanto os olhos revelam o sentido das palavras não está mais sujeito às orientações ou esclarecimentos, à censura ou condenação imediatas de um ouvinte. A leitura silenciosa permite a comunicação sem testemunhas entre o livro e o Leitor e o singular “refrescamento da mente”, na feliz expressão de Agostinho.
Até o momento em que a leitura em silêncio tornou-se a norma no mundo cristão, as heresias tinham se restringido a indivíduos ou pequenos números de congregações dissidentes. Os cristãos primitivos preocupavam-se tanto em condenar os incréus (pagãos, judeus, maniqueus e, após o século VII, muçulmanos) quanto em estabelecer um dogma comum. Os argumentos dissidentes da crença ortodoxa eram veementemente rejeitados ou cautelosamente incorporados pelas autoridades da Igreja, mas porque não tinham muitos adeptos, essas heresias eram tratadas com leniência. O catálogo dessas vozes heréticas inclui várias fantasias notáveis: no século II, os montanistas reivindicavam (já então) que estavam voltando às práticas e crenças da Igreja primitiva e que tinham testemunhado a segunda vinda de Cristo na forma de uma mulher; na segunda metade daquele século, os monarquianistas concluíram, a partir da definição da Trindade, que fora Deus Pai quem sofrera na cruz; os pelagianos, contemporâneos de Agostinho e Ambrósio, rejeitavam a noção de pecado original; os apolinaristas declararam, nos últimos anos do século IV, que o Verbo, e não uma alma humana, estava unido à carne de Cristo na Encarnação; no século IV, os arianos fizeram objeção ao uso da palavra homoousios (da mesma substância) para descrever de que era feito o Filho e (para citar um jogo de palavras da época) “convulsionaram a igreja com um ditongo”; no século v, os nestorianos opuseram-se aos antigos apolinarístas e insistiram que Cristo era dois seres, um deus e também um homem; os eutiquianistas, contemporâneos dos nestorianos, negavam que Cristo tivesse sofrido como todos os homens sofrem.
Embora a igreja tivesse instituído a pena de morte para heresia já em 382, o primeiro caso de condenação de um herege à fogueira só ocorreu em 1022, em Orléans. Naquela ocasião, a Igreja condenou um grupo de cônegos e nobres laicos que, acreditando que uma instrução verdadeira só poderia vir diretamente da luz do Espírito Santo, rejeitavam as Escrituras como fabricações que os homens escreveram em peles de animais. Leitores independentes como esses eram obviamente perigosos. A interpretação da heresia como ofensa civil passível de ser punida com a morte só ganhou base legal em 1231, quando o imperador Frederico II assim decretou nas Constituições de Melfi, mas, no século XII, a Igreja já estava condenando entusiasticamente grandes e agressivos movimentos heréticos que defendiam não uma retirada ascética do mundo (como dissidentes anteriores haviam proposto), mas a contestação da autoridade corrupta e do clero abusivo, bem como o acerto de contas individual com a Divindade. Os movimentos espalharam-se por trilhas tortuosas e cristalizaram-se no século XVI.
Em 31 de outubro de 1517, um monge que, por meio do estudo individual das Escrituras, chegara à crença de que a graça divina de Deus suplantava os méritos da fé adquirida, pregou na porta da igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, 95 teses contra a prática das indulgências – a venda da remissão das punições temporais por pecados condenados – e outros abusos eclesiásticos. Com esse ato, Martinho Lutero tornou-se um fora-da-lei aos olhos do império e um apóstata aos do papa. Em 1529, o sacro imperador romano Carlos V rescindiu os direitos concedidos aos seguidores de Lutero, e catorze cidades livres da Alemanha, junto com seis príncipes luteranos, redigiram um protesto para ser lido contra a decisão imperial. “Em questões que concernem à honra de Deus, à salvação e à vida eterna de nossas almas, cada um deve se apresentar e prestar contas diante de Deus por si mesmo”, afirmavam os protestadores ou, como ficaram conhecidos mais tarde, os protestantes. Dez anos antes, o teólogo romano Silvester Prierias afirmara que o livro sobre o qual estava fundada a Igreja precisava permanecer um mistério, interpretado apenas pela autoridade e poder do papa. Os heréticos, por outro lado, sustentaram que as pessoas tinham o direito de ler a palavra de Deus por si mesmas, sem testemunha ou intermediário.
Séculos depois, do outro lado de um oceano que para Agostinho talvez fosse o limite da terra, Ralph Waldo Emerson, que devia sua fé àqueles antigos protestadores, aproveitou-se da arte que tanto surpreendera o santo. Na igreja, durante os longos e frequentemente tediosos sermões a que comparecia devido a seu senso de responsabilidade social, lia em silêncio as Pensées de Pascal. E à noite, em seu quarto frio em Concord, "com cobertores até o queixo, lia os Diálogos de Platão. (“Ele associava Platão, mesmo mais tarde, com o cheiro de lã”, observou um historiador.)
Embora achasse que havia livros demais para ler, e que os leitores deviam compartilhar suas descobertas contando uns aos outros o ponto essencial de seus estudos, Emerson acreditava que ler um livro era um assunto privado e solitário. “Todos esses livros”, escreveu ele, fazendo uma lista de textos “sagrados” que incluía os Upanixades e as Pensées, “são a expressão majestosa da consciência universal e servem mais aos nossos propósitos diários do que o almanaque do ano ou o jornal de hoje. Mas eles são para o gabinete e devem ser lidos sobre os joelhos dobrados. Suas comunicações não devem ser dadas ou tomadas com os lábios e a ponta da língua, mas com o fulgor da face e o coração palpitante.” Em silêncio.***
Observando a leitura de santo Ambrósio naquela tarde de 384, Agostinho dificilmente poderia saber o que estava diante dele. Pensou estar vendo um leitor tentando evitar visitantes intrusos, economizando a voz para o ensino. Na verdade, ele estava vendo uma multidão de leitores silenciosos que ao longo dos séculos seguintes iria incluir Lutero, Calvino, Emerson e nós, que o lemos hoje.Alberto Manguel, "Historia da leitura"