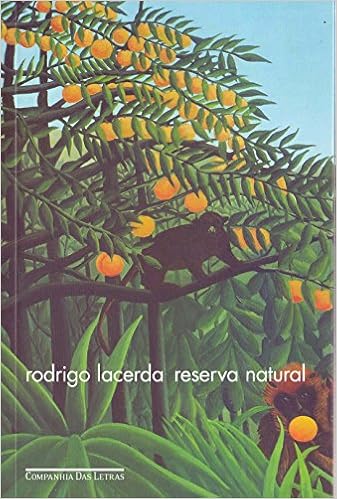segunda-feira, abril 30
O bom livro
A vida que se leva
Uma das muitas – tantas, várias, quase intermináveis – dificuldades da saga de quem tenta escrever uma tese de doutorado (ou uma dissertação de mestrado, ou uma monografia de pós, ou um TCC, ou um pós-doc, ou uma livre-docência, ou qualquer outra coisa que exija foco, pesquisa e concentração) é encontrar uma boa biblioteca. Não apenas por causa dos livros, mas por causa de tudo.
É muito longe? Tem tomada perto da mesa? Pode entrar com a mochila? Fica muito lotada? Pode entrar com garrafinha de água? É muito abafada? É muito gelada? Tem adolescentes que vão estudar juntos e ficam dando gargalhadas? Tem lugar para almoçar? Tem Wi-Fi? Tem cadeira acolchoada para aguentar 12 horas sentada? Realmente não é uma tarefa fácil.
Em meio a essa sedenta busca, fui, então, pela primeira vez, pesquisar e escrever em uma biblioteca municipal perto da minha casa, aqui em Lisboa. Caminhei uns 20 minutos pela manhã fria, até chegar ao Campo Pequeno, carregando nos ombros uma mochila preta cheia de livros, computador, carregador, marmita, garrafa de água, óculos, nécessaire e tudo mais que me faria apanhar de qualquer ortopedista, fisiatra ou fisioterapeuta, com toda razão.
Ao chegar, fiquei absolutamente maravilhada. A biblioteca, instalada num antigo palácio cheio de afrescos, era quentinha, confortável e tinha inúmeras obras interessantes para a tese. Não tinha grupos de adolescentes barulhentos, era permitido entrar com a mochila, tinha tomada em todas as mesas e, de quebra, ainda havia uma linda varanda ensolarada onde se podia almoçar.
É muito longe? Tem tomada perto da mesa? Pode entrar com a mochila? Fica muito lotada? Pode entrar com garrafinha de água? É muito abafada? É muito gelada? Tem adolescentes que vão estudar juntos e ficam dando gargalhadas? Tem lugar para almoçar? Tem Wi-Fi? Tem cadeira acolchoada para aguentar 12 horas sentada? Realmente não é uma tarefa fácil.
Em meio a essa sedenta busca, fui, então, pela primeira vez, pesquisar e escrever em uma biblioteca municipal perto da minha casa, aqui em Lisboa. Caminhei uns 20 minutos pela manhã fria, até chegar ao Campo Pequeno, carregando nos ombros uma mochila preta cheia de livros, computador, carregador, marmita, garrafa de água, óculos, nécessaire e tudo mais que me faria apanhar de qualquer ortopedista, fisiatra ou fisioterapeuta, com toda razão.
Ao chegar, fiquei absolutamente maravilhada. A biblioteca, instalada num antigo palácio cheio de afrescos, era quentinha, confortável e tinha inúmeras obras interessantes para a tese. Não tinha grupos de adolescentes barulhentos, era permitido entrar com a mochila, tinha tomada em todas as mesas e, de quebra, ainda havia uma linda varanda ensolarada onde se podia almoçar.
Estava verdadeiramente radiante com minha nova descoberta, acomodada na minha mesa, rodeada de livros gorduchos, novos e antigos, em português, inglês, francês, espanhol, uma maravilha. Tudo corria lindamente. Até que – pausa dramática, música de filme de suspense – começou a entrar na sala uma excursão de escola com cerca de 50 crianças na casa dos seus 6 anos. Fiquei paralisada. Não sabia o que sentir acerca daquela situação. A alma cinzenta e rabugenta que existe dentro de todos nós ameaçou gritar dentro do meu peito “Vo. Cê. Tá. De. Sa. Ca. Na. Gem. Co. Mi. Go”.
Mas assim que baixei o livro do Stiglitz, dei de cara com o primeiro menino da fila, ao lado da professora. Uma belezinha banguela, de óculos de grau azuis e bem descabelado, como quem acordou na última meia hora e ainda não entendeu nada. Ainda que eu não estivesse com a expressão mais amigável do mundo, o menino sorriu para mim na hora. Eu, desarmada, sorri de volta e dei um tchauzinho.
Nisso, o menino que estava atrás dele – gordinho e igualmente sem o dente da frente – também me deu tchau. E eu devolvi. E assim eu fui fazendo até o final da fila. Todos – meninos, meninas, brancos, negros, asiáticos, tímidos, desinibidos, curiosos – sorriram, devolveram o tchau e olharam para os meus livros quase infinitos, empilhados na mesa.
A excursão escolar não demorou nem 10 minutos para sair da sala na qual eu estava. Voltei para o Stiglitz e percebi que meu astral era outro, abastecido por pelo menos uns 48 sorrisos banguelas. Podia ter mantido a cara amarrada, considerado que perdi 10 sagrados minutos de trabalho com aquelas crianças que me atrapalharam o raciocínio. Ou podia beber a energia daqueles pequenos sorridentes naqueles 10 sagrados minutos da presença deles.
E, no fundo, acho que eles foram embora pensando que é possível ser feliz dentro de uma biblioteca. Não acharam que aquele é um lugar amargo, que deixa todo mundo mal-humorado, aborrecido e de cara feia. Talvez meu sorriso também tenha valido alguma coisa para eles.
De fato, tem muita coisa na vida que está fora do nosso controle. Mas a verdade é que a gente tem essa grande e preciosa liberdade de poder decidir se vamos viver de um jeito ou de outro.
Mas assim que baixei o livro do Stiglitz, dei de cara com o primeiro menino da fila, ao lado da professora. Uma belezinha banguela, de óculos de grau azuis e bem descabelado, como quem acordou na última meia hora e ainda não entendeu nada. Ainda que eu não estivesse com a expressão mais amigável do mundo, o menino sorriu para mim na hora. Eu, desarmada, sorri de volta e dei um tchauzinho.
Nisso, o menino que estava atrás dele – gordinho e igualmente sem o dente da frente – também me deu tchau. E eu devolvi. E assim eu fui fazendo até o final da fila. Todos – meninos, meninas, brancos, negros, asiáticos, tímidos, desinibidos, curiosos – sorriram, devolveram o tchau e olharam para os meus livros quase infinitos, empilhados na mesa.
A excursão escolar não demorou nem 10 minutos para sair da sala na qual eu estava. Voltei para o Stiglitz e percebi que meu astral era outro, abastecido por pelo menos uns 48 sorrisos banguelas. Podia ter mantido a cara amarrada, considerado que perdi 10 sagrados minutos de trabalho com aquelas crianças que me atrapalharam o raciocínio. Ou podia beber a energia daqueles pequenos sorridentes naqueles 10 sagrados minutos da presença deles.
E, no fundo, acho que eles foram embora pensando que é possível ser feliz dentro de uma biblioteca. Não acharam que aquele é um lugar amargo, que deixa todo mundo mal-humorado, aborrecido e de cara feia. Talvez meu sorriso também tenha valido alguma coisa para eles.
De fato, tem muita coisa na vida que está fora do nosso controle. Mas a verdade é que a gente tem essa grande e preciosa liberdade de poder decidir se vamos viver de um jeito ou de outro.
domingo, abril 29
Meu ideal seria escrever...
Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse -- "ai meu Deus, que história mais engraçada!". E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história; e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria -- "mas essa história é mesmo muito engraçada!".
Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais; e que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos.
Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera a minha história chegasse -- e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria; que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aqueles pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse -- "por favor, se comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém!" . E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história.
E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras, e fosse atribuída a um persa, na Nigéria, a um australiano, em Dublin, a um japonês, em Chicago -- mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente; e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: "Nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida; valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la; essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem, foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto; sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento; é divina".
E quando todos me perguntassem -- "mas de onde é que você tirou essa história?" -- eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que por sinal começara a contar assim: "Ontem ouvi um sujeito contar uma história...".
E eu esconderia completamente a humilde verdade: que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro.
Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera a minha história chegasse -- e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria; que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aqueles pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse -- "por favor, se comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém!" . E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história.
E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras, e fosse atribuída a um persa, na Nigéria, a um australiano, em Dublin, a um japonês, em Chicago -- mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente; e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: "Nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida; valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la; essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem, foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto; sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento; é divina".
E quando todos me perguntassem -- "mas de onde é que você tirou essa história?" -- eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que por sinal começara a contar assim: "Ontem ouvi um sujeito contar uma história...".
E eu esconderia completamente a humilde verdade: que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro.
Rubem Braga
Assim começa o livro...

O conselheiro Vale morreu às sete horas da noite de 25 de abril de 1850. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sesta — segundo costumava dizer —, e quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador, seu amigo. O Dr. Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência; o padre Melchior não pôde dar-lhe as consolações da religião: a morte fora instantânea.
No dia seguinte fez-se o enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores do Andaraí. Cerca de duzentas pessoas acompanharam o finado até à morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. O conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade, pelas relações adquiridas, cabedais, educação e tradições de família. Seu pai fora magistrado no tempo colonial, e figura de certa influência na corte do último vice-rei.3 Pelo lado materno descendia de uma das mais distintas famílias paulistas. Ele próprio exercera dous empregos, havendo-se com habilidade e decoro, do que lhe adveio a carta de conselho e a estima dos homens públicos. Sem embargo do ardor político do tempo, não estava ligado a nenhum dos dous partidos,4 conservando em ambos preciosas amizades, que ali se acharam na ocasião de o dar à sepultura. Tinha, entretanto, tais ou quais ideias políticas, colhidas nas fronteiras conservadoras e liberais, justamente no ponto em que os dous domínios podem confundir-se. Se nenhuma saudade partidária lhe deitou a última pá de terra, matrona houve, e não só uma, que viu ir a enterrar com ele a melhor página da sua mocidade.
A família do conselheiro compunha-se de duas pessoas: um filho, o Dr. Estácio, e uma irmã, D. Úrsula. Contava esta cinquenta e poucos anos; era solteira; vivera sempre com o irmão, cuja casa dirigia desde o falecimento da cunhada. Estácio tinha vinte e sete anos, e era formado em matemáticas. O conselheiro tentara encarreirá-lo na política, depois na diplomacia; mas nenhum desses projetos teve começo de execução.
sábado, abril 28
O sentido do livro impresso
“Que no futuro haja uma literatura cibernética me parece uma hipótese melancólica. O livro é necessário. É conveniente não ver a literatura como um jogo combinatório. Convém pensar que todo texto tem que estar respaldado pela emoção, caso contrário não tem nenhum valor… Alguém quando abre um livro e o lê com amor e generosidade, então ressuscita Heráclito, Quevedo e Emerson também…Uma biblioteca é como um gabinete mágico que está cheio de espíritos que dorme nos livros…”
Belo conselho de Jorge Luis Borges em seu pequeno ensaio Os escritores e as Palavras, no livro Textos Recobrados (1956-1986) da editora Emecê.
Acredito que não sou exceção, mas ouço de vários escritores e amigos o prazer que se tem de manter comprando livros impressos. As cores, o cheiro, a textura do papel, as anotações feitas no próprio texto, o carinho e o cuidado em tê-los, guardá-los, classificá-los, e vê-los na biblioteca como uma população maravilhosa em estado de disponibilidade.
Quando se abre um livro, acontece um encontro mágico com o autor, com a relação que se estabelece, emocionalmente. É uma conversa, um diálogo, na palma das minhas mãos, carregando comigo tocando meu corpo, olhando e me fascinando com a estética de toda sua diagramação, como um ato artístico e não como letras virtuais na tela insensível de um aparelho eletrônico.
Os autores não estão mortos, os autores estão em “estado de dicionário”, como poetou Carlos Drummond. Estão vivos no momento que abro as folhas, que converso através do papel mágico que emite sensações, emoções, sentimentos e que se que somos dois – uma parceria afetiva.
Um livro impresso, quando se está lendo, é como um corpo de mulher sendo acariciado, apalpado, adentrando em suas entranhas e sentindo o cheiro e o perfume.
Quando estou a olhar minha biblioteca, às vezes entro num estado de transe e prazer amoroso e estético de ter todos aqueles com que converso e aprendo junto a mim. Livro não se empresta, um livro não se manda por email, livro ou se o tem consigo ou é um objeto morto, esquizofrenizado, onde a tecnologia perde o contato com a afetividade e a estética. Estética no sentido de sentir a experiência onde se apreende o clima emocional da dupla.
Um livro é como uma rosa que afago suas pétalas e cuido. O livro impresso é uma comunhão amorosa com seu autor e o sentimento que estamos conversando pele a pele.
Carlos de Almeida Vieira
Belo conselho de Jorge Luis Borges em seu pequeno ensaio Os escritores e as Palavras, no livro Textos Recobrados (1956-1986) da editora Emecê.
 |
| Blanche Augustine Camus |
Quando se abre um livro, acontece um encontro mágico com o autor, com a relação que se estabelece, emocionalmente. É uma conversa, um diálogo, na palma das minhas mãos, carregando comigo tocando meu corpo, olhando e me fascinando com a estética de toda sua diagramação, como um ato artístico e não como letras virtuais na tela insensível de um aparelho eletrônico.
Os autores não estão mortos, os autores estão em “estado de dicionário”, como poetou Carlos Drummond. Estão vivos no momento que abro as folhas, que converso através do papel mágico que emite sensações, emoções, sentimentos e que se que somos dois – uma parceria afetiva.
Um livro impresso, quando se está lendo, é como um corpo de mulher sendo acariciado, apalpado, adentrando em suas entranhas e sentindo o cheiro e o perfume.
Quando estou a olhar minha biblioteca, às vezes entro num estado de transe e prazer amoroso e estético de ter todos aqueles com que converso e aprendo junto a mim. Livro não se empresta, um livro não se manda por email, livro ou se o tem consigo ou é um objeto morto, esquizofrenizado, onde a tecnologia perde o contato com a afetividade e a estética. Estética no sentido de sentir a experiência onde se apreende o clima emocional da dupla.
Um livro é como uma rosa que afago suas pétalas e cuido. O livro impresso é uma comunhão amorosa com seu autor e o sentimento que estamos conversando pele a pele.
Carlos de Almeida Vieira
sexta-feira, abril 27
Maior livraria flutuante do mundo atraca na América Latina
A outra meta do navio, que pertence à GBA Ships, organização sem fins lucrativos registrada na Alemanha, é continuar fornecendo "conhecimento, ajuda e esperança" em cada local que visita.
Porque, além do conhecimento que disponibiliza através dos livros, a embarcação conta com sua própria sala de concertos, um centro de conferências e inclusive seu próprio teatro, serviços que oferece às comunidades às quais chega.
"Durante quatro meses estaremos visitando quatro portos do México. Depois de Veracruz (no estado homônimo) iremos a Tampico (Tamaulipas), depois a Coatzacoalcos (novamente Veracruz) e finalmente a Progreso (Yucatán)", explicou Pavel Martínez, oficial de relações midiáticas do navio, à Agência Efe.
"Posteriormente, desceremos à América Central, começando pelo Panamá. A ideia é dar a volta na América Latina para levar ajuda", acrescentou Martínez.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/x/a/rrKOHCSOAPsRs4f9LXQA/logoshope2.jpg) |
| Navio tem maior livraria flutuante do mundo |
"Doamos livros para escolas, orfanatos inclusive para prisões. Também participamos de trabalhos de construção e reconstrução de obras públicas como escolas, hospitais e centros esportivos, e fazemos doações de filtros de água, lentes para pessoas da terceira idade e ajuda médica. A ideia é beneficiar pessoas que não podem nos visitar", destacou.
"E embora não possamos mudar todo o mundo com este tipo de ações, para alguns mudamos tudo e isso é o que nos dá satisfação: saber que pelo menos para algumas pessoas podemos fazer a diferença", declarou Martínez.
O navio, de 132 metros de comprimento, conta com 400 voluntários de 65 nações, que põem à disposição do público mais de cinco mil títulos.
Para muitos dos visitantes, o "Logos Hope" é a primeira oportunidade que têm de comprar literatura de boa qualidade a custos "muito abaixo" dos que encontrariam em uma livraria "normal".
"Foi uma experiência incrível. Eu vinha para ficar um ano, mas já não me deixam sair. Tem que deixar tudo, sair da zona de conforto e seguir em frente, ter fé que algo melhor virá por ajudar o próximo", comentou a voluntária mexicana Karla Guzmán, de 30 anos e que já está há dois anos e meio trabalhando no navio.
Segundo números do "Logos Hope", mais de 46 milhões de pessoas em mais de 150 países caminharam pelos corredores da embarcação para visitar esta espécie de feira do livro flutuante.
O navio, que permanecerá em Veracruz até 22 de abril, iniciou sua excursão pela América Latina no dia 30 de janeiro em Cartagena, na Colômbia.
A livraria flutuante será palco de duas peças de teatro, concertos e um evento especial para comemorar o 499º aniversário da fundação do Porto de Veracruz.
Espelho
Quando uma casa desmorona por velhice mais abandono, parece que alguma coisada essência das pessoas que viveram nela e foram felizes — pelo menos por algum tempo ou alternadamente, já que ninguém é feliz sempre — fica pairando sobre os escombros e sobre utensílios abandonados ou esquecidos pela última família que morou nela; tanto que o poeta Pessoa escreveu num poema: "O que eu sou hoje é terem vendido a casa \ e terem morrido todos \ Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez...”. Aquela casa deve ter sido vendida várias vezes, depois envelheceu e por fim caiu.
O entulho ficou lá enfeando a rua e servindo de abrigo a mendigos e outros desses que têm a mania de pensar que são rebeldes, contestadores, não querem trato com o que chamam de sistema, mas não levam esse pensamento às últimas conseqüências: não abrem mão de um bom churrasco de gato nem do ato mais visceral de descarregar seus detritos quando se sentem pesados por dentro. Em todo caso, uma vez aliviados lembram-se de que fizeram uma concessão aos costumes e pensam que se redimem deixando de se limpar. Cada qual com a sua filosofia, como disse o general de granadeiros Contumácio Coribantes, vencedor da Batalha de Filigranas, que, como se sabe, mudou o rumo da história dos países do lado de baixo do Equador.
Então o entulho do desabamento ficou lá poluindo a rua e atraindo moscas, lagartixas, ratos, baratas e outros entes obnóxios, até que saqueadores tomaram conhecimento e começaram seu trabalho sistemático de extrair e carregar tudo em que vissem algum valor. Durante dias, talvez semanas, caminhões, kombis e até burros-sem-rabo, que ainda existem para quem sabe onde achá-los, transportaram ladrilhos, azulejos, grades, pias, torneiras, painéis de vidraças milagrosamente inteiros, portas, portais, caixilhos e esquadrias de janelas, fechaduras antigas ainda perfeitas, algumas sem as chaves; dois ou três armários enormes de madeira maciça para guardar louça ou roupa de cama e mesa e que os últimos moradores não quiseram carregar, certamente devido ao tamanho e ao peso. Esses foram desmontados a duras penas e transportados em um caminhão novo com placa de Vassouras, RJ, que alguém anotou por curiosidade.
Havia também um guarda-roupa, esse não tão antigo nem de boa madeira, tanto que não resistiu ao esborôo da casa, ficou todo quebrado e desconjuntado e não interessou a nenhum dos primeiros predadores. Mas quando chegou o segundo escalão, o chamado pente-fino, formado pelos que se contentam com sobras e rebotalhos, alguém deu uma olhada no guarda-roupa arrebentado, talvez esperando ou desejando que em alguma das muitas gavetas, quem sabe, tivesse ficado algum objeto de valor, ou mesmo dinheiro, é impressionante que existe de gente distraída no mundo, e muitas vezes o prejuízo de um distraído acaba sendo o lucro de um porfioso.
Então o entulho do desabamento ficou lá poluindo a rua e atraindo moscas, lagartixas, ratos, baratas e outros entes obnóxios, até que saqueadores tomaram conhecimento e começaram seu trabalho sistemático de extrair e carregar tudo em que vissem algum valor. Durante dias, talvez semanas, caminhões, kombis e até burros-sem-rabo, que ainda existem para quem sabe onde achá-los, transportaram ladrilhos, azulejos, grades, pias, torneiras, painéis de vidraças milagrosamente inteiros, portas, portais, caixilhos e esquadrias de janelas, fechaduras antigas ainda perfeitas, algumas sem as chaves; dois ou três armários enormes de madeira maciça para guardar louça ou roupa de cama e mesa e que os últimos moradores não quiseram carregar, certamente devido ao tamanho e ao peso. Esses foram desmontados a duras penas e transportados em um caminhão novo com placa de Vassouras, RJ, que alguém anotou por curiosidade.
Havia também um guarda-roupa, esse não tão antigo nem de boa madeira, tanto que não resistiu ao esborôo da casa, ficou todo quebrado e desconjuntado e não interessou a nenhum dos primeiros predadores. Mas quando chegou o segundo escalão, o chamado pente-fino, formado pelos que se contentam com sobras e rebotalhos, alguém deu uma olhada no guarda-roupa arrebentado, talvez esperando ou desejando que em alguma das muitas gavetas, quem sabe, tivesse ficado algum objeto de valor, ou mesmo dinheiro, é impressionante que existe de gente distraída no mundo, e muitas vezes o prejuízo de um distraído acaba sendo o lucro de um porfioso.
J. J. Veiga
quinta-feira, abril 26
A grande viagem
A leitura é uma realidade imensa, viagem que, uma vez iniciada, não tem fim, uma amarra de que ninguém pensa sequer libertar-se, uma porta para todos os outros mundos, um modo expedito para todos os encontros, todas as conversas. Como escutar às portas sem ser promíscuo. Como espreitar as vidas alheias, sem ponta de «voyeurismo». Uma maneira de esquecer e de lembrar. De estar aqui e acolá. De ser isto e mais aquilo. E não tem fim esta possibilidade de mil vidas em uma, única forma recomendável de mentir. Não mentir propriamente, mas imaginar, o que é diferente e sem sombra de pecadoMaria José Nogueira Pinto
Frases talvez com algum parentesco
***
O sol afeiçoou-se ao gato e toda tarde vem cochilar com ele, no sofá.
***
O gramático avarento guarda suas melhores vírgulas no sótão.
***
O que se pode esperar de uma frase em que o sujeito está oculto?
***
Acho que a tolice e a ingenuidade são, em mim, riquezas de caráter.
***
Convém dar o nome certo às coisas. Se a gramática nos chama para conversar, já sabemos: lá vem aporrinhação.
***
Os eufemismos deveriam ser trazidos como lenços perfumados no bolso e puxados lentamente, como se pedissem desculpas por se mostrarem.
***
Eu gostaria de ser um poeta melhor. Na verdade, eu gostaria de ser um poeta.
***
No dia em que finalmente ela disse que sim, ele já não se lembrava do que tinha pedido.
***
A maior conquista do sistema decimal é o sanduíche de metro.
***
Tempos magníficos, ideais! Alegrias compartilhadas, pecados virtuais!
***
Talvez a vida nunca tenha sido boa. Você é que talvez tenha sido tolo todo esse tempo.
***
Digam o que disserem, e mesmo que não digam nada, o que os leitores esperam dos poetas é sempre beleza.
***
Equívoco é o nome dado a um erro que não atingiu a plenitude.
***
Se bem que possa parecer, hebdomadário não é uma espécie de camelo.
***
Se você quer saber o que é o amor, pergunte a um tolo.
***
Em períodos de indecisão, nada como um sujeito determinado e um verbo de ação.
***
Com as garras no sofá, o gato afasta o sol: vai pra lá.
***
O cachorro late para a lua e a lua rebate: é a tua, é a tua.
***
Qualquer que seja o vício, sempre parece melhor no início.
***
Um poeta que zele por sua reputação nunca entra num soneto sem seu par de luvas.
Raul Drewnick
quarta-feira, abril 25
Os inhos engenheiros

Onde eu estava ali era um quieto. O ameno âmbito, lugar entre-as-guerras e invasto territorinho, fundo de chácara. Várias árvores. A manhã se-a-si bela: alvoradas aves. O ar andava, terso, fresco. O céu – uma blusa. Uma árvore disse quantas flores, outra respondeu dois pássaros. Esses, limpos. Tão lindos, meigos, quê? Sozinhos adeuses. E eram o amor em sua forma aérea. Juntos voaram, às alamedas frutíferas, voam com uniões e discrepâncias. Indo que mais iam, voltavam. O mundo é todo encantado. Instante estive lá, por um evo, atento apenas ao auspício.
* * *
O tico-tico, no saltitanteio, a safar-se de surpresa em surpresa, tico-te-tico no levitar preciso. Ou uma garricha, a corruir, a chilra silvestriz das hortas, de traseirinho arrebitado, que se espevita sobre a cerca, e camba – apontada, iminentíssima. De âmago: as rolas. No entre mil, porém, este par valeria diferente, vê-se de outra espécie – de rara oscilabilidade e silfidez. Quê?Qual? Sei, num certo sonho, um deles já acudiu por “o apavoradinho”, ave Maria! E há quem lhes dê o apodo de “Mariquinha Tece-Seda.” São os que sim sós. Podem se imiscuir com o silêncio. O ao alto. A alma arbórea. A garça sem pausas. Amavio. São mais que existe o sol, mais a mim, de outrures. Aqui estamos dentro da amizade.
Guimarães Rosa
Ofuscante poder da escrita

O sentido da literatura, no meio dos muitos que tenha ou não tenha, é que ela mantém, purificadas das ameaças da confusão, as linhas de força que configuram a equação da consciência e do acto, com suas tensões e fracturas, suas ambivalências e ambiguidades, suas rudes trajectórias de choque e fuga. O autor é o criador de um símbolo heróico: a sua própria vida.
E produz uma tensão muito mais fundamental do que a realidade. É nessa tensão real criada em escrita que a realidade se faz. O ofuscante poder da escrita é que ela possui uma capacidade de persuasão e violentação de que a coisa real se encontra subtraída.
O talento de saber tornar verdadeira a verdade.
Herberto Helder, "'Photomaton & Vox"
terça-feira, abril 24
Livro é um rio
 |
| Steve McCurry |
Nunca devemos batalhar contra um livro que não nos diz nada, quando há tantos outros à nossa espera. Quanto muito, podemos revisitá-lo um dia mais tarde, porque um livro nunca se lê duas vezes da mesma maneiraIsabel Stilwell
Assim começa o livro...
As crianças comeram cedo e desabaram antes das oito; uma no sofá, outra na rede, uma terceira no colo da mãe, e a última, excepcionalmente, na própria cama. Nos adultos o cansaço demorou mais a bater, as deserções só começando depois do jantar. O sítio havia feito jus a tudo que eu prometera; sol, piscina, muita comida, muita bebida e, para fechar o primeiro dia, no cair da tarde, um passeio à beira do rio.
Desde pequeno eu ouvia essa história, e Laura, minha mulher, àquela altura da nossa vida em comum, com certeza estava cansada de conhecê-la também (ainda a ouviríamos outra vez até o fim da noite). Pelos olhares que trocamos, algo semelhante acontecia com os filhos de Roberto.
Havia tempos que não juntávamos tanta gente no sítio. Após a morte dos meus pais, os tradicionais feriados de casa lotada fi caram meio sem sentido. Ou melhor, passaram a depender só de mim e da minha mulher, e tínhamos tanta preguiça dessas grandes produções—megassupermercados, mapas, comboios, quartos entupidos de colchonetes para as crianças dos convidados…
Nossos dois primeiros fi lhos eram agora jovens adultos, e, quando a caçula nasceu, comigo bem pra lá dos quarenta, o sítio havia se transformado num lugar mais pacato, de puro descanso.
segunda-feira, abril 23
O prazer da leitura
Na leitura, a amizade é subitamente reduzida à sua primeira pureza. Com os livros, não há amabilidades. Estes amigos, se passarmos o serão com eles, é porque realmente temos vontade disso. A eles , pelo menos, muitas vezes só os deixamos a contragosto. E quando os deixamos, não temos nenhum desses pensamentos que estragam a amizade: - Que terão eles pensado de nós? - Não tivemos falta de tacto? - Teremos agradado? - nem o medo de sermos esquecidos por um deles. Todas estas agitações da amizade expiram no limiar dessa amizade pura e calma que é a leitura. Também não há deferência: só rimos com o que diz Molière na exata medida em que lhe achamos graça; quando ele nos aborrece, não temos medo de mostrar um ar aborrecido e quando estamos decididamente fartos de estar com ele, pomo-lo no seu lugar tão bruscamente como se ele não tivesse gênio nem celebridade. A atmosfera desta pura amizade é o silêncio, mais do que a palavra. Porque nós falamos para os outros, mas calamo-nos para conosco mesmos . É por isso que o silêncio não traz consigo, como a palavra, a marca dos nossos defeitos, das nossas caretas. Ele é puro, é verdadeiramente uma atmosfera. Entre o pensamento do autor e o nosso não interpõe elementos irredutíveis refratários ao pensamento, os nossos egoísmos diferentes.
 |
| Dia Mundial do Livro - 23 de abril |
A própria linguagem do livro é pura ( se o livro for digno desta palavra), tornada transparente pelo pensamento do autor que dele retirou tudo quanto não fosse ele próprio até o transformar na sua linguagem fiel; cada uma das frases, no fundo, semelhante às outras, dado que todas são ditas através da inflexão única de uma personalidade; daí uma espécie de continuidade, que as relações da vida e o que estas associam ao pensamento como elementos que lhe são estranhos excluem o que permite muito rapidamente seguir o próprio fio do pensamento do autor, os traços da sua fisionomia que se refletem neste espelho tranquilo. Sabemos apreciar os traços de cada um deles sem termos necessidade de que sejam admiráveis, pois é um grande prazer para o espírito distinguir essas pinturas profundas e amar com uma amizade sem egoísmo, sem frases, como dentro de nós mesmos.
Marcel Proust
Escrever
A minha mãe ensinou-me a ler com quatro ou cinco anos, como ensinou os meus irmãos e, quase imediatamente, comecei a escrever. Não sei o que me levou a fazer isso: a impressão que eu tinha era a de entrar na carvoaria quase logo abaixo da casa dos meus pais. Vivíamos em Benfica, na altura um subúrbio pobre de Lisboa, cheio de pequenas casas e pequenos comércios, onde as minhas avós se passeavam como castelãs e nós éramos os “meninos”. Pegado à casa dos meus pais, com um jardim em torno, o cubículo do senhor Florentino, sapateiro, a martelar solas, de porta aberta, no meio de um grupo de cegos, dois ou três, ou seja imensos, a beberem de um garrafão de vinho tinto, isto para cima, na Travessa dos Arneiros e, abaixo, a carvoaria, uma espessura de escuridão com alguns brilhos de briquetes pelo meio e a voz do dono da loja, vinda de não sei onde. Nessa altura, para mim, tal como ainda hoje, escrever era como entrar na carvoaria sem sair do meu quarto: caminhava ao acaso naquele negrume, seguro que, se alcançasse um daqueles brilhos e o fechasse na mão, se me revelariam de súbito mistérios que eu desconhecia mas que tinha a certeza
(continuo a tê-la)
de serem importantíssimos. Sentia o ruído das pedras a desfazerem-se debaixo das solas, mas os brilhos escapavam--me sempre quando os julgava ao meu alcance. No meio disto havia um corvo
(outro mistério)
com uma das patas presa por um cordel a um pau e barricas com uma torneirinha de madeira que pingavam ainda. Até o postigo do tecto era negro, até no postigo do tecto havia brilhos, para além do vozeirão do dono da carvoaria:
– Vai para casa, rapaz.
De modo que, como não podia estar sempre no sapateiro ou na carvoaria, comecei a ler livros nos intervalos da escola, porque o meu pai às vezes lia em voz alta para nós e nalgumas páginas, de quando em quando, encontrava de novo os brilhos. O meu pai lia poesia e lia prosa de autores portugueses e lembro-me que quase todas as páginas de Antero cintilavam. Para mais havia o retrato dele na sala, devido à admiração que o meu pai lhe tinha. Um homem loiro, de uma imensa beleza física, cujas feições brilhavam também. Desde criança que a minha admiração e o meu amor por ele se mantêm intactos, desde criança comecei a subir as infinitas escadas que me fariam chegar à sua altura. A poesia de Antero, a prosa de Herculano nos opúsculos, certos momentos de Garrett. Depois comecei a ler em Francês, depois comecei a ler em Inglês. Por volta dos catorze anos o meu pai emprestou-me uma segunda edição da Mort à Crédit, de Céline, e tudo aquilo brilhava. O meu entusiasmo foi de tal ordem que lhe mandei uma carta, para o editor, em que lhe pedia uma fotografia e lhe explicava a minha luta. O facto de ele me ter respondido foi uma das maiores alegrias da minha vida. Durante anos andei com o envelope, com o meu nome escrito por ele, no bolso, envelope que continua a ser um dos presentes mais preciosos que recebi. Na carta, numa folha tipo A4 amarela, ele avisava-me que talvez não fosse grande ideia eu escrever. Ocupa o tempo inteiro, dá poucas alegrias, os momentos de desânimo são os mais frequentes, é necessário abdicar de muita coisa e existe um sem número de passatempos agradáveis na vida. Para quê escolher o tormento e a angústia? Claro que nessa época não sentia tormentos nem angústias: isso veio depois, queria apenas fechar o brilho na palma da mão. O tormento e a angústia, esses, chegam devagarinho, pé ante pé, quando comparamos o que fizemos com o que queríamos fazer, começamos a pensar
– Não sou capaz não sou capaz
e voltamos ao princípio vezes sem conta. Tropecei, por essa altura, numa frase de Goethe que, até certo ponto, me ajudou. Dizia ele: “Homem quando compreenderás que é o facto de não conseguires o que queres que faz a tua grandeza?” E, com estas palavras dele na cabeça, fui continuando, deitando fora tudo o que rabiscava e recomeçando sempre. Levei vinte anos nisto, a repetir para dentro
– Não é o que eu quero, não é o que eu quero, não é o que eu quero
seguro, ainda hoje me pergunto porquê, que um dia o milagre ia acontecer e os meus pobres esforços seriam recompensados. Estou para saber de onde me chegava esta certeza, esta pretensão ingénua e infantil. O sapateiro morreu, a oficinazeca levou sumiço, o carvoeiro acabou, todos os brilhos deles se sumiram e eu continuava no quarto a escrever, depois na tropa, depois na guerra, depois na volta da guerra. A escrever e a rasgar, a escrever e a rasgar, a escrever e a rasgar. Por fim, inesperadamente, apareceu a Memória de Elefante, o primeiro trabalho que não me envergonhou totalmente, que apesar de não ser o que eu pretendia se começava a aproximar se mudasse tudo. Só ao fim de dois anos, e após muita resistência, um editor se decidiu a publicá-lo. Fez um lançamento com convites à imprensa, essas palermices todas, as únicas pessoas presentes na augusta cerimónia eram ele e eu, no meio de umas garrafas e de uns copos e de súbito o livro tornou-se um sucesso retumbante. Mas eu não estava contente: faltava--lhe o brilho, faltavam-lhe as cintilações, faltava a capacidade de verter a alma inteira nas páginas. Isso foi acontecendo devagar, muito devagar, enquanto eu lutava com a cada vez maior resistência das palavras. Veio uma carta de um agente americano dizendo que eu ia conquistar o mundo, eu que não conquistava nada, e me propunha um contrato. Depois começaram as traduções. Depois começaram os prémios, e eu sempre com a frase de Goethe na ideia: “Homem quando compreenderás que é o facto de não conseguires o que queres que faz a tua grandeza?” Depois mudei de agente. Mudei de editor em Portugal. Tornei-me isto. E, de há anos para cá
(eu não minto)
comecei, após infinitas correções, a gostar do meu trabalho. Não necessitava da opinião dos outros, que aliás nunca pedi: dissessem o que dissessem não seriam nunca tão exigentes quanto eu.
As críticas não me ralam e, como as críticas não me ralam, os elogios não me transportam. Julgo que conheço muito bem o que estou a fazer, julgo que conheço muito bem o que tenho de fazer, e não existe seja quem for que me desvie disso. Porque os outros não cresceram, como eu, entre um sapateiro e uma carvoaria, não viram martelar solas de capítulos, não entraram num negrume absoluto a fim de encontrar um brilhozinho de nada e o fechar na mão enquanto se revelam, de súbito, segredos que até então a gente desconhecia, nós que estamos encostados à cadeira da nossa mãe que nos ensina a juntar letras com o indicador, a minha mãe, uma rapariga de vinte e tal anos que repete connosco ata titi ata a tia atou, e nos manda brincar a seguir. Quem quer jogar às escondidas comigo antes da lição de amanhã?
(continuo a tê-la)
de serem importantíssimos. Sentia o ruído das pedras a desfazerem-se debaixo das solas, mas os brilhos escapavam--me sempre quando os julgava ao meu alcance. No meio disto havia um corvo
(outro mistério)
com uma das patas presa por um cordel a um pau e barricas com uma torneirinha de madeira que pingavam ainda. Até o postigo do tecto era negro, até no postigo do tecto havia brilhos, para além do vozeirão do dono da carvoaria:
– Vai para casa, rapaz.
 |
| O. Søndergård |
– Não sou capaz não sou capaz
e voltamos ao princípio vezes sem conta. Tropecei, por essa altura, numa frase de Goethe que, até certo ponto, me ajudou. Dizia ele: “Homem quando compreenderás que é o facto de não conseguires o que queres que faz a tua grandeza?” E, com estas palavras dele na cabeça, fui continuando, deitando fora tudo o que rabiscava e recomeçando sempre. Levei vinte anos nisto, a repetir para dentro
– Não é o que eu quero, não é o que eu quero, não é o que eu quero
seguro, ainda hoje me pergunto porquê, que um dia o milagre ia acontecer e os meus pobres esforços seriam recompensados. Estou para saber de onde me chegava esta certeza, esta pretensão ingénua e infantil. O sapateiro morreu, a oficinazeca levou sumiço, o carvoeiro acabou, todos os brilhos deles se sumiram e eu continuava no quarto a escrever, depois na tropa, depois na guerra, depois na volta da guerra. A escrever e a rasgar, a escrever e a rasgar, a escrever e a rasgar. Por fim, inesperadamente, apareceu a Memória de Elefante, o primeiro trabalho que não me envergonhou totalmente, que apesar de não ser o que eu pretendia se começava a aproximar se mudasse tudo. Só ao fim de dois anos, e após muita resistência, um editor se decidiu a publicá-lo. Fez um lançamento com convites à imprensa, essas palermices todas, as únicas pessoas presentes na augusta cerimónia eram ele e eu, no meio de umas garrafas e de uns copos e de súbito o livro tornou-se um sucesso retumbante. Mas eu não estava contente: faltava--lhe o brilho, faltavam-lhe as cintilações, faltava a capacidade de verter a alma inteira nas páginas. Isso foi acontecendo devagar, muito devagar, enquanto eu lutava com a cada vez maior resistência das palavras. Veio uma carta de um agente americano dizendo que eu ia conquistar o mundo, eu que não conquistava nada, e me propunha um contrato. Depois começaram as traduções. Depois começaram os prémios, e eu sempre com a frase de Goethe na ideia: “Homem quando compreenderás que é o facto de não conseguires o que queres que faz a tua grandeza?” Depois mudei de agente. Mudei de editor em Portugal. Tornei-me isto. E, de há anos para cá
(eu não minto)
comecei, após infinitas correções, a gostar do meu trabalho. Não necessitava da opinião dos outros, que aliás nunca pedi: dissessem o que dissessem não seriam nunca tão exigentes quanto eu.
As críticas não me ralam e, como as críticas não me ralam, os elogios não me transportam. Julgo que conheço muito bem o que estou a fazer, julgo que conheço muito bem o que tenho de fazer, e não existe seja quem for que me desvie disso. Porque os outros não cresceram, como eu, entre um sapateiro e uma carvoaria, não viram martelar solas de capítulos, não entraram num negrume absoluto a fim de encontrar um brilhozinho de nada e o fechar na mão enquanto se revelam, de súbito, segredos que até então a gente desconhecia, nós que estamos encostados à cadeira da nossa mãe que nos ensina a juntar letras com o indicador, a minha mãe, uma rapariga de vinte e tal anos que repete connosco ata titi ata a tia atou, e nos manda brincar a seguir. Quem quer jogar às escondidas comigo antes da lição de amanhã?
domingo, abril 22
Vou tentar falar sobre escrever romances
Os romances são mais longos que os contos e, em virtude dessa extensão ou, digamos, amplitude, têm a oportunidade – a obrigação, na verdade – de serem mais complexos e envolver mais personagens. A maioria dos romances é narrativa, isto é, linear na forma e fiel à cronologia, eles avançam ou flutuam em idas e vindas no tempo. A narrativa conta uma história e as histórias são a essência das coisas, o elemento fundamental. E. M. Forster em Aspectos do Romance, um ensaio em inglês ligeiramente datado, fala sobre a importância de contar uma história e as habilidades de um de seus mais brilhantes artífices, Sherazade, a perspicaz filha do vizir.
Apesar de ser uma grande romancista, requintada em suas descrições e prudente em seus julgamentos, espirituosa ao narrar incidentes, avançada em sua moral, eloquente na caracterização das personagens e profunda conhecedora das três capitais do Oriente, ela não recorreu a nenhum desses dotes ao tentar salvar sua vida perante o marido intolerável. Eram apenas elementos secundários. Se sobreviveu, foi porque as compôs de forma que o rei sempre perguntasse o que aconteceria em seguida. Toda vez que ela via o amanhecer, parava no meio de uma frase, deixando-o boquiaberto. “Nesse momento, Sherazade viu raiar as primeiras luzes da aurora e, discreta, guardou silêncio.”
Essa última frase, como adverte Forster, é a chave para As Mil e Uma Noites: Sherazade ficou em silêncio. O que aconteceria depois? A vontade de saber é o motor da literatura: por favor, continue contando a história.
O enredo é algo mais que a história. Inclui os elementos causais e as surpresas. A história de Lolita é simples: Humbert encontra Lolita, e digamos que a seduz, a faz passar por sua filha, uma situação detestável, mas inebriante, e um rival a rouba dele. Ele sai em sua busca, encontra os dois e mata o ladrão. Mas é o enredo, com seus muitos momentos cômicos, a revelação progressiva de motivos e incidentes grotescos, que o engrandece. Lolita de início foi mal compreendido, naturalmente, mas se salvou do esquecimento previsível ou da prateleira de livros picantes graças a Graham Greene, que incluiu a obra em sua lista do Times como um dos três melhores livros do ano, e assim lhe garantiu um respaldo literário. Nabokov era, na época, um escritor pouco conhecido.
Vou tentar falar sobre escrever romances, mas devo alertar, de antemão, que pode não ser sobre o romance vocês estão pensando em escrever, ou já começaram a escrever, ou , quem sabe, já têm quase pronto. Na verdade, é sobre os romances de certas pessoas. Não pretendo dar lições sobre como se faz.
Acho que ninguém é capaz de ensinar a escrever um romance, pelo menos não em uma hora. É difícil escrever romances. Você precisa ter a ideia e as personagens, e talvez se acrescentem personagens pelo caminho. Você precisa da história. Você precisa, se me permitem dizer, da forma: Qual será o tamanho do livro? Será escrito em parágrafos longos? Curtos? Em que pessoa narrativa? Manterá um fio condutor ou se dispersará em todas as direções? Qual será o grau de densidade? Quando você tem a forma, você pode escrever o romance. Quando você tem o estilo. O estilo. Onde você se situa como escritor? Seus preconceitos. Seu posicionamento moral. O modo como se deve ler esse livro. E depois você precisa de um começo. “Duas cordilheiras atravessam a República, quase de norte a sul ...”, as contidas primeiras palavras do suplício final do cônsul em À Sombra do Vulcão. O começo é de suma importância. Já mencionei o começo de Adeus às Armas. Tudo está naquelas primeiras frases: a guerra da qual estão tentando se afastar ou fugir. Por enquanto, estão protegidos, vendo tudo acontecer, mas seu destino está ligado ao conflito.
Uma das coisas mais difíceis, como dizia García Márquez, é o primeiro parágrafo. Passou meses com um primeiro parágrafo, mas, depois que o conseguiu, o resto foi simples. Ele tinha o estilo, o tom, mas o problema era como colocar isso no papel. O primeiro parágrafo era uma amostra do que seria o restante do livro.
Se isso é verdade, se é tão difícil e para quase todo mundo há tão pouco a ganhar, pouco dinheiro... Bem, na verdade, é uma maneira de ganhar dinheiro; você não precisa de nada para começar, exceto as palavras. Mas qual é o impulso? Por que escrever? Aí está a essência. Então, por quê?
Bem, certamente por prazer, embora esteja claro que não é um prazer tão grande. Nesse caso, para agradar os outros. Escrevi com isso em mente às vezes, pensando em certas pessoas, mas seria mais honesto dizer que escrevi para que os outros me admirem, para que gostem de mim, para ser elogiado, reconhecido. Afinal, essa é a única razão. O resultado não tem quase nada a ver com isso. Nenhuma dessas razões dá a força do desejo.
Eu sempre penso em Paul Léautaud, um velho crítico teatral, pobre, quase esquecido. No final da vida, quando morava sozinho com uma dúzia de gatos, ele escreveu: “Écrire! Quelle chose merveilleuse!” [Escrever! Que coisa maravilhosa!]
Você é o herói de sua própria vida: ela pertence somente a você e é, muitas vezes, a base de um primeiro romance. Nenhuma outra história estará mais ao seu alcance do que essa. Philip Roth escreveu seu primeiro livro, Goodbye, Columbus, sobre si mesmo e um amor juvenil com uma garota em Nova Jersey. Esse segmento de sua vida é história e suas complicações compõem o enredo.
Voltaire escreveu Cândido como crítica social, de um fôlego só, aos 75 anos de idade.
Theodore Dreiser visitou seu amigo Arthur Henry no verão de 1899 em Maumee, Ohio. Henry estava trabalhando em um romance. “Por que você não escreve um também?”, sugeriu a Dreiser. Este sentou-se, pegou um papel e escreveu na parte superior: Sister Carrie.
Dreiser era filho de uma família de dez irmãos que cresceram na pobreza em Warsaw, Indiana. Um professor generoso pagou seus estudos para que fosse à faculdade, mas não concluiu o curso. Enquanto isso, uma de suas irmãs engravidou e outra fugiu de casa. Dreiser começou a trabalhar como cobrador de dívidas nos bairros pobres de Chicago, mas tinha um olhar aguçado, encorajado pelas coisas que lia nos jornais. Enviou vários artigos para um deles e se tornou um escritor de sucesso, e depois repórter e editor de uma revista. Tinha 28 anos quando começou a escrever Sister Carrie, sem uma ideia preconcebida, sem sequer saber do que trataria. Limitou-se a usar suas experiências e permitiu que a memória organizasse as coisas apenas com um leve tremor. Demorou quatro meses para terminar o livro, incluindo o abandono quando concluiu que era péssimo. No entanto, tinha pouco a perder. Carrie foi publicado em um mundo no qual um dos temas estabelecidos da ficção era o da virtude maculada que triunfa no final. Foi imediatamente retirado de circulação por razões morais. Dreiser conhecia uma realidade mais ampla e o rude mercantilismo de muitas cidades: Chicago, St. Louis, Pittsburgh, Nova York. Havia lido Nietzsche, Balzac e Zola, e estava fascinado por ideias vagas de um super-homem, assim como o deus do dinheiro e os reis do dinheiro. Sabia que “a vileza do indivíduo, para ser amada, deve estar revestida de glória”, disse Robert Penn Warren, e essa ambição ardeu nele durante toda a vida. Perdeu o Prêmio Nobel, que foi concedido a Sinclair Lewis. Dreiser era um escritor ruim, repetitivo, vulgar, previsível e falacioso, mas era também um grande contador de histórias, incansável e transbordante de ideias. Além disso, foi o primeiro escritor norte-americano a vir da pobreza. Samuel Clemens também, mas em um sentido diferente.
Por que falo tanto de Dreiser, uma presença forte e excessiva que acredita que a base materialista da vida é a verdade fundamental? Não é por isso. Os livros que escreveu se aproximam tanto de sua própria vida de cidades, bares, restaurantes e bordéis, sucesso e fracasso, do medo de não chegar a lugar nenhum, que é difícil saber o que acrescentou para transformá-los em ficção. O que é relevante é a sua visão da ordem estabelecida, o seu conhecimento da vida no estrato mais baixo, que tenta ascender através das impenetráveis camadas da sociedade, que tenta conquistar um lugar.
John O’Hara era filho de um médico, mas sempre se sentia como se viesse dos bairros pobres. Ressentia-se profundamente de não ter ido a Princeton ou Yale, de ser “diferente”. Era repórter e desenvolveu, como Dreiser, o hábito da observação minuciosa junto com um conhecimento nada romântico do comportamento humano. A desenvoltura na escrita e um bom faro para histórias são vantagens de uma vida dedicada ao jornalismo. Nas histórias de O’Hara existem centenas de personagens, e ele, muitas vezes, nem se dava ao trabalho de escrever mais do que uma nota, sem ir muito fundo. Seu método consistia em colocar uma folha em branco na máquina de escrever e imaginar dois rostos, talvez de alguém que tivesse visto no trem, e, sem saber nada sobre essas duas pessoas, fazia-as se encontrarem em um restaurante e deixava que falassem, de início sobre coisas triviais, por uma ou duas páginas, até começarem a ganhar vida. Era tudo através do diálogo. Enquanto conversavam, um ou outro acabaria dizendo algo tão revelador que, a partir daí, era apenas uma questão de até que ponto continuaria interessado em suas personagens. Era um grande escritor de diálogo, hábil em infâmias e nuances sociais – o lugar de cada um na escala – e as histórias lhe vinham em abundância.
O’Hara era minucioso com as personagens que apareciam e as elaborava cuidadosamente. Todos os detalhes pessoais estão lá: as roupas, e talvez até as lojas tinham sido compradas, os costumes, as virtudes, os defeitos. Ele recria a cena em tamanho detalhe que você é capaz de vê-la: o coldre de couro e as luvas do policial, o quepe, onde estacionou a viatura e por quê, e para quem abaixa a cabeça e de quem sabe algum episódio sórdido. Você vê a sociedade que O’Hara está descrevendo e treme só de imaginar onde vão parar esses preconceitos tão profundamente enraizados e os comentários inesperados.
Essas pessoas, essas personagens, são tiradas da vida? São baseadas, no físico e nos outros aspectos, em pessoas reais? Suas ações e algo do que dizem ou as características de sua fala são extraídas da vida? Acho que vocês sabem – mesmo entre os escritores há sempre alguma sensibilidade sobre isso, como se inspirar-se na vida, e admitir isso, fosse uma renúncia à arte – que muitas ou a maioria das personagens fictícias vieram da vida real.
James Salter (Trecho do livro que reúne três palestras ministradas em 2015, pouco antes de sua morte)
Você leu todos esses livros?
Olá, meu nome é Sérgio e eu sou um acumulador de livros. Talvez devesse dizer que, sendo por natureza um acumulador de livros, hoje estou melhor. Acabo de vender ao alfarrabista, de uma só vez, um lote de 662 volumes!
Sim, há palavras mais lisonjeiras do que “acumulador” para nomear minha condição. “Bibliófilo”, a mais pomposa, me encheu de orgulho uma época. Um dia me dei conta de que os bibliófilos eram muito diferentes de mim.
Além de gastar fortunas em edições raras, algo que nunca me tentou, moravam em casarões forrados de estantes envidraçadas e atendidas por cuidadores profissionais. Jamais permitiriam que anos de pó se acumulassem em prateleiras intrometidas por todos os cantos de apartamentos compactos, inelásticos, incompatíveis com tamanha acumulação.
Bibliômano, quem sabe? A palavra importa pouco. Mais proveitoso é tentar definir o mecanismo psicológico por trás da minha tara, que, eu sei, é a de muita gente. Somos aqueles que, volta e meia, ouvem de uma visita: “Você já leu todos esses livros?!”
Escapa ao boquiaberto autor da pergunta que ler é só parte da graça. Ter uma biblioteca particular faz o verbo “ler” explodir numa miríade de tempos e sentidos, alguns potenciais (ah, um dia, mal posso esperar), outros de pura virtualidade (eu leria, mas...).
À medida que o número de livros cresce e a idade do dono também, intensifica-se o fluxo migratório
de títulos da primeira para a segunda categoria.
Isso para não mencionar os sentidos mais pragmáticos ou fantasiosos da leitura cruzada (vamos a uma rápida busca na página 157, que fulano cita em outro livro), da leitura de trechos ao acaso, da consulta a livros de referência e, claro, do simples e desavergonhado voyeurismo de lombadas nuas em desfile. Como são doces os prazeres da acumulação!
Mas isso ainda não chega ao cerne da coisa. No meu caso, pelo menos, acredito que a justificativa mais funda para o investimento numa bagagem de vida tão pesada quanto milhares de livros sempre tenha sido a de me tornar —aqui cabe um pigarro— um arquivista do meu tempo. No mínimo, do meu tempo visto da minha janela. Uma testemunha de... de quê mesmo?
Delírio, claro. Não existe tara sem desvario. Seja como for, a justificativa imodesta escorreu faz tempo pelo ralo digital. Ninguém mais precisa ter livros para, bem, ter acesso instantâneo a livros. A mais livros do que qualquer um conseguiria juntar em sete vidas.
É por isso que estou melhor. Se os 662 tabletes folhados que despachei para o sebo são só uma fatia do todo, paciência. Minha mulher ficou aliviada com a parte que foi embora, levando milhões de ácaros. E eu dou mais valor ainda à parte que ficou.
Sim, há palavras mais lisonjeiras do que “acumulador” para nomear minha condição. “Bibliófilo”, a mais pomposa, me encheu de orgulho uma época. Um dia me dei conta de que os bibliófilos eram muito diferentes de mim.
Além de gastar fortunas em edições raras, algo que nunca me tentou, moravam em casarões forrados de estantes envidraçadas e atendidas por cuidadores profissionais. Jamais permitiriam que anos de pó se acumulassem em prateleiras intrometidas por todos os cantos de apartamentos compactos, inelásticos, incompatíveis com tamanha acumulação.
Escapa ao boquiaberto autor da pergunta que ler é só parte da graça. Ter uma biblioteca particular faz o verbo “ler” explodir numa miríade de tempos e sentidos, alguns potenciais (ah, um dia, mal posso esperar), outros de pura virtualidade (eu leria, mas...).
À medida que o número de livros cresce e a idade do dono também, intensifica-se o fluxo migratório
de títulos da primeira para a segunda categoria.
Isso para não mencionar os sentidos mais pragmáticos ou fantasiosos da leitura cruzada (vamos a uma rápida busca na página 157, que fulano cita em outro livro), da leitura de trechos ao acaso, da consulta a livros de referência e, claro, do simples e desavergonhado voyeurismo de lombadas nuas em desfile. Como são doces os prazeres da acumulação!
Mas isso ainda não chega ao cerne da coisa. No meu caso, pelo menos, acredito que a justificativa mais funda para o investimento numa bagagem de vida tão pesada quanto milhares de livros sempre tenha sido a de me tornar —aqui cabe um pigarro— um arquivista do meu tempo. No mínimo, do meu tempo visto da minha janela. Uma testemunha de... de quê mesmo?
Delírio, claro. Não existe tara sem desvario. Seja como for, a justificativa imodesta escorreu faz tempo pelo ralo digital. Ninguém mais precisa ter livros para, bem, ter acesso instantâneo a livros. A mais livros do que qualquer um conseguiria juntar em sete vidas.
É por isso que estou melhor. Se os 662 tabletes folhados que despachei para o sebo são só uma fatia do todo, paciência. Minha mulher ficou aliviada com a parte que foi embora, levando milhões de ácaros. E eu dou mais valor ainda à parte que ficou.
sábado, abril 21
Os pequenos pensamentos
 |
| Karl Harald Alfred Broge |
Um livro ajuda-me a pensar. Deve-me deixar à vontade, fora ou dentro dele, como um conhecimento fortuito que me excitasse. Quem se obriga à crítica severa, ou à versão do livro, está inibido de seguir os pequenos pensamentos que ele lhe lança à frente, de brincar com as pedrinhas ideais que ele lhe levanta debaixo dos pésIrene Lisboa
Escrever para quê?
São curiosos os escritores. Dizem que nasceram para escrever, que não se imaginam fazendo nada além de escrever, que vivem para escrever. Mas como se queixam: ah, que cansaço é escrever, que tortura, que suplício, que desgraça. Dá pena ouvi-los. Somos tentados a nos oferecer para escrever por eles. Melhor não. Não há ninguém como um escritor para defender tão bravamente seu papel de vítima.
***

***
Comparado a outras atividades, o ato de escrever me parece quase uma distração. Invejo os lavradores, que tiram frutos da terra, e, entre os artistas, admiro os pintores e os escultores, que mexem com substâncias, com coisas tangíveis, que as transformam. Os escritores mexem em quê? Respondo por mim: em nuvens, em abstrações.
***
Minha ideia, há algum tempo, era escrever menos, para escrever melhor. Agora é parar de vez, para não escrever pior ainda.
***
E chega um dia em que escrever é só escrever. Você não está mais ali, a alma também não. É uma transação da qual participam apenas a sua caneta e o seu bloquinho. Nesse dia, você deve aceitar a imposição do tempo e dizer ao menino, que por acaso tem os seus olhos e o mesmo nome, que é hora de desistir, embora ele olhe para você com o ressentimento dos traídos.
***
Há muitos modos de ser um escritor. O melhor eu não sei, porém o pior é escrever por escrever.
***
A maioria dos que vivem para escrever não vive de escrever.
***
Escrever é uma atividade com a qual nos cansamos e maçamos os outros.
***
No início, quando a literatura em nós é ainda só um projeto, nós nos dizemos, como incentivo: escrever, escrever, escrever. No meio do caminho, nossa voz já não é tão resoluta: escrever, escrever. E, no fim, como náufragos jogados ao mar, insistimos ainda, mais como uma súplica do que como uma esperança: escrever.***

O escritor novato, quando atinge o estágio de escrever bem, descobre que é aí que o verdadeiro trabalho começa. É hora de esquecer o advérbio bem e aprender a escrever, só escrever. Escrever bem é habitualmente sinônimo de ser maçante. O jovem escritor há de desconfiar da facilidade. Quando se fala de uma obra de arte, dificilmente a primeira isca lançada trará o melhor resultado. Na literatura, como em tudo na vida, há de haver algo amargo, doído, uma escavação que deixe ao menos um pouco de sangue à mostra nos dedos.
***
Comparado a outras atividades, o ato de escrever me parece quase uma distração. Invejo os lavradores, que tiram frutos da terra, e, entre os artistas, admiro os pintores e os escultores, que mexem com substâncias, com coisas tangíveis, que as transformam. Os escritores mexem em quê? Respondo por mim: em nuvens, em abstrações.
***
Minha ideia, há algum tempo, era escrever menos, para escrever melhor. Agora é parar de vez, para não escrever pior ainda.
***
E chega um dia em que escrever é só escrever. Você não está mais ali, a alma também não. É uma transação da qual participam apenas a sua caneta e o seu bloquinho. Nesse dia, você deve aceitar a imposição do tempo e dizer ao menino, que por acaso tem os seus olhos e o mesmo nome, que é hora de desistir, embora ele olhe para você com o ressentimento dos traídos.
***
Há muitos modos de ser um escritor. O melhor eu não sei, porém o pior é escrever por escrever.
***
A maioria dos que vivem para escrever não vive de escrever.
***
Escrever é uma atividade com a qual nos cansamos e maçamos os outros.
sexta-feira, abril 20
Literatura nos põe no lugar do outro
Os romances nunca serão totalmente imaginários nem totalmente reais. Ler um romance é confrontar-se tanto com a imaginação do autor quanto com o mundo real cuja superfície arranhamos com uma curiosidade tão inquieta. Quando nos refugiamos num canto, nos deitamos numa cama, nos estendemos num divã com um romance nas mãos, a nossa imaginação passa o tempo a navegar entre o mundo daquele romance e o mundo no qual ainda vivemos. O romance nas nossas mãos pode-nos levar a um outro mundo onde nunca estivemos, que nunca vimos ou de que nunca tivemos notícia.
 |
| Alexandros Christofis |
Ou pode-nos levar até às profundezas ocultas de um personagem que, na superfície, parece-se às pessoas que conhecemos melhor. Estou a chamar a atenção para cada uma dessas possibilidades isoladas porque há uma visão que acalento, de tempos a tempos, que abarca os dois extremos. Às vezes tento conjurar, um a um, uma multidão de leitores recolhidos num canto e aninhados nas suas poltronas com um romance nas mãos; e também tento imaginar a geografia de sua vida quotidiana. E então, diante dos meus olhos, milhares, dezenas de milhares de leitores vão tomando forma, distribuídos por todas as ruas da cidade, enquanto eles leem, sonham os sonhos do autor, imaginam a existência dos seus heróis e vêem o seu mundo.
E então, agora, esses leitores, como o próprio autor, acabam por tentar imaginar o outro; eles também se põem no lugar de outra pessoa. E são esses os momentos em que sentimos a presença da humanidade, da compaixão, da tolerância, da piedade e do amor no nosso coração: porque a grande literatura não se dirige à nossa capacidade de julgamento, e sim à nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro.
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
A terapia de jogar conversa fora
Os pequenos momentos fazem valer as penas. Neste caso, chegou o dia de trocar as minhas. Após alguns comentários de que estaria sobrecarregado, decidi me dar um presente de aniversário. Algo simples, porém radical em tempos de excessos de informação e boletos: relaxar. “Você precisa tirar um tempo para si mesmo.”, foi a frase que mais ouvi após felicitações por completar mais um giro neste carrossel desgovernado chamado vida.
Vencido pelo cansaço (em mais de um sentido), cedi. Dediquei meu fim de semana ao lema do “barquinho vai, barquinho vem.” Sem um violão, mas com livros de confiança e uma cadeira. Fui no sebo de um amigo meu, e passei dois dias horas a fio batendo papo com estranhos e conhecidos, bebendo café e guaraná, lendo…

O Baratos da Ribeiro é um dos meus pontos favoritos há mais de uma década (afinal, estou mais velho agora). Desde sua mudança de uma loja em Copacabana para uma casa em Botafogo, fiz amizades e boas aquisições por lá. O novo ambiente, além de mais espaço para livros, vem com uma área descoberta que liga duas salas. Lá, as pessoas sentam, conversam e escutam música. Boa. Sempre pego dicas pelo que escuto no local.
Por ser uma casa antiga e ter uma abertura para o céu, há uma atmosfera calma. Quase como se fosse um subúrbio antigo, em que nós substituímos as velhinhas de cadeiras de praia na rua em frente de residências. E, como elas, passamos tempo jogando palavras ao vento. Geralmente, música e cultura pop, e, algumas vezes, a vida alheia (afinal, temos que representar as velhinhas em certo grau). As pessoas chegam, desconhecidas ou clientes antigos e amigos, sentam, tomam café e uma conversa surge como os sacos de livros e vinis que adentram quando o dono, Maurício, e seus funcionários retornam de compras de lotes.
Maurício é o típico dono de comércio carioca, embora seja de Taubaté. Cordial e resmungão, cheio de opiniões e que torna a loja uma extensão de si mesmo. Com regras rígidas, mas aberto, sempre me diverte vê-lo interagir com os outros, especialmente quando contrariado. “Ribas, você não pode botar essa banca toda. Tá muito arrogante pra quem não sabia nada há pouco tempo, né, cara.”, me falou em um momento. Eu rio, e reflito. Gosto desses momentos. É como o Bip Bip, o bar de samba do querido Alfredinho. Se você não levou um beijo ou um esporro do Alfredinho, perdeu parte da experiência.
E, para completar o perfil, adora conversa. Especialmente se envolver música. Eu ouço e anoto os nomes das bandas que referencia para buscar depois. Neste fim de semana, por exemplo, dissertou com entusiasmo sobre My Morning Jacket, um grupo americano, e tocou faixas de quase toda sua discografia. “Esse lembra o David Giulmor”, ou “Cara, olha só esse falsete. O cara (vocalista) falseteia muito neste disco.” Aprendi quase tanto sobre rock underground com ele quanto na fase na boate Bunker.
Nesses momentos em que os pássaros voam acima, a música flui, e pessoas aparecem sem compromisso, o mundo segue leve. E lembro-me que a sutileza desses instantes é uma das melhores coisas de estar aqui. Talvez por estar mais velho aprecie estes episódios calmos. Há pessoas que comem chocolate, outras que viajam, algumas vão as spas. Eu converso, leio e ouço música. Assim, começo um novo solo vital com a serenidade de que há um pouso em meio ao ritmo bate estaca que aguarda na calçada no lado de fora.
Daniel Russell Ribas
Vencido pelo cansaço (em mais de um sentido), cedi. Dediquei meu fim de semana ao lema do “barquinho vai, barquinho vem.” Sem um violão, mas com livros de confiança e uma cadeira. Fui no sebo de um amigo meu, e passei dois dias horas a fio batendo papo com estranhos e conhecidos, bebendo café e guaraná, lendo…

Por ser uma casa antiga e ter uma abertura para o céu, há uma atmosfera calma. Quase como se fosse um subúrbio antigo, em que nós substituímos as velhinhas de cadeiras de praia na rua em frente de residências. E, como elas, passamos tempo jogando palavras ao vento. Geralmente, música e cultura pop, e, algumas vezes, a vida alheia (afinal, temos que representar as velhinhas em certo grau). As pessoas chegam, desconhecidas ou clientes antigos e amigos, sentam, tomam café e uma conversa surge como os sacos de livros e vinis que adentram quando o dono, Maurício, e seus funcionários retornam de compras de lotes.
Maurício é o típico dono de comércio carioca, embora seja de Taubaté. Cordial e resmungão, cheio de opiniões e que torna a loja uma extensão de si mesmo. Com regras rígidas, mas aberto, sempre me diverte vê-lo interagir com os outros, especialmente quando contrariado. “Ribas, você não pode botar essa banca toda. Tá muito arrogante pra quem não sabia nada há pouco tempo, né, cara.”, me falou em um momento. Eu rio, e reflito. Gosto desses momentos. É como o Bip Bip, o bar de samba do querido Alfredinho. Se você não levou um beijo ou um esporro do Alfredinho, perdeu parte da experiência.
E, para completar o perfil, adora conversa. Especialmente se envolver música. Eu ouço e anoto os nomes das bandas que referencia para buscar depois. Neste fim de semana, por exemplo, dissertou com entusiasmo sobre My Morning Jacket, um grupo americano, e tocou faixas de quase toda sua discografia. “Esse lembra o David Giulmor”, ou “Cara, olha só esse falsete. O cara (vocalista) falseteia muito neste disco.” Aprendi quase tanto sobre rock underground com ele quanto na fase na boate Bunker.
Nesses momentos em que os pássaros voam acima, a música flui, e pessoas aparecem sem compromisso, o mundo segue leve. E lembro-me que a sutileza desses instantes é uma das melhores coisas de estar aqui. Talvez por estar mais velho aprecie estes episódios calmos. Há pessoas que comem chocolate, outras que viajam, algumas vão as spas. Eu converso, leio e ouço música. Assim, começo um novo solo vital com a serenidade de que há um pouso em meio ao ritmo bate estaca que aguarda na calçada no lado de fora.
Daniel Russell Ribas
quinta-feira, abril 19
Livros estão sempre sós
Os livros estão sempre sós. Como nós. Sofrem o terrível impacto do presente. Como nós. Têm o dom de consolar, divertir, ferir, queimar. Como nós. Calam a sua fúria com a sua farsa. Como nós. Têm fachadas lisas ou não. Como nós. Formosas, delirantes, horrorosas. Como nós. Estão ali sendo entretanto. Como nós. No limiar do esquecimento. Como nós. Cheios de submissão ao serviço do impossível. Como nósAna Hatherly, "Tisanas"
Dormir em uma livraria em Paris
Em 1919 Sylvia Beach fundou a Shakespeare and Company, a livraria mais famosa de Paris, primeiro na Rue Dupuytren e depois na Rue de l’Odéon. Fez isso com o objetivo de que escritores estrangeiros e leitores encontrassem na capital francesa novidades em inglês e um lugar de reunião. Também foi editora, e entre seus maiores riscos (ou, melhor dizendo, conquistas) ficará para a história ter editado o Ulisses, de James Joyce. Beach morreu em 1962, e o legado e o nome da livraria foram adquiridos por George Whitman, que a transferiu para sua atual localização, no Bairro Latino, ao lado do Sena, à sombra da Notre Dame.
Ainda hoje tem uma cama no piso de cima, talvez como emblema de que foi durante anos refúgio para todo tipo de escritor, trompetista, notívago e poetas sem obra que pernoitaram nela, convertendo-a por momentos em uma hospedaria digna de Dickens. Segundo confessou Whitman ao escritor Jeremy Mercer quando escrevia o livro Time Was Soft There: A Paris Sojourn at Shakespeare & Co, a livraria havia alojado mais de 40.000 pessoas!
Pois bem, que este preâmbulo sirva para constatar que hoje, quase cem anos depois, a Shakespeare and Company ganhou concorrência em sua faceta de albergue. Porque em Paris existe outra livraria na qual se pode pernoitar, seja a pessoa artista ou não: La Librairie. Trata-se de uma das duas acomodações em operação pela Paris Boutik, um novo conceito de hotel idealizado por David Lecullier, rosto visível (com outros dois sócios) de um projeto que está dando o que falar e que desperta admiração em clientes (basta ver suas pontuações e comentários na Internet) e em revistas especializadas de todo o mundo.
A ideia é restaurar estabelecimentos tradicionais que tenham ficado em desuso e transformá-los em locais de hospedagem. “As lojas de Paris fazem parte do caráter da cidade, lhe dão personalidade, e nos desagrada vê-las desaparecer. Decidimos convertê-las em suítes conservando sua essência, para assim valorizar os bairros e propor uma experiência parisiense única”, diz Lecullier. Para levar adiante a restauração dos espaços ele contatou Aurélie Cattelain e Clément Karam, do estúdio de design de interiores CKA.
La Librairie
A livraria da Rue Caffarelli (que em outros tempos foi um sebo) é um espaço muito acolhedor, voltado para a calçada. O hóspede dorme e vive em uma grande biblioteca, com cerca de 4.500 livros (muito bons, aliás), na qual todo apaixonado pela leitura e sem rumo encontrará o norte. Também há todo tipo de serviço (máquina de café, pia, minibar gratuito) em uma área interna de 45 metros quadrados pensada para até quatro pessoas. Bem equipado (ah, esse duplo colchão king size convida ao sono à primeira vista), o espaço está completamente protegido de ruídos externos e isolado graças a um vidro e cortinas especiais para garantir intimidade.
La Librairie fica no Marais alto, um bairro com atrativos constantes e clássicos da gastronomia, como o cuscuz do Chez Omar, o colorido Marché des Enfants Rouges e o refinado Café Charlot, os três na Rue de Bretagne. E também estabelecimentos delicados como Papier Tigre e Bibi Idea Shop, aplaudidas lojas de moda (Études, Cuisse de Grenouille, Commune de Paris, Mont Saint-Michel) e fromageries como Jouannault e La Petite Ferme d’Ines Slimania. Justo ao lado de La Librairie se situa a Galerie Glénat, especializada em quadrinhos.
Leia mais
Ainda hoje tem uma cama no piso de cima, talvez como emblema de que foi durante anos refúgio para todo tipo de escritor, trompetista, notívago e poetas sem obra que pernoitaram nela, convertendo-a por momentos em uma hospedaria digna de Dickens. Segundo confessou Whitman ao escritor Jeremy Mercer quando escrevia o livro Time Was Soft There: A Paris Sojourn at Shakespeare & Co, a livraria havia alojado mais de 40.000 pessoas!
 |
| Interior de La Librairie, antiga livraria transformada em suíte no Marais |
A ideia é restaurar estabelecimentos tradicionais que tenham ficado em desuso e transformá-los em locais de hospedagem. “As lojas de Paris fazem parte do caráter da cidade, lhe dão personalidade, e nos desagrada vê-las desaparecer. Decidimos convertê-las em suítes conservando sua essência, para assim valorizar os bairros e propor uma experiência parisiense única”, diz Lecullier. Para levar adiante a restauração dos espaços ele contatou Aurélie Cattelain e Clément Karam, do estúdio de design de interiores CKA.
La Librairie
A livraria da Rue Caffarelli (que em outros tempos foi um sebo) é um espaço muito acolhedor, voltado para a calçada. O hóspede dorme e vive em uma grande biblioteca, com cerca de 4.500 livros (muito bons, aliás), na qual todo apaixonado pela leitura e sem rumo encontrará o norte. Também há todo tipo de serviço (máquina de café, pia, minibar gratuito) em uma área interna de 45 metros quadrados pensada para até quatro pessoas. Bem equipado (ah, esse duplo colchão king size convida ao sono à primeira vista), o espaço está completamente protegido de ruídos externos e isolado graças a um vidro e cortinas especiais para garantir intimidade.
La Librairie fica no Marais alto, um bairro com atrativos constantes e clássicos da gastronomia, como o cuscuz do Chez Omar, o colorido Marché des Enfants Rouges e o refinado Café Charlot, os três na Rue de Bretagne. E também estabelecimentos delicados como Papier Tigre e Bibi Idea Shop, aplaudidas lojas de moda (Études, Cuisse de Grenouille, Commune de Paris, Mont Saint-Michel) e fromageries como Jouannault e La Petite Ferme d’Ines Slimania. Justo ao lado de La Librairie se situa a Galerie Glénat, especializada em quadrinhos.
Leia mais
quarta-feira, abril 18
Sem água com açúcar
Assinar:
Comentários (Atom)








/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/w/q/m47bcKSK2PszFIYxacyQ/logoshope1.jpg)