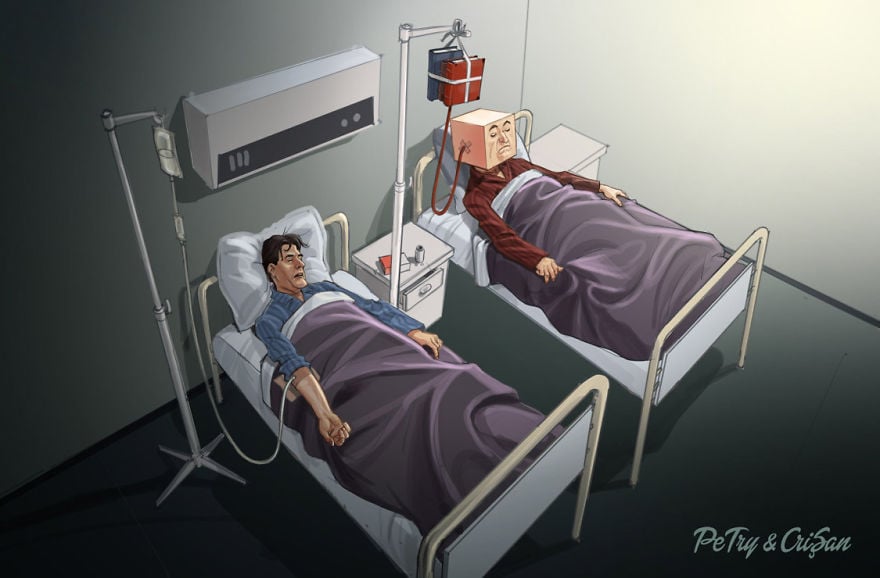|
| Andrés Meixide Gayoso |
sexta-feira, março 31
Senhor importante
Ao longo do tempo, percebi que há uma coisa muito importante, que é o papel social do editor. Ele é uma pessoa que seleciona o que o público vai ler. É um filtro. Ele tem uma importância na sociedade
Paulo Rocco
Doação de livro para bibliotecas: Será que é uma boa ideia?
Antes de começar, um alerta: escrevi esse texto antes da polêmica entre Dória e Amazon, mais um show de entretenimento em que ninguém tem razão, se tiver alguma paciência volto a isso mais à frente.
Agora, uma explicação: não vou falar da administração Dória, vou falar da administração Kassab.
O secretário de Cultura da época havia sido meu professor na Escola de Comunicações e Artes. Ótimo professor, diga-se de passagem. Havia participado ativamente da gestão Marta Suplicy, dirigindo o Centro Cultural São Paulo. E coube a ele a tarefa de concluir uma reforma da Biblioteca Mário de Andrade.
Um dia, abro um e-mail e uma editora solidária a essa trajetória respeitável solicita doação de livros para a nova Mário de Andrade. Sim: a prefeitura havia gasto alguns milhões de reais com a reforma da biblioteca e, na hora de inaugurá-la, não reservara nem alguns milhares de reais para a compra de novos livros. Me pergunto se as privadas do banheiro haviam sido doadas também; ou as janelas; ou as estantes. Mas livro, no Brasil, não tem valor: ou melhor, ele só tem valor simbólico. Como se seus produtores não gastassem com a sua produção e sua circulação.
Marcamos uma reunião com diversos pequenos e médios editores. O secretário entendeu a questão. Não desqualificou a demanda de uma política de coleções que fosse além do pedido de doação.
Sim, porque uma biblioteca pública, e uma biblioteca pública do porte da Mário de Andrade menos ainda, não pode se contentar com as doações que recebe. Não pode ter, como principal política de construção de sua coleção, o recebimento de livros cujos títulos não sabe de antemão, cujos sentido não seja orientado para um projeto cultural, cujo interesse na doação seja, talvez, apenas desovar o estoque de uma tiragem superdimensionada de um livro inútil.
A política de construção de coleções é uma coisa séria. E os editores, em 2015, numa das 40 reuniões plenárias realizadas para discutir o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB-SP), deixaram bem claro um problema estrutural da cidade de São Paulo: a política de construção de coleções era errática e baseada, essencialmente, na seleção de livros que vão parar nas páginas dos jornais e revistas da grande imprensa.
Há muito tempo, a grande imprensa não dá conta de fazer uma boa cobertura do mercado editorial. O mercado cresceu, e o número de jornalistas dedicados a livros nos jornais, revistas e mesmo sites diminuiu muito. Era preciso redefinir um modo de construir os acervos do sistema – e doação não pode ser o principal meio de adquirir exemplares.
A prefeitura de São Paulo compra livros, mas não é uma grande compradora. Além disso, ela tradicionalmente compra de forma concentrada das editoras mais conhecidas ou que conhecem melhor a burocracia do sistema. Em 2016, foram comprados, segundo dados do próprio sistema, apenas 15.964 exemplares pela Secretaria da Cultura. É uma quantidade ínfima de livros, considerando o tamanho da rede e as necessidade de reposição e atualização das bibliotecas.
Não há dados muito precisos sobre a diversidade dessa compra, justamente porque essa questão ainda não foi inteiramente incorporada no dia a dia dos agentes do Estado na área: nesse sentido, o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de São Paulo é realmente inovador e pode mudar a relação do paulistano com suas bibliotecas públicas.
Um dos resultados concretos mais importantes do PMLLLB-SP foi a criação, ainda em 2016, de um grupo de trabalho para discutir políticas de desenvolvimento de coleções (é mais amplo que aquisição). Eu representei os editores na discussão, que envolveu escritores, bibliotecários e integrantes da secretaria de cultura. O relatório final desse grupo de trabalho está para ser concluído.
Ainda sobre doações, há um estudo interessante sobre as distorções que as doações de livros de países ricos causam nos mercados editoriais da África. A editora Marie Michèle Razafinstsalama, de Madagascar, integrante da Aliança Internacional dos Editores Independentes, fez um extenso relatório sobre como as doações europeias, sobretudo francesas no caso da ilha africana, enfraquecem a produção e a circulação das editoras locais, que não conseguem competir com livros doados pela ex-potencial imperial.
O resultado das doações eram livros pouco úteis, portadores de ideologia e informações europeias e que dificultavam a produção e a circulação local de obras. As constantes críticas dos editores africanos às doações europeias e norte-americanos mudou a política de doações, que passou a ser mais seletiva e complementar à produção local, mas esse processo, herença de uma triste política colonial, ainda produz efeitos perversos nas políticas de leitura dos países africanos.
Quando a prefeitura quer transformar a política de doação numa política de construção de acervo, o resultado pode ser bibliotecas cheias de livros que espantam leitores. Em lugar da diversidade cultural, vamos ter a hegemonia cultural e ideológica do “bom gosto” das grandes editoras. O gosto, as necessidades e o interesse dos frequentadores atuais e potenciais das bibliotecas será colocado em segundo plano.
O resultado disso pode ser uma biblioteca morta.
Haroldo Ceravolo
Agora, uma explicação: não vou falar da administração Dória, vou falar da administração Kassab.
O secretário de Cultura da época havia sido meu professor na Escola de Comunicações e Artes. Ótimo professor, diga-se de passagem. Havia participado ativamente da gestão Marta Suplicy, dirigindo o Centro Cultural São Paulo. E coube a ele a tarefa de concluir uma reforma da Biblioteca Mário de Andrade.
 |
| Marjolein Bastin |
Marcamos uma reunião com diversos pequenos e médios editores. O secretário entendeu a questão. Não desqualificou a demanda de uma política de coleções que fosse além do pedido de doação.
Sim, porque uma biblioteca pública, e uma biblioteca pública do porte da Mário de Andrade menos ainda, não pode se contentar com as doações que recebe. Não pode ter, como principal política de construção de sua coleção, o recebimento de livros cujos títulos não sabe de antemão, cujos sentido não seja orientado para um projeto cultural, cujo interesse na doação seja, talvez, apenas desovar o estoque de uma tiragem superdimensionada de um livro inútil.
A política de construção de coleções é uma coisa séria. E os editores, em 2015, numa das 40 reuniões plenárias realizadas para discutir o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB-SP), deixaram bem claro um problema estrutural da cidade de São Paulo: a política de construção de coleções era errática e baseada, essencialmente, na seleção de livros que vão parar nas páginas dos jornais e revistas da grande imprensa.
Há muito tempo, a grande imprensa não dá conta de fazer uma boa cobertura do mercado editorial. O mercado cresceu, e o número de jornalistas dedicados a livros nos jornais, revistas e mesmo sites diminuiu muito. Era preciso redefinir um modo de construir os acervos do sistema – e doação não pode ser o principal meio de adquirir exemplares.
A prefeitura de São Paulo compra livros, mas não é uma grande compradora. Além disso, ela tradicionalmente compra de forma concentrada das editoras mais conhecidas ou que conhecem melhor a burocracia do sistema. Em 2016, foram comprados, segundo dados do próprio sistema, apenas 15.964 exemplares pela Secretaria da Cultura. É uma quantidade ínfima de livros, considerando o tamanho da rede e as necessidade de reposição e atualização das bibliotecas.
Não há dados muito precisos sobre a diversidade dessa compra, justamente porque essa questão ainda não foi inteiramente incorporada no dia a dia dos agentes do Estado na área: nesse sentido, o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de São Paulo é realmente inovador e pode mudar a relação do paulistano com suas bibliotecas públicas.
Um dos resultados concretos mais importantes do PMLLLB-SP foi a criação, ainda em 2016, de um grupo de trabalho para discutir políticas de desenvolvimento de coleções (é mais amplo que aquisição). Eu representei os editores na discussão, que envolveu escritores, bibliotecários e integrantes da secretaria de cultura. O relatório final desse grupo de trabalho está para ser concluído.
Ainda sobre doações, há um estudo interessante sobre as distorções que as doações de livros de países ricos causam nos mercados editoriais da África. A editora Marie Michèle Razafinstsalama, de Madagascar, integrante da Aliança Internacional dos Editores Independentes, fez um extenso relatório sobre como as doações europeias, sobretudo francesas no caso da ilha africana, enfraquecem a produção e a circulação das editoras locais, que não conseguem competir com livros doados pela ex-potencial imperial.
O resultado das doações eram livros pouco úteis, portadores de ideologia e informações europeias e que dificultavam a produção e a circulação local de obras. As constantes críticas dos editores africanos às doações europeias e norte-americanos mudou a política de doações, que passou a ser mais seletiva e complementar à produção local, mas esse processo, herença de uma triste política colonial, ainda produz efeitos perversos nas políticas de leitura dos países africanos.
Quando a prefeitura quer transformar a política de doação numa política de construção de acervo, o resultado pode ser bibliotecas cheias de livros que espantam leitores. Em lugar da diversidade cultural, vamos ter a hegemonia cultural e ideológica do “bom gosto” das grandes editoras. O gosto, as necessidades e o interesse dos frequentadores atuais e potenciais das bibliotecas será colocado em segundo plano.
O resultado disso pode ser uma biblioteca morta.
Haroldo Ceravolo
quinta-feira, março 30
Bons enredos
Ao enviar-me mensalmente o seu "Abecedário do Leitor", o meu amigo Adolfo García Ortega ensina-me muitas coisas sobre livros e relembra-me outras tantas, algumas enterradas nos confins da memória. A última tinha que ver com um certo conto de Georges Perec chamado "A Viagem de Inverno" que li na saudosa Ficções, revista de contos dirigida por Luísa Costa Gomes que, infelizmente, deixou de ser publicada há muito. O enredo era fascinante: a história de um literato que encontra na casa de campo de uns amigos um livro de um escritor chamado Hugo Vernier, de quem nunca ouviu falar, e se sente imediatamente atraído pelas primeiras páginas; lê-o de ponta a ponta nessa noite, mas tudo aquilo lhe soa estranhamente familiar, chegando à conclusão de que o texto é uma espécie de soma de versos de poetas famosos, como Lautréamont, Verlaine, Rimbaud e muitos outros. Põe a hipótese de Vernier ser um impostor, mas, ao consultar a sua biografia no volume que tem em mãos, descobre que nasceu muito antes dos "seus" poetas… Será então Vernier um gênio desconhecido e plagiado por tantos grandes poetas que, por razões óbvias, nunca referiram o seu nome? O professor está obviamente interessado em saber mais, mas, quando se prepara para ir à biblioteca no dia seguinte, é levado de surpresa para um quartel (estamos em 1940) e só volta depois do fim da guerra (onde nunca esquece, porém, o assunto). Quando em 1945 tenta recuperar o livro – que não encontra em biblioteca nenhuma –, sabe que a casa dos amigos foi destruída pelos bombardeamentos… E, incapaz de cessar a investigação, acaba louco, internado num hospício. Embora a literatura seja sobretudo linguagem, como dizem alguns (e têm razão), quem consegue criar um enredo destes já tem a vida muito facilitada. Às vezes, os contos têm enredos bem melhores do que certos romances. E Perec consegue neste seu conto uma contenção que em certas ficções mais longas faz muita falta.
Passeio ao Pão de Açúcar
 |
| Felisberto Ranzini (Brasil, 1881-1976) |
Uma coisa fabulosa que fiquei devendo ao noivado de minha prima foi a excursão que fizemos ao Pão de Açúcar nos bondinhos aéreos inaugurados em 1912 e 1913. Tinham quatro para cinco anos e eram uma novidade que o Joaquim Antônio queria comparar com os que vira na Europa. Combinou-se o passeio e ele próprio me incluiu no grupo dizendo que “mestre Pedro vai conosco”. Éramos ele, eu, a noiva, tia Candoca e a Mercedes Albano. Para essa coisa meio esportiva que era a ascensão que ia ser feita, vesti meu terno número um, o Joaquim Antônio colarinho duro de pontas viradas, a Maria e a Mercedes grandes chapéus e vestidos escuros, a futura sogra sedas, veludos pretos e uma toque alta de pluma póstero-lateral. Exatamente, pois possuo os retratos tirados nesse dia inesquecível. Lanchamos na Urca — chá, torradas, sanduíches, mineral e para mim, tudo isso e o céu também — gasosa! Subimos depois do por do sol e o acender das luzes da cidade nas alturas do Pão de Açúcar dos ventos uivantes. Não sei dos outros. No cocuruto eu desci um pouco no declive que dá para o maralto, sentei no granito e olhei. Jamais reencontrei coisa igual senão quando, em Capri, subi à casa de Axel Münthe e no dia em que sobrevoei Creta para descer em Heraclion. Estavam presentes todas as cores e cambiantes que vão do verde e do glauco aos confins do espetro, ao violeta, ao roxo. Azul. Marazul. Azurescências, azurinos, azuis de todos os tons e entrando por todos os sentidos. Azuis doce como o mascavo, como o vinho do Porto, secos como o lápis-lazúli, a lazulite e o vinho da Madeira, azul gustativo e saboroso como o dos frutos cianocarpos. Duro como o da ardósia e mole como os dos agáricos. Tinha-se a sensação de estar preso numa Grotta Azzurra mas gigantesca ou dentro do cheiro de flores imensas íris desmesuradas nuvens de miosótis hortênsias — só que tudo rescendendo ao cravo — flor que tem de cerúleo o perfume musical de Sonata ao Luar. Malva-rosa quando vira rosazul. Aos nossos pés junto à areia de prata das reentrâncias do Cara-de-Cão, ou do cinábrio da Praia Vermelha, o mar profundo abria as asas do azulão de Ovale e clivava chapas da safira que era ver as águas das costas da Bahia. Escuro como o anilíndigo do pano da roupa que me humilhava nos tempos do Anglo-Mineiro. Mas olhava-se para os lados de Copacabana e das orlas fronteiras além de Santa-Cruz e o meitleno marinho se adoçava azul Picasso, genciana, vinca-pervinca. As ilhas surgiam com cintilações tornassóis e viviam em azuis fosforescentes e animais como o da cauda seabrindo pavão, do rabo-do-peixe barbo, dos alerões das borboletas capitão-do-mato da Floresta da Tijuca. Olhos para longe, mais lonjainda — e horizontes agora Portinari, virando num natiê quase cinza, brando, quase branco se rebatendo para as mais altas das alturas celestes azul celeste azur só possível devido a um sol de bebedeira derretendo os contornos as formas e virando tudo no desmaio turquesa e ouro e laranja dos mais alucinados Monets Degas Manets Sisleys Pissarros. Mas súbito veio o negro da noite acabando a tarde impressionista. As luzes se acenderam em toda a cidade mais vivas na fímbria orlando o oceano furioso. Eu nem me lembro como vim rolando Pão de Açúcar abaixo aos trancos e barrancos daquele dia vinho branco…”
terça-feira, março 28
Prece
Vendedor de livros
| Cego vendedor de livros de cordel (séc. XVIII) |
Um ceguinho, em toada monocórdica, apregoava umas folhinhas toscamente impressas que tinha penduradas de um cordel:
− Olhai a maravilhosa história da imperatriz Porcina, mulher do imperador Lodónio de Roma, em a qual se trata como o dito imperador mandou matar a esta senhora!...
Concorriam pessoas a ouvirem, boquiabertas:
− Aqui está a história jocosa dos três corcovados de Setúbal, Lucrécio, Flaviano e Juliano ! É só meio vintém cada folheto !... − dizia a mulher que acompanhava o cego.
− Lede o miraculoso caso − continuava o homem − de Roberto do Diabo que acabou sendo Roberto de Deus, ou o da Princesa Magalona, que, perdida do seu amado, atravessou adversidades e obstáculos sem conta, até reencontrar a felicidade nos braços do marido...
− Ajudai o poeta cego Baltasar Dias − gritava a voz esganiçada da mulher − a quem el-rei nosso senhor deu privilégio de caridade para poder imprimir os seus autos e rimances. Olha o auto de Santo Aleixo filho de Eufêmiano senador de Roma, e o de Santa Catarina virgem e mártir, e o de el-rei Salamão, e o da feira da ladra! Tudo obras do poeta cego Baltasar Dias aqui presente! Comprai, comprai, que tudo é barato! Custam apenas um vintém os quatro autos !... Olha o auto do nascimento de Cristo e a tragédia do marquês de Mântua, e o auto da malícia das mulheres... Quem quer comprar, quem quer?...
Baltasar Dias era um homem dos seus quarenta anos. As suas feições impressionavam pela tez branca como cera, pelo suave sorriso que delineava a comissura dos lábios exangues, pela serenidade interior que dele irradiava e era sublinhada pela ausência de chama e viveza do olhar, pois tinha as pálpebras totalmente cerradas. Conquanto estivesse longe de possuir o sal e o engenho de mestre Gil Vicente, escrevia autos, farsas e pequenas histórias que na sua singeleza agradavam ao povo e que ele próprio vinha, com a mulher, vender pelas ruas e arcadas de Lisboa. Vendia também folhas volantes e obras de outros autores, algumas delas versões em linguagem das que corriam noutras nações, e assim ia angariando o seu sustento.
Ele e a mulher continuavam a apregoar estranhos casos e mirabolantes sucessos de lobisomens e de dragos, de sereias e de homens marinhos e de não sei que mais. Muitas pessoas compravam, dando um pouco de descanso às vozes enrouquecidas dos vendedores.
Eu fui um óptimo freguês, como sempre levado pela minha curiosidade e ânsia de ler. Já virava costas, com a minha mercadoria, recomeçava a lengalenga:
− Olha o relato verídico do triste naufrágio da nau São Gabriel, que regressava da índia Oriental, e do que aconteceu aos sobreviventes na selva do Cabo ! − gritava a mulher, ao passo que a voz calma e lenta do cego anunciava "a mui nomeada e agradável égloga chamada Crisfal, que conta os infelizes amores de Cristóvão Falcão ao que parece aludir o nome da mesma écloga".
Fernando Campos, "A Casa do Pó"
segunda-feira, março 27
Assim começa o livro...

Então aqui estou, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher. Braços cruzados pacientemente, esperando, esperando e me perguntando dentro de quem estou, o que me aguarda. Meus olhos se fecham com nostalgia quando lembro como vaguei antes em meu diáfano invólucro corporal, como flutuei sonhadoramente na bolha de meus pensamentos num oceano particular, dando cambalhotas em câmera lenta, colidindo de leve contra os limites transparentes do meu local de confinamento, a membrana que vibrava, embora as abafasse, com as confidências dos conspiradores engajados numa empreitada maléfica. Isso foi na minha juventude despreocupada. Agora, em posição totalmente invertida, sem um centímetro de espaço para mim, joelhos apertados contra a barriga, meus pensamentos e minha cabeça estão de todo ocupados. Não tenho escolha, meu ouvido está pressionado noite e dia contra as paredes onde o sangue circula. Escuto,tomo notas mentais, estou inquieto. Ouço conversas na cama sobre intenções letais e me sinto aterrorizado com o que me
Estou mergulhado em abstrações, e só as crescentes relações entre elas criam a ilusão de um mundo conhecido. Quando ouço a palavra “azul”, que nunca vi, imagino um tipo de acontecimento mental muito próximo de “verde” — que também nunca vi. Considero‑me um inocente, descomprometido com lealdades e obrigações, um espírito livre, apesar do pouco espaço de que disponho. Ninguém para me contradizer ou repreender, sem nome nem endereço anterior, sem religião, sem dívidas, sem inimigos. Minha agenda, se existisse, registraria apenas meu futuro dia de nascimento. Sou, ou era, apesar do que dizem agora os geneticistas, uma lousa em branco. Mas uma lousa porosa e escorregadia, inútil para ser usada numa sala de aula ou no telhado de uma cabana, uma lousa que escreve por si mesma à medida que cresce a cada dia e se torna menos branca. Considero‑me um inocente, mas tudo indica que participo de uma conspiração. Minha mãe,abençoado seja seu incansável e barulhento coração, parece estar envolvida.
domingo, março 26
Leitura, segundo André Kertész



Entre 1920 e 1970, o fotógrafo húngaro André Kertész registrou pessoas lendo em várias partes do mundo. As fotos fazem parte do livro "On Reading"
Relegado ao pó
Um pouco de silêncio
Nesta trepidante cultura nossa, da agitação e do barulho, gostar de sossego é uma excentricidade.
Sob a pressão do ter de parecer, ter de participar, ter de adquirir, ter de qualquer coisa, assumimos uma infinidade de obrigações. Muitas desnecessárias, outras impossíveis, algumas que não combinam connosco nem nos interessam.
Não há perdão nem amnistia para os que ficam de fora da ciranda: os que não se submetem mas questionam, os que pagam o preço da sua relativa autonomia, os que não se deixam escravizar, pelo menos sem alguma resistência.
O normal é ser atualizado, produtivo e bem informado. É indispensável circular, ser bem-relacionado. Quem não corre com a manada, praticamente nem existe. Se não tomar cuidado, põem-no numa jaula: um animal estranho.
Pressionados pelo relógio, pelos compromissos, pela opinião alheia, disparamos sem rumo – ou por trilhos determinados – como hamsteres que se alimentam da sua própria agitação.
Ficar sossegado é perigoso: pode parecer doença. Recolher-se em casa ou dentro de si mesmo ameaça quem apanha um susto de cada vez que examina a sua alma.
Estar sozinho é considerado humilhante, sinal de que não «se arranjou» ninguém – como se a amizade ou o amor se «arranjasse» numa loja.
Além do desgosto pela solidão, temos horror à quietude. Pensamos logo em depressão: quem sabe terapia e antidepressivos? Uma criança que não brinca ou salta ou participa de actividades frenéticas está com algum problema.
O silêncio assusta-nos por retumbar no vazio dentro de nós. Quando nada se move nem faz barulho, notamos as frestas pelas quais nos espiam coisas incómodas e mal-resolvidas, ou se observa outro ângulo de nós mesmos. Damo-nos conta de que não somos apenas figurinhas atarantadas correndo entre a casa, o trabalho e o bar, a praia ou o campo.
Existe em nós, geralmente nem percebido e nada valorizado, algo para além desse que paga contas, faz amor, ganha dinheiro, e come, envelhece, e um dia (mas isso é só para os outros!) vai morrer. Quem é esse que afinal sou eu? Quais os seus desejos e medos, os seus projectos e sonhos?
No susto que essa ideia provoca, queremos ruído, ruídos. Chegamos a casa e ligamos a televisão antes de largarmos a carteira ou a pasta. Não é para assistirmos a um programa: é pela distracção.
O silêncio faz pensar, remexe águas paradas, trazendo à tona sabe Deus que desconcerto nosso. Com medo de vermos quem – ou o que – somos, adiamos o confronto com a nossa alma sem máscaras.
Mas, se aprendermos a gostar um pouco de sossego, descobrimos – em nós e no outro – regiões nem imaginadas, questões fascinantes e não necessariamente negativas.
Nunca esqueci a experiência de quando alguém me pôs a mão no meu ombro de criança e disse:
— Fica quietinha um momento só, escuta a chuva a chegar.
E ela chegou: intensa e lenta, tornando tudo singularmente novo. A quietude pode ser como essa chuva: nela nos refazemos para voltarmos mais inteiros ao convívio, às tantas frases, às tarefas, aos amores.
Então, por favor, dêem-me isso: um pouco de silêncio bom, para que eu escute o vento nas folhas, a chuva nas lajes, e tudo o que fala muito para além das palavras de todos os textos e da música de todos os sentimentos.
Lya Luft
Sob a pressão do ter de parecer, ter de participar, ter de adquirir, ter de qualquer coisa, assumimos uma infinidade de obrigações. Muitas desnecessárias, outras impossíveis, algumas que não combinam connosco nem nos interessam.
Não há perdão nem amnistia para os que ficam de fora da ciranda: os que não se submetem mas questionam, os que pagam o preço da sua relativa autonomia, os que não se deixam escravizar, pelo menos sem alguma resistência.
| Léon-Jean-Basile Perrault, “Méditation” |
Pressionados pelo relógio, pelos compromissos, pela opinião alheia, disparamos sem rumo – ou por trilhos determinados – como hamsteres que se alimentam da sua própria agitação.
Ficar sossegado é perigoso: pode parecer doença. Recolher-se em casa ou dentro de si mesmo ameaça quem apanha um susto de cada vez que examina a sua alma.
Estar sozinho é considerado humilhante, sinal de que não «se arranjou» ninguém – como se a amizade ou o amor se «arranjasse» numa loja.
Além do desgosto pela solidão, temos horror à quietude. Pensamos logo em depressão: quem sabe terapia e antidepressivos? Uma criança que não brinca ou salta ou participa de actividades frenéticas está com algum problema.
O silêncio assusta-nos por retumbar no vazio dentro de nós. Quando nada se move nem faz barulho, notamos as frestas pelas quais nos espiam coisas incómodas e mal-resolvidas, ou se observa outro ângulo de nós mesmos. Damo-nos conta de que não somos apenas figurinhas atarantadas correndo entre a casa, o trabalho e o bar, a praia ou o campo.
Existe em nós, geralmente nem percebido e nada valorizado, algo para além desse que paga contas, faz amor, ganha dinheiro, e come, envelhece, e um dia (mas isso é só para os outros!) vai morrer. Quem é esse que afinal sou eu? Quais os seus desejos e medos, os seus projectos e sonhos?
No susto que essa ideia provoca, queremos ruído, ruídos. Chegamos a casa e ligamos a televisão antes de largarmos a carteira ou a pasta. Não é para assistirmos a um programa: é pela distracção.
O silêncio faz pensar, remexe águas paradas, trazendo à tona sabe Deus que desconcerto nosso. Com medo de vermos quem – ou o que – somos, adiamos o confronto com a nossa alma sem máscaras.
Mas, se aprendermos a gostar um pouco de sossego, descobrimos – em nós e no outro – regiões nem imaginadas, questões fascinantes e não necessariamente negativas.
Nunca esqueci a experiência de quando alguém me pôs a mão no meu ombro de criança e disse:
— Fica quietinha um momento só, escuta a chuva a chegar.
E ela chegou: intensa e lenta, tornando tudo singularmente novo. A quietude pode ser como essa chuva: nela nos refazemos para voltarmos mais inteiros ao convívio, às tantas frases, às tarefas, aos amores.
Então, por favor, dêem-me isso: um pouco de silêncio bom, para que eu escute o vento nas folhas, a chuva nas lajes, e tudo o que fala muito para além das palavras de todos os textos e da música de todos os sentimentos.
Lya Luft
sábado, março 25
Vagões do fracassado Trem do Pantanal vão virar bibliotecas
Dois vagões do Trem do Pantanal que não eram usados há quase três anos, desde o fim da rota turística em 2014, serão transformados em uma biblioteca em Aquidauana, a 135 quilômetros de Campo Grande. Nessa terça-feira (22) eles foram guinchados e levados de caminhão para o município, onde serão revitalizados.
A atração administrada pela paranaense Serra Verde Express foi inaugurada em 2009. A primeira viagem comercial foi um prelúdio do fracasso: 40% dos assentos foram ocupados.
Entre os motivos que levaram ao fracasso do projeto, primeiro está a rota, que não chegava a Corumbá como a linha original que rodou entre as décadas de 1960 e 1980. Em segundo lugar a velocidade da composição, que era lenta e tornava a viagem cansativa.
O empresário da Serra Verde Adonai Aires disse ao Campo Grande News que parte dos vagões foram cedidos pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e o restante pelo Governo do Estado. Todos foram devolvidos quando as operações foram encerradas.
Athayde Nery, secretário estadual de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, diz que o projeto da biblioteca partiu da prefeitura de Aquidauana e os vagões usados são aqueles do Governo Federal. O Estado acompanhou as negociações para cedência e tentará ajudar comprando livros para serem colocados quando o empreendimento estiver pronto.
Os vagões já foram colocados em um terreno onde serão transformados em biblioteca. O local será mantido por uma instituição de Aquidauana. O espaço antes funcionava em um prédio alugado.
Fonte: Campo Grande News
A atração administrada pela paranaense Serra Verde Express foi inaugurada em 2009. A primeira viagem comercial foi um prelúdio do fracasso: 40% dos assentos foram ocupados.
O empresário da Serra Verde Adonai Aires disse ao Campo Grande News que parte dos vagões foram cedidos pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e o restante pelo Governo do Estado. Todos foram devolvidos quando as operações foram encerradas.
Athayde Nery, secretário estadual de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, diz que o projeto da biblioteca partiu da prefeitura de Aquidauana e os vagões usados são aqueles do Governo Federal. O Estado acompanhou as negociações para cedência e tentará ajudar comprando livros para serem colocados quando o empreendimento estiver pronto.
Os vagões já foram colocados em um terreno onde serão transformados em biblioteca. O local será mantido por uma instituição de Aquidauana. O espaço antes funcionava em um prédio alugado.
Fonte: Campo Grande News
Viúva na praia
Ivo viu a uva; eu vi a viúva. Ia passando na praia, vi a viúva, a viúva na praia me fascinou. Deitei-me na areia, fiquei a contemplar a viúva.
0 enterro passara sob a minha janela; o morto eu o conhecera vagamente; no café da esquina. a gente se cumprimentava às vezes, murmurando “bom dia”; era um homem forte, de cara vermelha; as poucas vezes que o encontrei com a mulher ele não me cumprimentou, fazia que não me via; e eu também. Lembro-me de que uma vez perguntei os horas ao garçom, e foi aquele homem que respondeu; agradeci; este foi nosso maior diálogo. Só ia à praia aos domingos, mas ia de carro, um “Citroen”, com a mulher, o filho e a barraca, para outra praia mais longe. A mulher ia às vezes à praia com o menino, em frente à minha esquina, mas só no verão. Eu passava de longe; sabia quem era, que era casada, que talvez me conhecesse de vista; eu não a olhava de frente.
A morte do homem foi comentada no café; eu soube, assim, que ele passara muitos meses doente, sofrera muito, morrera muito magro e sem cor. Eu não dera por sua falta, nem soubera de sua doença.

E agora estou deitado na areia, vendo a sua viúva. Deve uma viúva vir à praia? Nossa praia não é nenhuma festa; tem pouca gente; além disso, vamos supor que ela precise trazer o menino, pois nunca a vi sozinha na praia. E seu maiô é preto. Não que o tenha comprado por luto; já era preto. E ela tem, como sempre, um ar decente; não olha para ninguém, a não ser para o menino, que deve ter uns dois anos.
Se eu fosse casado, e morresse, gostaria de saber que alguns dias depois minha viúva iria à praia com meu filho — foi isso o que pensei, vendo a viúva. É bem bonita, a viúva. Não é dessas que chamam a atenção; é discreta, de curvas discretas, mas certas. Imagino que deve ter 27 anos; talvez menos, talvez mais, até 30. Os cabelos são bem negros; os olhos são um pouco amendoados, o nariz direito, a boca um pouco dentucinha, só um pouco; a linha do queixo muito nítida.
Ergueu-se, porque, contra suas ordens, o garoto voltou a entrar n’água. Se eu fosse casado, e morresse, talvez ficasse um pouco ressentido ao pensar que, alguns dias depois, um homem — um estranho, que mal conheço de vista, do café — estaria olhando o corpo de minha mulher na praia. Mesmo que olhasse sem impertinência, antes de maneira discreta, como que distraído.
Mas eu não morri; e eu sou o outro homem. E a idéia de que o defunto ficaria ressentido se acaso imaginasse que eu estaria aqui a reparar no corpo de sua viúva, essa idéia me faz achá-lo um tolo, embora, a rigor, eu não possa lhe imputar essa idéia, que é minha. Eu estou vivo, e isso me dá uma grande superioridade sobre ele.
Vivo! Vivo como esse menino que ri, jogando água no corpo da mãe que vai buscá-lo. Vivo como essa mulher que pisa a espuma e agora traz ao colo o garoto já bem crescido. 0 esforço faz-lhe tensos os músculos dos braços e das coxas; é bela assim, marchando com a sua carga querida.
Agora o garoto fica brincando junto à barraca e é ela que vai dar um mergulho rápido, para se limpar da areia. Volta. Não, a viúva não está de luto, a viúva está brilhando de sol, está vestida de água e de luz. Respira fundo o vento do mar, tão diferente daquele ar triste do quarto fechado do doente, em que viveu meses. Vendo seu homem se finar; vendo-o decair de sua glória de homem fortão de cara vermelha e de seu império de homem da mulher e pai do filho, vendo-o fraco e lamentável, impertinente e lamurioso como um menino, às vezes até ridículo, às vezes até nojento…
Ah, não quero pensar nisso. Respiro também profundamente o ar limpo e livre. Ondas espoucam ao sol. O sol brilha nos cabelos e na curva de ombro da viúva. Ela está sentada, quieta, séria, uma perna estendida, outra em ângulo. 0 sol brilha também em seu joelho. O sol ama a viúva. Eu vejo a viúva.
0 enterro passara sob a minha janela; o morto eu o conhecera vagamente; no café da esquina. a gente se cumprimentava às vezes, murmurando “bom dia”; era um homem forte, de cara vermelha; as poucas vezes que o encontrei com a mulher ele não me cumprimentou, fazia que não me via; e eu também. Lembro-me de que uma vez perguntei os horas ao garçom, e foi aquele homem que respondeu; agradeci; este foi nosso maior diálogo. Só ia à praia aos domingos, mas ia de carro, um “Citroen”, com a mulher, o filho e a barraca, para outra praia mais longe. A mulher ia às vezes à praia com o menino, em frente à minha esquina, mas só no verão. Eu passava de longe; sabia quem era, que era casada, que talvez me conhecesse de vista; eu não a olhava de frente.
A morte do homem foi comentada no café; eu soube, assim, que ele passara muitos meses doente, sofrera muito, morrera muito magro e sem cor. Eu não dera por sua falta, nem soubera de sua doença.

Se eu fosse casado, e morresse, gostaria de saber que alguns dias depois minha viúva iria à praia com meu filho — foi isso o que pensei, vendo a viúva. É bem bonita, a viúva. Não é dessas que chamam a atenção; é discreta, de curvas discretas, mas certas. Imagino que deve ter 27 anos; talvez menos, talvez mais, até 30. Os cabelos são bem negros; os olhos são um pouco amendoados, o nariz direito, a boca um pouco dentucinha, só um pouco; a linha do queixo muito nítida.
Ergueu-se, porque, contra suas ordens, o garoto voltou a entrar n’água. Se eu fosse casado, e morresse, talvez ficasse um pouco ressentido ao pensar que, alguns dias depois, um homem — um estranho, que mal conheço de vista, do café — estaria olhando o corpo de minha mulher na praia. Mesmo que olhasse sem impertinência, antes de maneira discreta, como que distraído.
Mas eu não morri; e eu sou o outro homem. E a idéia de que o defunto ficaria ressentido se acaso imaginasse que eu estaria aqui a reparar no corpo de sua viúva, essa idéia me faz achá-lo um tolo, embora, a rigor, eu não possa lhe imputar essa idéia, que é minha. Eu estou vivo, e isso me dá uma grande superioridade sobre ele.
Vivo! Vivo como esse menino que ri, jogando água no corpo da mãe que vai buscá-lo. Vivo como essa mulher que pisa a espuma e agora traz ao colo o garoto já bem crescido. 0 esforço faz-lhe tensos os músculos dos braços e das coxas; é bela assim, marchando com a sua carga querida.
Agora o garoto fica brincando junto à barraca e é ela que vai dar um mergulho rápido, para se limpar da areia. Volta. Não, a viúva não está de luto, a viúva está brilhando de sol, está vestida de água e de luz. Respira fundo o vento do mar, tão diferente daquele ar triste do quarto fechado do doente, em que viveu meses. Vendo seu homem se finar; vendo-o decair de sua glória de homem fortão de cara vermelha e de seu império de homem da mulher e pai do filho, vendo-o fraco e lamentável, impertinente e lamurioso como um menino, às vezes até ridículo, às vezes até nojento…
Ah, não quero pensar nisso. Respiro também profundamente o ar limpo e livre. Ondas espoucam ao sol. O sol brilha nos cabelos e na curva de ombro da viúva. Ela está sentada, quieta, séria, uma perna estendida, outra em ângulo. 0 sol brilha também em seu joelho. O sol ama a viúva. Eu vejo a viúva.
Rubem Braga
sexta-feira, março 24
Mais da metade dos brasileiros lê livros uma vez por semana
| Michael Mao |
No Brasil, o levantamento aponta que as mulheres leem mais vezes que os homens. Os adolescentes, na faixa etária de 15 a 19 anos, são o segmento que mais lê semanalmente, seguido do público que tem entre 20 e 29 anos.
Fonte: Época
Assim começa o livro
Compro o quinto volume da correspondência de Machado de Assis na manhã do dia 24 de junho de 2015. Datas-limite definem e recobrem o material anotado com competência por especialistas e publicado pela Academia Brasileira de Letras: 1905-1908. Se recortada, a curta fração de tempo ganha o formato de ponto de interrogação e sobressai de forma agressiva e incontornável. Os nove caracteres — oito algarismos unidos quatro a quatro por traço — vêm impressos em negro na capa que guarnece cartas e mais cartas de Machado de Assis e de seus correspondentes. É inestimável a valia do volume para o estudioso da literatura ou para o simples observador da história nacional no início do século xx. Lá dentro, entre 1905 e 1908, se desenrola o cotidiano dos últimos anos de vida do grande romancista brasileiro que nasce na corte imperial em 1839. Passa toda a vida na metrópole, com curta estada em Petrópolis e em Nova Friburgo, e vem a falecer no bairro do Cosme Velho, em setembro de 1908, viúvo da portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novais, e sem filhos.
Fixo os olhos no lado de fora do volume. Aprecio a curta fração de tempo que acoberta a reta final duma compacta e misteriosa vida profissional, vivida de modo a realçar os valores nobres que uma nação formada por indígenas, conquistadores lusitanos, escravos africanos e colonos europeus pode manifestar no Novo Mundo. Salienta-se a reta final duma vida bem tecida com amizades e amor, de muito trabalho e muito sofrida.
quinta-feira, março 23
Para entender o abismo
Talvez uma biblioteca não seja um paraíso (este território idílico e perfeito), mas é seguramente um refúgio a todos que buscam se interrogar sobre si mesmo e sobre o mundo que nos rodeia. Como diz a poeta polonesa Wislawa Szymborska: “O abismo não nos divide. O abismo nos cerca”.
E para tentar entender este abismo, nada melhor que percorrer os corredores e estantes de uma bibliotecaRogério Pereira
O livro
| Thiago Salcedo |
continua aberto,
como se ferido por um tiro”
Thomas Transtömer
O livro que alguém deixou cair
ao adormecer
continua aberto
ave abatida no voo
caída
com as asas abertas
ao pé da cama
o livro que alguém deixou
cair
crucificado
ao lado da cama
permanece acordado
ou cai também no sono
e sonha também
embaralhando as linhas
sonha que é pássaro
ou parede
sonha que lhe devolvem
a brancura original
que pode enfim não dizer nada
sonha que fala numa língua sem língua que todos entendem
sonha que conhece a água sem a destruição
sonha que as palavras se arruínam mas ele mesmo não se arruína
sonha que é de novo árvore, de novo floresta
sonha de novo suas ramas, sua seiva, suas flores
sonha que é uma vela aberta
que o outono alcança também
as folhas dos livros
sonha que doura ao sol
sua pele de papel
o livro que alguém deixou
cair
ao lado da cama
partitura para música
nenhuma
mapa para
nenhum lugar
caído no sono
do seu próprio peso
continua aceso
como uma lâmpada esquecida acesa
ao lado da cama
Ana Martins Marques
quarta-feira, março 22
Sempre recomendável
Assim começa o livro...
Tudo começa sempre com um adeus. Esta história principia por um desfecho: o da minha adolescência Aos quinze anos, numa pequena canoa, eu deixava para trás a minha aldeia e o meu passado. Algo, porém, me dizia que, mais à frente, iria reencontrar antigas amarguras. A canoa afastava‑me de Nkokolani, mas trazia para mais perto os meus mortos.
Há dois dias que tínhamos saído de Nkokolani subindo até à nascente do rio em direção a Mandhlakazi, terra que os portugueses chamavam de Manjacaze. Viajávamos com o meu irmão Mwanatu à frente e o meu velho pai na popa. Na canoa seguiam, além dos meus familiares, o sargento Germano de Melo e a sua amiga italiana Bianca Vanzini.
Sem pausa, os remos golpeavam o rio. E tinha que ser assim: conduzíamos Germano de Melo ao único hospital em toda a região de Gaza. O sargento vira as mãos despedaçadas num acidente de que eu fora responsável. Disparara sobre ele para salvar Mwanatu que caminhava à frente de uma multidão prestes a assaltar o quartel defendido pelo solitário Germano.
Era imperioso apressarmo‑nos para Mandhlakazi, onde trabalhava o único médico em toda a nossa nação: o missionário Georges Liengme. Os protestantes suíços escolheram com critério um local para erguer o hospital: junto da corte do imperador Ngungunyane e longe dasautoridades portuguesas.
O remorso pesou sobre mim durante toda a viagem. O tiro desfizera uma boa parte das mãos do português, aquelas mesmas mãos que eu, tantas vezes, ajudara a renascer dos delírios que o afligiam. Os másculos dedos com que tanto sonhara tinham‑se evaporado.
Durante todo o caminho mantive os pés submersos no fundo encharcado da canoa, onde a água havia‑se tingido de vermelho. Diz‑se que morremos por perder sangue. É o inverso. Morremos afogados nele.
Há dois dias que tínhamos saído de Nkokolani subindo até à nascente do rio em direção a Mandhlakazi, terra que os portugueses chamavam de Manjacaze. Viajávamos com o meu irmão Mwanatu à frente e o meu velho pai na popa. Na canoa seguiam, além dos meus familiares, o sargento Germano de Melo e a sua amiga italiana Bianca Vanzini.
Sem pausa, os remos golpeavam o rio. E tinha que ser assim: conduzíamos Germano de Melo ao único hospital em toda a região de Gaza. O sargento vira as mãos despedaçadas num acidente de que eu fora responsável. Disparara sobre ele para salvar Mwanatu que caminhava à frente de uma multidão prestes a assaltar o quartel defendido pelo solitário Germano.
Era imperioso apressarmo‑nos para Mandhlakazi, onde trabalhava o único médico em toda a nossa nação: o missionário Georges Liengme. Os protestantes suíços escolheram com critério um local para erguer o hospital: junto da corte do imperador Ngungunyane e longe dasautoridades portuguesas.
O remorso pesou sobre mim durante toda a viagem. O tiro desfizera uma boa parte das mãos do português, aquelas mesmas mãos que eu, tantas vezes, ajudara a renascer dos delírios que o afligiam. Os másculos dedos com que tanto sonhara tinham‑se evaporado.
Durante todo o caminho mantive os pés submersos no fundo encharcado da canoa, onde a água havia‑se tingido de vermelho. Diz‑se que morremos por perder sangue. É o inverso. Morremos afogados nele.
terça-feira, março 21
A arte de perder
Tantas coisas contêm em si o acidente
De perdê-las, que perder não é nada sério.
Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero,
A chave perdida, a hora gasta bestamente.
A arte de perder não é nenhum mistério.
Depois perca mais rápido, com mais critério:
Lugares, nomes, a escala subsequente
Da viagem não feita. Nada disso é sério.
Perdi o relógio de mamãe. Ah! E nem quero
Lembrar a perda de três casas excelentes.
A arte de perder não é nenhum mistério.
Perdi duas cidades lindas. E um império
Que era meu, dois rios, e mais um continente.
Tenho saudade deles. Mas não é nada sério.
Mesmo perder você (a voz, o riso etéreo
que eu amo) não muda nada. Pois é evidente
que a arte de perder não chega a ser mistério
por muito que pareça (Escreve!) muito sério.
Elizabeth Bishop
De perdê-las, que perder não é nada sério.
Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero,
A chave perdida, a hora gasta bestamente.
A arte de perder não é nenhum mistério.
Depois perca mais rápido, com mais critério:
Lugares, nomes, a escala subsequente
Da viagem não feita. Nada disso é sério.
Perdi o relógio de mamãe. Ah! E nem quero
Lembrar a perda de três casas excelentes.
A arte de perder não é nenhum mistério.
Perdi duas cidades lindas. E um império
Que era meu, dois rios, e mais um continente.
Tenho saudade deles. Mas não é nada sério.
Mesmo perder você (a voz, o riso etéreo
que eu amo) não muda nada. Pois é evidente
que a arte de perder não chega a ser mistério
por muito que pareça (Escreve!) muito sério.
Elizabeth Bishop
É duro ser judeu
Ladrão finge ser judeu ortodoxo, mas é preso. A tentativa de Reinaldo Rodrigues, 30, de se passar por um judeu ortodoxo não durou mais do que cinco minutos. Após roubar R$ 15 mil em dinheiro, relógios, telefones e equipamentos eletrônicos da casa de um rabino, o bandido apropriou-se de um chapéu da vítima e, achando-se com cara de judeu, tentou fugir. Foi preso em flagrante pelo sargento da Polícia Militar André Mario Destro. O sargento Destro notou que o homem do chapéu usava um terno claro -religiosos judeus usam vestimentas escuras-, não tinha barba nem peiót -cachinhos ao lado das orelhas. O PM apontou para a imagem de um candelabro de sete velas que aparecia em uma moeda encontrada em poder do ladrão. Perguntou qual o nome da peça. Rodrigues ficou mudo. "Eu disse: isso aqui é uma menorá, um dos símbolos mais fortes do judaísmo." Segundo o PM, o ladrão, que portava um revólver de brinquedo, confessou o crime.
Cotidiano, 13 de fevereiro de 2008
Pior que um fracasso, foi uma humilhação. A tentativa de passar por rabino resultara num fiasco, e em deboche por parte dos policiais e de outros presos. De modo que, tão logo cumpriu a pena, decidiu dar a volta por cima. Mostraria que podia, sim, desempenhar aquele papel. Mais: ganharia dinheiro com isso. Durante as longas noites de cadeia elaborara um cuidadoso plano. Não apenas passaria por judeu, como se intitularia chefe de uma seita judaica por ele próprio fundada. Com o dinheiro dos fiéis, faria fortuna.
Para isto, naturalmente, teria de adquirir os conhecimentos cuja falta o levara à prisão. Mas sabia como fazê-lo: procurou um velho judeu, que não sabia de sua história, disse que pretendia se converter e que por isso precisava aprender mais sobre o judaísmo. O ancião ficou surpreso, e sua primeira reação foi a de recusar: o rapaz deveria recorrer a alguém mais autorizado. Ele insistiu: sei que o senhor é um homem culto, um sábio e é com o senhor que quero aprender sobre judaísmo. O homem acabou concordando, e no dia seguinte começaram as aulas.
E havia muito o que aprender. Muito mais do que ele imaginava.
Para começar, toda a história do povo judeu, uma longa história, às vezes gloriosa, às vezes dolorosa, às vezes gloriosa e dolorosa ao mesmo tempo: os guetos, as perseguições, os massacres... Depois, os livros sagrados, a Bíblia, o Talmude. Ah, sim, e as prescrições religiosas: as orações, os alimentos que podia e não podia comer. Suspirou quando se deu conta de que carne suína, daí por diante, seria apenas uma lembrança - o que, para quem adorava um lombinho, era um sacrifício não pequeno.
"É duro ser judeu", dizia o mestre, e ele tinha de concordar. Mas era um cara teimoso; agora que começara, iria até o fim.
E ao fim ele chegou, meses depois. O velho e improvisado professor disse que nada mais tinha a ensinar e que o jovem, graças a seu esforço, se saíra muito bem. Sim, se ele quisesse, poderia se converter. "Só falta a circuncisão", disse.
A circuncisão. Como podia ter esquecido aquilo? Claro, a circuncisão era essencial: caso contrário, da primeira vez que ele estivesse com um fiel no mictório a farsa seria descoberta.
Mas era demais. Circuncisão? Para ele, demais. De modo que desistiu do plano. Está pensando em outras coisas. Arranjar um cartão corporativo, por exemplo.
Moacyr Scliar
segunda-feira, março 20
Assinar:
Comentários (Atom)