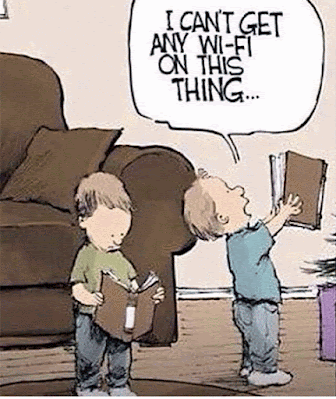E o que diz Rashi?
Eu amo Rashi.
Por quê? Porque sim.
Por causa de uma pergunta que ouvi e repeti durante anos e anos. "Un vos zogt Rashi?" E o que diz Rashi?
Como a maior parte das crianças judias de minha cidade, de todas as cidades judaicas do mundo extinto da Europa oriental, eu amava Rashi. Para nós, meninos e adolescentes judeus exilados, ele era um companheiro de viagem culto e sábio que nos guiava, primeiramente pelo Humash, ou Pentateuco, e depois pelo reino conciso da Mishna e pelo fascinante universo da Gemara. Eu o amava porque ele comentava o Talmude babilônio, mas não o palestino? Ele preferia os judeus da Diáspora, para quem o estudo funcionava como um elo nostálgico com uma pátria invisível, porém inviolável? Ele estava sempre ali, pronto para nos ajudar a decifrar uma palavra difícil, a compreender uma situação intricada, a assimilar uma idéia complexa. Rashi era o farol, o simplificador. Sem ele, o caminho que se estendia diante de nós muitas vezes era escuro e ameaçador.
Era isso o que eu pensava, quando era um pequeno kheider yingel, um aluno da yeshiva. Eu achava que amava Rashi porque ele facilitava a minha vida.
Hoje em dia ainda o amo - e até mais, porém por outro motivo. Eu o amo porque ele adora perguntas.
Veja como se inicia seu magistral comentário da Torá:
Amar Rabbi Itzhak - disse o rabino Itzhak. A Torá devia começar com a primeira lei imposta ao povo de Israel (referente ao calendário). Por que começa com a criação do Universo? Por esta razão, explica Rashi. Se um dia as nações do mundo dissessem ao povo de Israel: "Sois ladrões, pois conquistastes terras pertencentes a sete nações", o povo de Israel responderia: "O mundo inteiro pertence a Deus; e Ele o dá a quem bem entender. Ele tinha dado esta terra às outras nações, porém a tomou de volta e a deu para nós".
Eu sei: esse comentário pode suscitar uma interpretação política. Como se Rashi (nacionalista fervoroso?) estivesse anunciando ao planeta inteiro que a terra de Israel não pertence aos cristãos, nem aos muçulmanos, e sim ao povo de Israel. Sem essa propriedade legítima, não haveria, para os judeus cumprirem, mitzvot - mandamentos - relacionados com a terra e o Templo.
Não obstante, convém sermos cautelosos. Aqui o rabino Shlomo ben Itzhak, conhecido pelo acrônimo Rashi, não fala como político, nem como teólogo. Fala como? Retomaremos essa pergunta mais adiante.
Quem é esse rabino Itzhak que ele está citando? Rashi não o identifica. Um comentarista afirma que ele quis prestar homenagem ao pai, o rabino Itzhak, mencionando seu rico comentário sobre as Escrituras para desmentir os que o retratavam como um judeu ignorante. Verdadeira ou não, a teoria é tocante, mas não necessariamente esclarecedora. Pois tudo que sabemos sobre o rabino Itzhak é que era pai de Rashi e que Rashi o adorava.
O problema é que no Midrash Tanhuma encontramos um rabino Itzhak fornecendo-nos a mesma explicação sobre o versículo inicial da Bíblia.
Provavelmente Rashi tirou-a daí.
Ademais, um renomado estudioso, o rabino Haim David Azulai, cabalista-viajante do século XIX, escreveu que o pai de Rashi era um grande erudito e não precisava que o filho defendesse sua reputação. Conclui-se, portanto, que a referência não tem caráter pessoal?
Proponho ficarmos fora dessa discussão.
Por enquanto, só quero expressar minha gratidão ao pai por nos ter dado um filho de tamanha grandeza e tanta generosidade. Há oito ou nove séculos, todos nós estamos em dívida com Rashi.
O rabino Nahman, de Bratslav, chamou-o de "o irmão da Torá". Com efeito, para mestres e discípulos é como se a Torá e o comentário de Rashi fossem inseparáveis: ele continua sendo o companheiro de todos os que estudam e de todos os que ensinam. Sem ele, quantas vezes eu teria me perdido no grande labirinto do Talmude? Eventualmente, ao me confrontar com uma passagem obscura, surpreendo-me murmurando: "Un vos zogt Rashi? ". E o que diz Rashi? No mesmo instante, faz-se a luz sobre as palavras e seu significado.
Rashi é celebrado e amado até hoje graças à sua abordagem precisa e clara do que atualmente chamamos de análise textual.
E, no entanto, podemos afirmar, com segurança, que sua biografia está longe de ser precisa ou clara.
Como explicar o mistério que envolve alguns aspectos de sua vida? Não sabemos nem se ele era ashkenazi ou sefardim - não que isso tenha muita importância. Sua data de nascimento é tema de discussão entre os estudiosos. O ano mais citado é o de 1040. Por quê? Porque foi quando faleceu o ilustre Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, "a Luz do Exílio". E acreditamos que nenhuma geração se sustentaria sem um grande mestre em seu meio: quando o sol se põe, outro sol deve surgir. Também há quem situe o nascimento de Rashi em 1030, ou ainda em 1037. Mas ninguém sugere o mês ou o dia. Sabemos, contudo, a data exata de sua morte: 13 de julho de 1105 - ou, no calendário hebraico, o 29o. dia de tamuz do ano de 4865 após a criação. Essa informação consta de um manuscrito citado por Shimon Schwarzfuchs, erudito francês. E diz o seguinte:
O arco divino, o santo dos santos, o grande mestre Rabbeinu Shlomo - que o nome desse justo seja uma bênção e uma proteção para todos nós -, filho do santo rabino Itzhak o Francês, nos foi tirado na quinta-feira, 29o. dia de tamuz, no 4865o. ano da criação do mundo. Tinha 65 anos de idade quando foi chamado a morar na academia celestial.
Onde ele morreu? Infelizmente não se encontrou sua sepultura. Onde nasceu? Em Troyes? Em Mainz? Em Worms, talvez? Como no caso de Homero, mais de uma cidade o reivindica como filho.
Com relação a seu nascimento circularam várias lendas. Parece que seus pais possuíam uma pedra preciosa que continha uma luz rara, e a Igreja queria adquiri-la a qualquer preço. Receberam polpudas ofertas. Recusaram-nas. Coagidos e temerosos de cair em tentação, decidiram jogar a pedra no mar. Sua recompensa? Um filho cuja luz era ainda mais radiosa que a da gema.
Dizem que, ainda grávida, a mãe de Rashi caminhava por uma rua estreita e por pouco não foi atropelada por uma carruagem que avançava na direção oposta. Ela se apoiou numa parede e, em contato com sua barriga, a parede recuou - consta que até hoje se pode ver o nicho ali criado por seu ventre.
Segundo outra lenda, o rabino Itzhak temia não reunir um minyan para realizar a circuncisão de seu único filho. Não havia motivo. O profeta Elias, ou Abraão - ou ambos -, teria prazer em comparecer. Por causa do filho? Por causa do pai também. Mais tarde, seus contemporâneos o chamaram de ha kadosh, homem santo, porque ele morreu como mártir da fé.
Troyes tinha, na época, uma comunidade judaica de cento e poucas famílias.
A precocidade de Rashi não é ficção. Ainda jovem, ele deixou Troyes e foi para Mainz, onde estudou com os três grandes mestres locais - todos discípulos do Rabbeinu Gershom. Esses homens lhe deram acesso a suas anotações e, por meio delas, puseram-no em contato com os ensinamentos de seu falecido mentor.
Hoje em dia é difícil imaginar o impacto do Rabbeinu Gershom sobre seus contemporâneos. Ele era a autoridade haláquica e espiritual da Diáspora. Sua palavra era lei. O Rabbeinu Gershom proibiu a poligamia e a separação sem o consentimento da esposa. Também proibiu que se humilhassem os penitentes com a lembrança de antigos pecados. Outra proibição que leva seu nome: a de abrir correspondência alheia.
Uma tragédia ensombrou-lhe a vida. Seu filho foi obrigado a converter-se, e ele guardou luto. Porém nunca se tornou amargo. Era humanista demais para isso.
Rashi estudou com os rabinos Ya'akov ben Yakar - seu principal mentor -, Itzhak Halévy e Itzhak, filho do rabino Yehuda, cuja lápide, recém-descoberta, revela que ele faleceu no ano de 4824 depois da criação - 1063 ou 1064 no calendário gregoriano. Portanto, Rashi foi seu discípulo até o fim. Os três rabinos dirigiam academias talmúdicas, ou yeshivot. Na época, essas escolas tinham dimensões modestas e se localizavam na própria casa do rabino. Não havia necessidade de angariar fundos para mantê-las.
Aos 25 anos, Rashi voltou para Troyes. Casou-se, teve três ou quatro filhas - nenhum varão - e assumiu o posto de rabino e diretor de sua própria yeshiva. O que acarretava muitas responsabilidades. Embora não recebesse salário, ele tinha de subsidiar sua escola e seus alunos, procedentes de toda a França e da Renânia.
Por sorte, dispunha de meios para tanto. Era rico? Casou-se com uma moça de família abastada? Graças a seus vinhedos, que figuravam entre os melhores da Champagne, devia levar uma vida confortável. Mas e os dotes para as filhas? Miriam esposou o rabino Yehuda ben Nathan, e Yokheved se uniu ao rabino Meir ben Shmuel. Quanto a Rachel, seu casamento com um certo Eliezer acabou em divórcio. Famosa por sua beleza, Rachel recebeu o apodo de "Belle Assez", Assaz Bela. Os netos de Rashi se tornaram seus alunos fervorosos e influentes tossafistas. Entre eles estavam o Rashbam e o Rabbeinu Tam, que vivia de emprestar e cambiar dinheiro.
O Rabbeinu Tam era muito criança para estudar com o avô: tinha quatro anos de idade quando Rashi faleceu. Contudo, em mais de um aspecto, podemos incluí-lo entre seus discípulos.
Rashi era amigo de seus alunos. Correspondia-se com eles, assim como com outros mestres; nenhuma carta ficava sem resposta. No âmbito da Responsa, registraram-se 334 de suas decisões. Uma pergunta dirigida a ele provoca riso. Em uma comunidade onde há apenas uma sinagoga, que din (lei) vigora, se dois kohanim (sacerdotes), ambos hatanim (recém-casados), desejam ser o primeiro convidado a ler a Torá? A quem caberá essa honra? Naturalmente, uma comunidade que tenha apenas uma sinagoga é inimaginável. Rashi, porém, pensava em todas as situações possíveis. Em geral, alinhava-se com Hillel o Velho, a quem admirava pela moderação e pela tolerância. Nesse aspecto, seguia o Rabbeinu Gershom. Como ele, permitia que os anusim - conversos involuntários ao cristianismo - retomassem o judaísmo e proibia que os outros lhes lembrassem seu passado. Se o converso era um kohen, descendente de Aarão, ordenava que lhe restituíssem o status de sacerdote. Assim, nos dias festivos, o ex-converso podia abençoar a congregação.
Tudo isso é historicamente comprovado. No entanto, como freqüentemente ocorre com grandes personalidades, Rashi teve sua cota de hagiógrafos. Comentaristas imaginativos sustentam que ele viajou pelo mundo inteiro, visitou o poeta e rabino Yehuda Halévy na Espanha e o duque de Praga em seu castelo, e que Godofredo de Bouillon se apresentou a ele antes de partir com a primeira cruzada para libertar Jerusalém.
Seus admiradores estavam convencidos de que ele falava todas as línguas, dominava todas as ciências e possuía todos os poderes místicos necessários para tornar-se invisível.
Os autores hassídicos dedicam profunda afeição ao mestre que chamam de der heiliger Rashi - o santo Rashi. Acreditam que a própria Shekhina inspirou sua obra. Um deles chega a dizer que Rashi não morreu de morte natural. Em termos mais simples, não morreu. Subiu ao céu - vivo.
O rabino Yitzhak-Eizik, de Ziditchoiv, escreveu:
Quando Deus, bendito seja Seu nome, pôs termo às tribulações de Abraão e lhe ordenou que poupasse seu filho, já amarrado no altar, Abraão não deu ouvidos ao anjo que lhe transmitiu a ordem divina. Só obedeceu quando Deus lhe prometeu que um de seus descendentes seria um certo Shlomo, filho de Isaac ou Itzhak de Troyes.
Mas entre os seguidores de Rashi não havia só judeus instruídos. Teólogos cristãos também sofreram sua influência. O padre Nicholas de Lyre, que viveu no final do século XIII e começo do XIV, cita Rashi tantas vezes em sua tradução da Bíblia que um tal Jean Mercier, do Colégio Real de Paris, o teria chamado de "Simius Solomonis" - macaco de Shlomo. E por meio de Nicholas de Lyre Rashi influenciou Martinho Lutero, cuja tradução da Bíblia deve muito à dele. Hoje em dia, os lingüistas estudam Rashi por diferentes motivos. Graças a ele têm a oportunidade de redescobrir termos do francês antigo. Os que Rashi usou em seus vários comentários - be'la'az - somam 3 mil.
O que nós devemos a Rashi? Devemos-lhe o compromisso com a intrigante e indispensável arte do comentário.
Comentar um texto é, antes de tudo, estabelecer com ele uma relação de intimidade: exploro suas profundezas para captar seu significado transcendental. Em outras palavras, ao comentar um texto, elimino distâncias. Leio uma frase formulada pelo rabino Akiba, talvez lá no outro lado dos mares e dos séculos e, a fim de penetrar seu intento original, deixo-a percorrer outras frases para emergir em minha mente.
Comentar um texto, sobretudo um texto antigo, é saber que, embora nem sempre eu consiga chegar à verdade, posso chegar perto de sua fonte. É remontar às origens de uma palavra ou de um nome cujas raízes estão na Revelação do Sinai. O Talmude freqüentemente usa a expressão Halakha le' Moshe mi' Sinai - a Lei transmitida a ou por nosso mestre Moisés no Sinai. Maimônides também a emprega. Sua especial importância consiste em encerrar o debate. No momento em que identificamos a gênese de uma decisão, devemos nos dar por satisfeitos. E todo o resto é comentário.
Em hebraico, comentário é perush. Mas o verbo lifrosh também significa separar, distinguir, isolar - ou seja, separar a aparência da realidade, a clareza da complexidade, a verdade de seu disfarce. Descobrir a substância - sempre. Descobrir a centelha, eliminar o supérfluo, afastar a obscuridade. Comentar é resgatar do exílio uma palavra ou uma noção que pacientemente esperavam fora do reino do tempo e dentro dos muros da memória.
Quando rezamos, dizia o falecido Louis Finkelstein, falamos com Deus; quando estudamos, Deus fala conosco. Se estudo é descoberta, comentário é aventura. Quando começo a escavar os recessos de um texto, descobrindo uma camada após outra, encontro predecessores que apontam o caminho. Atrevo-me a ir mais longe e mais fundo que eles? Isso é possível? Um comentarista moderno pode superar Rashi? Não - e, no entanto, somos incentivados a superá-lo. Qualquer estudioso pode comentar os comentários de Rashi para melhor entender um versículo bíblico ou uma passagem talmúdica. Assim, o processo do comentário nunca termina.
Mas como identificar a interpretação correta? Observando se ela enriquece a memória. Se a distorce, a interpretação é errada. Em outras palavras, um excesso de imaginação pode danificar o pensamento original. Para entender Isaías, devo procurá-lo na poesia majestosa e geralmente brutal de seus discursos públicos. Para apreender os preceitos de Hillel, devo mergulhar em suas lições e manter-me leal a elas. Como em tudo o mais, em termos de comentário a palavra-chave é lealdade.
Elie Wiesel, "Homens sábios e suas histórias"